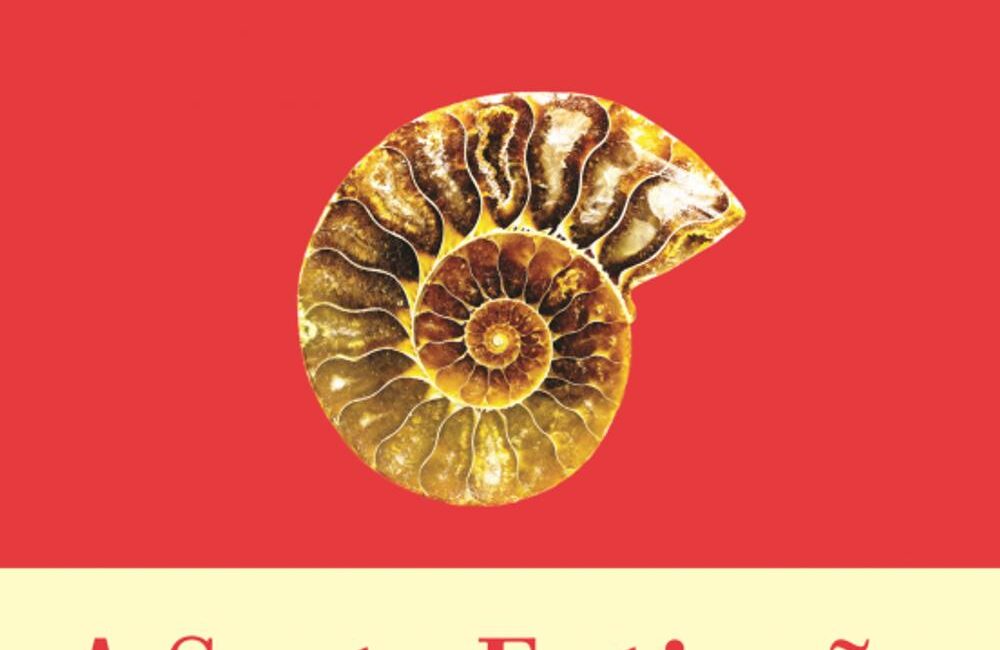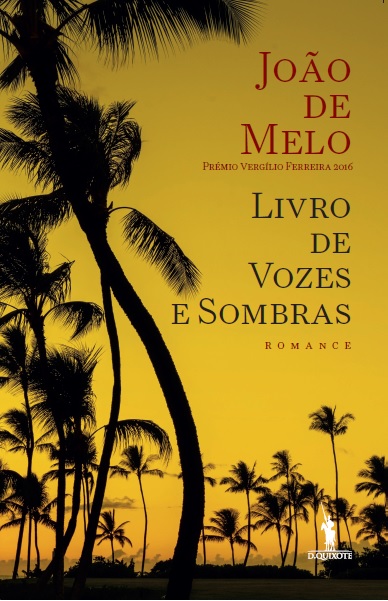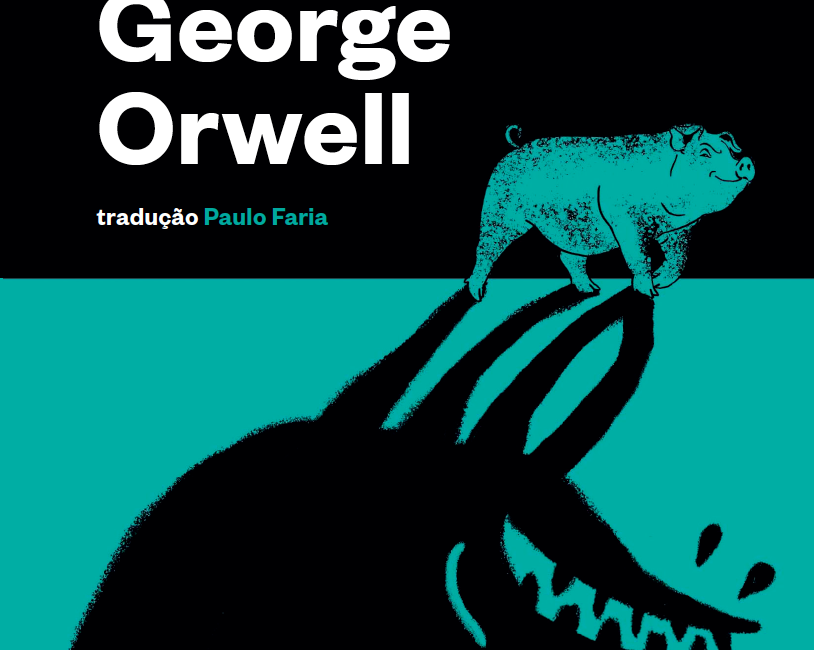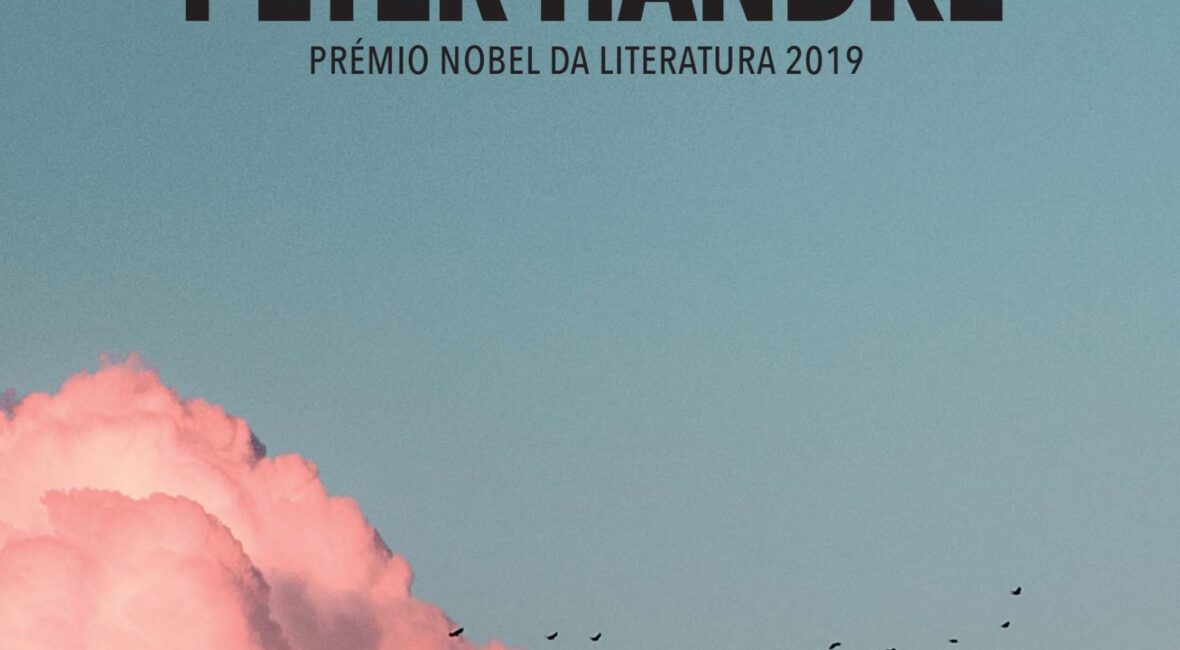Andei literalmente a namorar este livro uns anos, até que nestas festas houve finalmente oportunidade de o agarrar – e com a sorte de estar disponível em duas bibliotecas municipais (Faro e Loulé).
A Sexta Extinção, de Elizabeth Kolbert, publicado pela Elsinore em 2014, é uma leitura recomendada por Yuval Noah Harari, Al Gore, Bill Gates e Barack Obama, entre outras personalidades mundiais. Venceu o Prémio Pulitzer, foi finalista do National Book Critics Award, e é considerado um dos livros de divulgação científica mais relevantes dos últimos anos.
Em registo de reportagem, a autora dá-nos conta das suas andanças pelo mundo, combinando resultados de uma extensa investigação no terreno com a apresentação do trabalho de geólogos, botânicos e biólogos marinhos. Este documento inédito é sobretudo um apelo urgente que apresenta como nos encaminhamos inexoravelmente para uma sexta extinção:
«Estima-se que um terço de todos os corais de recifes, um terço de todos os moluscos de água doce, um terço dos tubarões e raias, um quarto de todos os mamíferos, um quinto de todos os répteis e um sexto de todas as aves estejam a caminhar para o extermínio. As perdas ocorrem por todo o lado: no Pacífico Sul e no Atlântico Norte; no Ártico e no Sahel, nos lagos e nas ilhas, no topo das montanhas e nos vales.» (p. 31)
Nesta era que se pode designar como a do Antropocénico, e entre muitos outros aspectos aqui registados, um dos aspectos mais curiosos e preocupantes é, a meu ver, a forma como o ser humano iniciou um processo de remistura da flora e da fauna, que acelerou com a migração humana nas últimas décadas, e provoca que em algumas partes do mundo as espécies não-nativas suplantem as nativas – muitas vezes, extinguindo-as. Calcula-se, por exemplo, que em 24 horas cerca de 10 mil espécies diferentes sejam transportadas pelo mundo nas águas do lastro dos barcos (p. 249). Isto tem implicações inclusivamente nos organismos patogénicos e nos seus novos hospedeiros (veja-se como o coronavírus rapidamente se espalhou por todo o glope, com a nova estirpe originada no Japão já presente em lugares como a Amazónia).
Nos últimos 500 milhões de anos, a Terra passou por cinco extinções em massa, nas quais a diversidade da vida no planeta se reduziu drástica e subitamente. Atualmente, e pela primeira vez na História, decorre um processo de extinção em massa provocado por uma única espécie, o Homem, e é também o Homem, ou alguns deles que aqui ganham voz, que ainda está a tentar combater o tempo. Ver artigo
O Plantador de Abóboras, de Luís Cardoso Ver artigo
São 12 pequenas histórias, com frases concisas, em parágrafos espaçados, quase esparsos, no branco da página, como gotas que vão pingando delicadamente a compor fragmentos de um mosaico. Sem se deter em pormenores, mas desenhando um cenário bastante plausível.
Um livro que foi pensado sobretudo para ser lido na Radio 4 da BBC, pensadas pelo autor como «um conjunto de narrativas interligadas que se reunissem num fundo comum à medida que as histórias fossem vertidas para o papel» (p. 167), para leituras de 15 minutos num programa radiofónico de domingo à tarde.
O tráfego aéreo praticamente desapareceu. O sol aparece pouco. As libélulas são uma das muitas espécies em extinção. O peixe tornou-se algo raro numa rede de pesca. São cultivados jardins verticais ou nos telhados e canteiros de legumes nos terraços. As zonas costeiras estão a ser submergidas pelo avanço da água enquanto os icebergues se soltam da calota de gelo. Paradoxalmente, a Água é um bem escasso, agora conduzida para as cidades em comboios que transportam 45 milhões de litros de água a uma velocidade de 320 quilómetros por hora. Pescam-se icebergues gigantes com arpões como se fossem baleias para serem rebocados até ao centro de cidades mais pequenas para abastecimento de água doce. Famílias desalojadas para o início da construção da Doca de Gelo, cujos canais de escoamento, de estilicídio, se destinam a servir de veículo ao gelo derretido. São pendurados sacos no meio das árvores e arbustos que permitem recolher a água que as plantas respiram; água que pode ser suficiente para fazer um café.
Estilicídio rima ainda com a palavra suicídio – como é o caso da morte próxima da espécie humana, num livro que poderia ser apelidado de uma distopia, não fosse o facto de se tratar de uma «poderosa e urgente visão do futuro» (The Guardian).
Cláudia Lourenço, jornalista, é enviada de Lisboa à ilha de São Miguel ao serviço do jornal “Quotidiano” para entrevistar um conhecido ex-operacional da Frente de Libertação dos Açores. A partir dessa narrativa condensa-se gradualmente a história da Ditadura, do fim das guerras em África, a descolonização, a diáspora portuguesa e o «retorno» a casa, quase sempre intranquilo.
1 – A jornalista Cláudia Lourenço, mais confidente do que protagonista, pertence a uma nova geração pouco conhecedora da história não muito remota de Portugal. É um ajuste de contas com o passado, mas também parece constituir um final de um ciclo na sua obra para, naturalmente, abrir novo ciclo.
R – Quando olho para trás, para os livros que até hoje escrevi, nunca vejo ciclos nem outros caminhos programáticos da minha escrita. O meu passado decide-se entre boa ou má literatura. Daí ter repudiado os primeiros livros: de quando absorvia o mundo dos outros através da leitura. Só me senti “escritor” a partir de O Meu Mundo Não é Deste Reino, um romance que Você conhece muito bem. Porquê? Se descobrimos uma linguagem dentro de nós, associamos-lhe uma geografia íntima e uma possibilidade existencial para o mundo dos outros. Este de agora é um livro que se explica e justifica a si mesmo: tinha de ser escrito, só eu podia fazê-lo. Não o concebo de outra maneira. Nem faço ideia, ainda, do que irei escrever a seguir.
2 – Este é também o seu romance mais metaficcional, aliado à reflexividade da história, que cruza Açores, Portugal e África colonial. Não será por acaso que a jovem jornalista vem da metrópole, capaz de oferecer um olhar crítico externo às ilhas.
R – Concordo. Houve a preocupação de contextualizar no mesmo tempo narrativo a memória de três lugares distintos entre si, todos eles complementares em relação à “crónica” e à recuperação da memória histórica ainda recente. Açores, Lisboa e África são geografias muito próprias, ainda que tangidas pela mesma vitalidade da mudança política. O golpe de Estado e a Revolução de Lisboa abriram portas às “independências contraditórias” dos Açores e das Colónias africanas. Se me tivesse cingido ao caso da FLA, haveria a ilusão de pensar-se que tudo acontecera como por geração espontânea, não como causa e consequência do fim da Ditadura e do Processo Revolucionário. Da mesma forma que se concertam três geografias narrativas, também pretendi opor duas gerações no conhecimento desse passado ainda tão recente, porém ignorado pela nova juventude portuguesa. Aproveito para acrescentar o seguinte: este livro abre-se a todas as gerações de leitores. Só elas o podem entender e completar à sua maneira e à medida de cada uma.
3 – A escrita deste livro representa um acto de coragem, o risco de confundir a ironia com a sua opinião dos factos. Nomeadamente quando tece toda uma crítica à guerra colonial pela óptica de um branco colonizador que a defende (p. 51), ou na pessoa de Mariano, que por lá combateu, quer na de Custódio, latifundiário, explorador colonialista com características próximas do animalesco (descrito como “touro” na pág. 156). Este é um ponto de vista que se reparte entre vencedores e vencidos, uma visão crítica dicotómica a apontar a complexidade histórica da mudança: «a história mudava de uma margem para outra da razão» ( pág. 360).
R – Podemos, antes, falar de uma espécie de “jogo”. O jogo da ficção sobre as verdades históricas, em que ambas (ficção e realidade) se invocam e provocam com frequência. Mas eu pertenço a uma ideia ou escola de literatura quase sempre motivada na ousadia social e na ética do compromisso com o mundo. Gosto dos livros que suscitam diversas leituras. Não me interessa a unanimidade. Uma das coisas que mais me atrai na literatura é, como no meu caso, criar narradores. Que se contradigam, que sejam como que um inventário de ideologias opostas.
4 – Como o título indica, as vozes têm um peso imenso neste romance polifónico. O lexema vozes é recorrente na narrativa: as vozes do povo, dos Açores, etc. A perspectiva muda diversas vezes entre a primeira e a terceira personagem, temos diversas personagens que em algum momento se tornam centrais e a perspectiva da voz narrativa oscila de acordo com o ponto de vista de cada uma dessas personagens, recorrendo ao discurso indirecto livre e acedendo à sua voz interna. Temos ainda um narrador que de vez em quando fala directamente com o leitor (p. 83), ao mesmo tempo que percebemos como a entrevista de Cláudia a Mariano dará origem a um livro feito a partir das histórias deste mosaico.
R – A minha ideia era justamente acordar as vozes portuguesas que tudo viveram até ao 25 de Abril e depois, e que aos poucos foram recuando no meio de nós, a ponto de se calarem. Este livro quer provocar o clamor, trazer de volta a palavra, a dor e revolta. E a justiça, também. Refiro-me a um processo português global. Não se trata de um livro “açoriano” strictu senso, mas de uma paisagem protegida da nossa vida colectiva – em Lisboa, na África e nos Açores ao tempo em que conceberam um sonho independentista à direita de toda a política. Qualquer leitor que entre no livro entra também nesse jogo narrativo. Creio que a linguagem flui, que não se ocorre no obscurantismo nem num mero exercício de estilo. Concorda?
5 – Claro. Tanto que a própria entrevista rapidamente se torna uma conversa, uma narrativa com vida própria e cronologia desfasada, em que, como convém, a voz da jornalista se silencia. Apenas sabemos das suas questões através da voz de Mariano.
R – Quem é Mariano? Quem é a jornalista Cláudia Lourenço? Podia dizer, como Flaubert disse da sua Madame Bovary, “sou eu”. Esses os ingredientes e mistérios da ficção. Tal como eu, cada um pode ir buscar a este Livro de Vozes e Sombras a voz e a sombra da própria pessoa.
6 – Não só volta ao Rosário (p. 79), como retoma a atmosfera do seu romance sobre o Rosário. Ele representa aqui, uma vez mais, o arquipélago?
R – A povoação do Rosário pode ser, tanto neste como noutros livros que escrevi, o meu Macondo (salvo seja); ou o masculino simbólico de Achadinha, a terra açoriana em que nasci, para melhor se identificar com Portugal (nome masculino). Será sempre um lugar inserido na corrente contínua do tempo histórico. Nessa medida, já o referi como “Rozario”, “Rozário” e na sua grafia actual. A sua descrição não é muito distinta de outras aldeias açorianas. Interessa é que a sua representação seja endossada ao leitor. Não tenho nenhum sentido de posse sobre os lugares da minha ficção.
7 – Nova Roma parece ser igualmente um cenário atópico, entre a ficção e o real, ao jeito do Rosário. Ou mesmo Munakala. A África colonialista, uma África nunca nomeada (porque será?) mas que se toma por Angola (na referência aos musseques).
R – Tem razão. Aparentemente, Nova Roma não existe, mas pode intuir-se sob outros nomes: como a “Nova Lisboa” de Angola, por exemplo. Por outro lado, talvez que Munakala seja o eco perdido de Calambata, o aldeamento em que se situava o quartel da minha guerra colonial. Assim sendo, não me escondo daquilo que escrevo; mas só em parte o revelo em termos pessoais. Nunca pretendi ser um autor autobiográfico. Sou apenas uma peça e um enigma do jogo. Acrescento: no livro nunca se menciona o nome de “Angola”; é sempre a Colónia. O propósito era identificar o colonialismo português. Mariano, sim, conta a sua paixão pela Guiné-Bissau: esse capítulo é fulcral para a caracterização ideológica dele.
8 – Além dos temas que lhe são recorrentes, e do léxico que lhe é caro, este livro parece subsumir anteriores títulos seus… quase como um mosaico do conjunto da sua obra. A começar pelo Rosário, passando pela guerra colonial, temos ainda o vinho como estimulante da verdade, os anjos, os vencidos.
R – Isso pode ser claro como água corrente; ou ser uma parte fictiva da chamada “unidade da obra”. Tenho formação em Filologia Românica, fui professor da hermenêutica textual. Podia muito bem escrever uma tese em sede própria. A quem interessaria? Nem ao próprio eu. Já estou numa fase da vida em que cada vez me interessam mais as leituras múltiplas dos outros. Fico-me com a minha pequena, quem sabe se inútil, “mitologia” literária. Só isso me pode individualizar entre outros escritores e ser eu próprio “uma voz” literária.
9 – Uma das personagens, combatente da guerra colonial, tenta purgar-se do trauma da guerra transferindo a sua memória para «cinco cadernos escritos à mão» (p. 57). Foi isso que de certa forma deu origem aos seus dois primeiros romances, depois reescritos em “Autópsia”?
R – Não, nada. A personagem Mariano deste livro oscila entre o linear pessoal e a complexidade do ser, do carácter e sobretudo da ideologia colonialista. Quanto a mim, o chamado “stress pós-traumático de guerra” levou-me a escrever tudo o que vivi em tempo de guerra em Angola. Vim de lá desiludido, cheio de mágoa e muito perturbado. Só a literatura me pôde valer. Costumo dizer, aliás, que nós, o da geração da guerra colonial, fomos para África uns e voltámos outros, diferentes de nós mesmos. Nesse sentido, foi um privilégio assumir a condição da escrita e regressar à vida verdadeira depois da guerra. Trago-a ainda na pele e nos ossos, pois como disse o poeta René Char, “há guerras que não acabam nunca”.
10 – Ângela Mendes Pinto parece ser a personagem central ou fio condutor destas histórias. Uma espécie de anjo cego da História, que nos guia pelo livro, mesmo quando parece desaparecer dele para depois regressar. É esta cega – de visão clarividente e sentidos sobreapurados – uma metáfora da necessidade de olharmos mais para dentro face ao ruído dos tempos?
R – Ora aí está! O nosso povo diz que “a verdade vem da boca dos inocentes”. Também eu quis acreditar na cegueira de Ângela como mecanismo de uma visão outra do nosso mundo. A cegueira dela é, simultaneamente, a sua inocência e a descoberta de novas formas de verdade. Lembra-se de quando, ao abandonar Nova Roma com a família de regresso a Portugal, ela jura ver milhões de mortos espalhados pela cidade? Essa é a Ângela histórica a falar. A consciência e a culpa. Fala pelo lado avesso da epopeia portuguesa. Só ela “vê” a derrocada histórica de um império que afinal nunca existiu.
11 – Para um leitor mais atento, o apelido Mendes Pinto é claramente um piscar de olhos que reforça este livro como uma antiepopeia da história portuguesa das últimas décadas, a partir da descolonização e da revolução de Abril. E tal como Fernão Mendes Pinto que procura contar o reverso da expansão portuguesa, este seu livro é dedicado à sua neta para quando ela o poder ler e compreender.
R – Nós, portugueses, precisamos de sair de “Os Lusíadas” heróicos e assumir o pícaro da nossa “Peregrinação”, dentro e ao redor de nós mesmos. É por complexo de inferioridade que nos exaltamos no heroísmo do passado; nunca por nunca nos referimos à nossa condição de piratas do mar e da terra; nem nos penitenciamos da feroz Inquisição que tanta gente torturou brutalmente e mandou arder nas suas fogueiras; nem do tráfego de escravos de África para o Brasil, aos milhões. Na minha ideia, cabe à literatura nomear a vítima e resgatá-la do esquecimento. Faço-o por sistema, de livro para livro. Também tenho uma ideologia histórica.
12 – A certa altura Mariano diz à jovem jornalista: «– É muito jovem, vive num mundo novo, não tem obrigação de o saber. O seu tempo português resulta dos fardos que nós carregámos, para que a sua geração se risse dos excessos de memória e de uma experiência que a geração seguinte julga ser coisa de taralhoucos: velhos a matutar em utopias que já não servem para nada.» (p. 52)
Partilha desta visão desencantada?
R – À minha maneira sim, nunca à de Mariano. Acontecem perdas contínuas entre nós, de geração para geração. Refiro-me ao caso português. Os nossos jovens não têm consciência dos sacrifícios que marcaram a vida dos avós e dos pais. E não fazem ideia de como Portugal subiu da miséria miserável e da exploração laboral para a libertação do 25 de Abril, para um talvez notável progresso económico, a liberdade individual e a democracia social. Conheço os novos problemas da nossa juventude, com a qual sou sempre solidário. Mas gostaria de ver nela mais cultura, mais livros, um sentido crítico e sobretudo auto-crítico do seu inconformismo.
13 – Em jeito de conclusão, qual é hoje a sua relação com os Açores? É um local onde ainda regressa por imperiosa necessidade ou sente que nunca de lá saiu?
R – Os Açores são o que sempre foram para mim. O lugar que me completa. O sítio do regresso perfeito. Devo a essa idealização a fonte de onde mana o meu desejo de criação pela literatura. O propósito foi sempre o mesmo: impor as ilhas como imaginário da Literatura Portuguesa, não como regionalismo, antes como simbologia do humano universal. Se olhar para um planisfério, verá que todo o Mundo é um arquipélago, sendo os continentes ilhas muito grandes e as outras fragmentos verdadeiros da mesma natureza. O humano não tem de ser geográfico, e sim global, ontológico, no sentido em que todo o ser apenas tem sentido quando visto à escala ou à medida do planeta Terra. Daí para baixo, é o chão, o barro, a pedra, a contingência da nossa passagem por aqui. Muito obrigado.
João de Melo
(Lisboa, 27 de Dezembro de 2020)
Escrita em 1945, esta obra revela como o comunismo na Rússia e na Europa de Leste assumiu cada vez mais a aparência de uma nova sociedade de classes. Fábula satírica, que em tom ligeiro, muito subtil, e com momentos divertidos, tão cómicos quanto trágicos, nos conta, ao jeito de uma «história de encantar», como os animais da Quinta do Infantado se revoltam contra os humanos e depois se tornam na mais próspera unidade de produção rural dos arredores. Mas os porcos rapidamente submetem os outros animais a uma ditadura, explorando-os e levando-os a trabalhar mais e mais. E o que é sublime é a forma como esta escravatura decorre sempre na plena inconsciência de todos os animais, à parte do ajuizado burro que é quem mais enxerga.
Esta edição mantém o compromisso assumido na de 2008, explica o tradutor, e continua a renegar o título panfletário O Triunfo dos Porcos, honrando o desejo de Orwell de contar, a crianças e adultos, «uma história de encantar». E é precisamente como uma história de encantar que o livro pode ser lido, apesar da leitura política subjacente, até porque «os animais da quinta tinham o hábito um pouco palerma de se tratar uns aos outros por “Camarada”» (p. 145). Ao contrário de outras traduções saídas este mês, o tradutor assumiu a ousada e sábia decisão de traduzir para português todos os nomes próprios das personagens (Napoleão, Trovão,…) e lugares (Benquerença), o que só enriquece o texto, tornando a sua leitura intemporal.
Dividido em três partes, o autor passa em revista, na primeira parte, os últimos 80 anos, de 1937 a 2020 (ano em que o livro foi terminado e publicado), começando quando aos 11 anos vagueava em busca de fósseis como amonites. Passando por diversos anos cruciais na sua vida, do seu percurso de estudante de Ciências Naturais a produtor da BBC, o autor cinge-se sobretudo à sua relação com o mundo natural, no que foi observando nas suas várias expedições, enquanto testemunha de um mundo que se tornou cada vez mais pequeno e menos selvagem, conforme o ser humano continuou a assumir que este era o seu planeta e podia explorar os seus recursos ilimitadamente. Na segunda parte, a mais breve, é feita uma projecção da evolução do nosso impacto no mundo nas próximas décadas, se não encontrarmos forma de aligeirar a nossa pegada. Na terceira parte, e a mais cativante, revela como podemos ajudar a repor a biodiversidade do planeta, de modo a alcançar uma estabilidade autosustentável, num período em que começámos finalmente a perceber que existe uma associação entre vírus emergentes e a morte do Planeta (p. 132). Com exemplos fascinantes de diversos países, como a Nova Zelândia, e com dados precisos e actuais de vários relatórios, o autor deixa-nos neste livro, de leitura fácil e acessível, um derradeiro apelo. Depois de anos a falar em sítios como as Nações Unidas ou o Fundo Monetário Internacional, o autor dirige-se directamente a cada um de nós numa chamada final à consciência que ainda podemos revelar nos mais pequenos passos de forma a salvar não o mundo mas a nós mesmos, pois o mundo, esse, é certo que encontrará forma de nos sobreviver, regenerando-se, como já aconteceu nas anteriores 5 extinções.
Uma nota final para este livro enquanto objecto. Um belíssimo livro, pesado, em papel reciclado, de páginas densas, olorosas, enriquecido por belíssimas fotografias coloridas e diversas outras ilustrações.
Ao jeito de um diálogo platónico, quase numa estrutura de pergunta-resposta, pergunta essa que funciona na verdade como um refrão, Peter Handke tenta escrever um ensaio, à maneira de uma conversa entre um eu e um tu que são afinal o reverso dele mesmo.
«Quem viveu já um dia conseguido? À partida, a maioria não hesitará talvez em afirmá-lo. Será, pois, necessário continuar a perguntar. Queres dizer “conseguido” ou apenas “belo”? É de um dia “conseguido” que falas, ou de um — igualmente raro, é verdade — “despreocupado”? É para ti um dia que decorreu sem problemas já um dia conseguido? Vês alguma diferença entre um dia feliz e o conseguido?» (p. 10)
Entre o dia, o instante e a eternidade da vida, Peter Handke discorre sobre a (im)possibilidade de se cumprir, de se completar (para usar uma palavra das narrativas antigas) um dia que seja perfeito. E para isso, apesar de se chamar ao presente texto um ensaio, conforme o título aponta, Handke devaneia entre as epístolas de S. Paulo e as narrativas ao jeito de Ulisses (de Joyce), num dia cheio de perigos (como as aventuras vividas por Odisseu no seu regresso a casa), incorrendo na narrativa – pois à reflexão do pensador são altercados pedaços de prosa, muitas vezes poética, em que na verdade se narra mais do que se reflecte, como quem procura recriar esse dia conseguido, num «ensaio de uma crónica» (p. 41).
Será correcto confundir um dia conseguido com um dia perfeito? Quererei eu, na «luta com o anjo do dia», «com o cometimento do dia conseguido, tornar-me semelhante a um deus?» (p. 25)
Um dia aliás muito próximo do Outono ou do Inverno da vida – conforme o subtítulo deixa perceber: Um Sonho de Dia de Inverno. Talvez porque a ideia de um dia conseguido não passe afinal de um sonho.
«Será que, por uma vez, deveria ter permanecido em casa o dia inteiro, sem fazer nada além de morar? A consecução do dia pelo simples morar? Morar: estar sentado, ler, erguer os olhos, resplandecer em inutilidade. Que fizeste hoje? Ouvi. Que ouviste tu? Oh, a casa. Ah, sob a tenda do livro. E porque sais agora de casa, se com o livro tinhas encontrado o teu lugar? Para seguir o lido, ao ar livre.» (p. 47-48)
Peter Handke nasceu em 1942, em Griffen, na Áustria. Frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Graz, que abandonou em 1963, após o êxito da sua primeira obra, Os Moscardos. Tornou-se rapidamente um dos autores de língua alemã mais conhecidos e traduzidos, embora muitas vezes envolto em polémica, em particular quando em 2019 recebeu o Prémio Nobel da Literatura «por um trabalho influente que, com criatividade linguística, explorou a periferia e especificidade da experiência humana». Escreveu romances, ensaios, poesia, obras de teatro, guiões cinematográficos de filmes de Wim Wenders como As Asas do Desejo. Dele li o guião (publicado pela Difel em 1976) e vi o filme A Mulher Canhota.
Da Relógio d’Água estão traduzidos (e à minha espera na estante) A Angústia do Guarda-Redes antes do Penalty e O Chinês da Dor, assim como o recentíssimo A Ladra de Fruta (publicado em 2019, cuja leitura seguir-se-á em breve).
Seja na infância, seja na adolescência, ou no caso de alguns leitores inveterados, no resto dos seus dias, consigo recordar certos períodos da minha vida mediante uma memória associativa do livro que estava a ler então, assim como do sítio em que o lia, não sentado na poltrona com um manto de rosas brancas de croché como Proust mas usualmente sobre a cama (e ainda hoje a minha zona lombar se ressente das longas horas de leitura deitado de barriga para baixo). A vantagem do leitor perante um Proust infante é óbvia, pois não se corre o risco de ter de interromper a leitura ao ser chamado para o «demorado» almoço (p. 10) ou ter de esperar pela autorização dos pais ou de acender uma vela durante a noite para incorrer numa insónia. Mas independentemente do livro em que estejamos imersos, e de quão profundo o mergulho, é também a «imagem dos lugares e dos dias» (p. 19) em que fizemos tais leituras que perdura, como o autor comprova ao dissertar durante 20 páginas sobre tudo o que o rodeia, e o emoldura, e não propriamente a leitura ou o livro aberto. A sensação que temos ao ler este ensaio, de início, é aliás como estar novamente imerso na leitura de Do Lado de Swann, primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido (nessa belíssima tradução musicada de Pedro Tamen, também publicada pela Relógio d’Água), quando o narrador nos reconduz pela memória da sua infância. E também não falta a estas páginas uma certa sinestesia proustiana, quando ao som dos sinos associa o odor dos bolos açúcarados. Conforme afirma o autor, ao querer falar delas, as leituras, «falei de coisa completamente diferente dos livros porque não foi deles que elas me falaram. Mas talvez as recordações que me trouxeram uma atrás da outra tenham elas mesmas despertado no leitor e o tenham pouco a pouco levado , enquanto se demorava nesses caminhos floridos e cheios de rodeios, a recriar no seu espírito o ato psicológico original chamado Leitura» (p. 21). A partir daqui, naquela que é a segunda metade do ensaio, quebra-se um pouco a magia do poder evocativo da leitura em paralelo com a revivificação da memória conforme o autor decide alinhavar as suas «poucas reflexões» que lhe restam. Entre Ruskin e Racine, passando por outros autores e também pintores – porque estes nos ensinam «à maneira dos poetas» (p. 26) –, Proust destila os seus pensamentos sobre «o papel ao mesmo tempo essencial e limitado que a leitura pode desempenhar na nossa vida espiritual» (p. 26), ao mesmo tempo que alerta certos leitores mais vorazes (não vou dizer nomes…) para os perigos da leitura, quando esta ao invés de despertar o espírito, a inteligência, tende a substituir a vida.
O autor, um dos mais controversos pensadores da nossa época, começa por discernir entre a alta cultura e a cultura comum, e procura desvelar como a alta cultura se tornou no substituto da fé no mundo descrente produzido pelo Iluminismo: «Desde o Iluminismo, os filósofos têm-se debruçado sobre o valor da alta cultura (nem sempre utilizando esse termo para a designar): o que é que aprendemos, em rigor, quando estudamos arte, literatura, história e música?» (p. 33)
Scruton distingue três tipos de saber: saber que, saber como e saber o que, argumentando que a cultura comum nos diz como sentir e o que sentir, enquanto que a alta cultura, tal como a religião antes, «trata a questão que a ciência deixa sem resposta: a questão de o que sentir» (p. 35).
Scruton está ciente da controvérsia que os seus argumentos irão gerar, de que o acharão absurdo e que a sua visão é muito pouco pós-moderna. O autor considera até as críticas tecidas à primeira edição do livro, por fazer pouca menção à fotografia, cinema e televisão (áreas fortes da cultura popular moderna), e responde com humor que fez a devida pesquisa, descobrindo o que dizer sobre televisão, sendo agora capaz de «discorrer com erudição sobre comida de plástico, bonés de basebol e Cadillacs platinados» (p. 11). E sempre com humor, e não poupando críticas à cultura moderna, em particular à música pop, Scruton ajuda-nos a enxergar como a «nossa existência é transfigurada pela arte» (p. 62) e como a (alta) cultura nos ensina a ética de viver «como se as nossas vidas importassem para a eternidade»: «Devemos ser inteiramente humanos e, ao mesmo tempo, respirar o ar dos anjos; naturais e, simultaneamente, sobrenaturais.» (p. 31)
Passo a passo, o autor tenta não deixar nenhuma ponta solta, e cada uma das suas ideias se encadeará perfeitamente num raciocínio lúcido e transparente, não deixando de focar questões bem prementes no ensino hoje, em particular na área dos estudos literários (até porque é especialmente sobre a literatura que o autor se debruça). O exemplo paradigmático de como alta cultura e religião se entrelaçam reside sobretudo na literatura, havendo lugar a uma apologia do cânone: «Se é esperado que os estudantes leiam e analisem textos literários, certamente deverá existir algum acordo que defina quais os textos que devem ser estudados. Se qualquer texto servir, nenhum texto servirá. (…) Porém, quando os jovens crescem sem um texto sagrado, têm dificuldade em compreender que o segredo da vida se possa encontrar numa coisa inanimada, como um livro; sobretudo, se for um livro escrito há milhares de anos e numa língua que já não se fala.» (p. 38)
Roger Scruton é filósofo e escritor. Foi Professor de Estética no Birkbeck College, Londres, e Professor Visitante no Boston College, nos EUA.
A Medida do Mundo é um delirante romance (ao jeito de Kehlmann) que pode ser lido, de rajada, como uma fábula do Século das Luzes. Alternando entre os percursos de dois gigantes do Iluminismo alemão, Alexander von Humboldt e Carl Friedrich Gauss, a narração começa quando os dois eminentes sábios se encontram em Berlim, no ano de 1828. Na verdade, a narrativa centra-se mais em Humboldt, aristocrata e asceta, um dos fundadores da moderna geografia graças às suas incansáveis explorações pelo mundo:
«No caminho para Espanha, Humboldt mediu todas as colinas. Subiu a todas as montanhas. (…) Pessoas da terra, que o observaram a fixar o sol através da ocular do sextante, pensaram que ele era um pagão que adorava os astros e apedrejaram-no, de tal modo que foram obrigados a saltar para os cavalos e partir a galope.
(…) Uma colina cuja altitude não era conhecida deixava-o perturbado e inquieto. Uma pessoa não podia seguir sem determinar sempre a própria posição. Não se devia deixar ficar pelo caminho um enigma, por mais pequeno que fosse.» (p. 32-33)
Para Humboldt, cujas indagações o levam até aos confins da América do Sul e pela Rússia quase até à China, tudo no mundo tem de ser compulsivamente medido. A certa altura, o seu colaborador pergunta-lhe mesmo se ele tinha de «ser sempre tão alemão?» (p. 59)
Gauss, o Príncipe das Matemáticas, um génio desde criança, prefere ficar sentado a fazer cálculos. Apesar das diferenças que os separam, têm em comum o anseio de compreender o mundo através de fórmulas verificáveis pela Razão: «Sonda-se o universo com telescópios, conhece-se a formação da Terra, o seu peso e a sua órbita, a velocidade da luz já foi calculada, já se conhecem as correntes do oceano e as condições da vida (…) Já se divisa o fim do caminho, a medição do mundo está quase concluída.» (p. 173)
Uma deliciosa narrativa que com ironia e humor reflecte sobre a fugacidade da vida e o pouco que a ciência pode fazer para a dominar: «A árvore era gigantesca e contava vários séculos de idade. Já ali se encontrava antes dos espanhóis e dos povos antigos. Era anterior a Cristo e a Buda, a Platão e a Tamerlão. Humboldt aproximou o relógio do ouvido e escutou. Da mesma forma que este, com o seu tiquetaque, continha o tempo dentro de si, aquela árvore repelia o tempo: um recife contra o qual se quebrava este fluxo.» (p. 37) Humboldt, aliás, refere mesmo, a certa altura, que escrever um romance «parecia-lhe um caminho magnífico para agarrar a fugacidade do presente.» (p. 23)
Este romance pouco típico e nada convencional liderou durante um ano as tabelas de vendas na Alemanha, destronando Harry Potter e O Código Da Vinci. Traduzido em 34 países, Daniel Kehlmann – um autor jovem, nascido em 1975 – é considerado um renovador da literatura de ficção em língua alemã. Estudou Filosofia e Estudos Alemães, e hoje vive entre Nova Iorque, Berlim e Viena.
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016