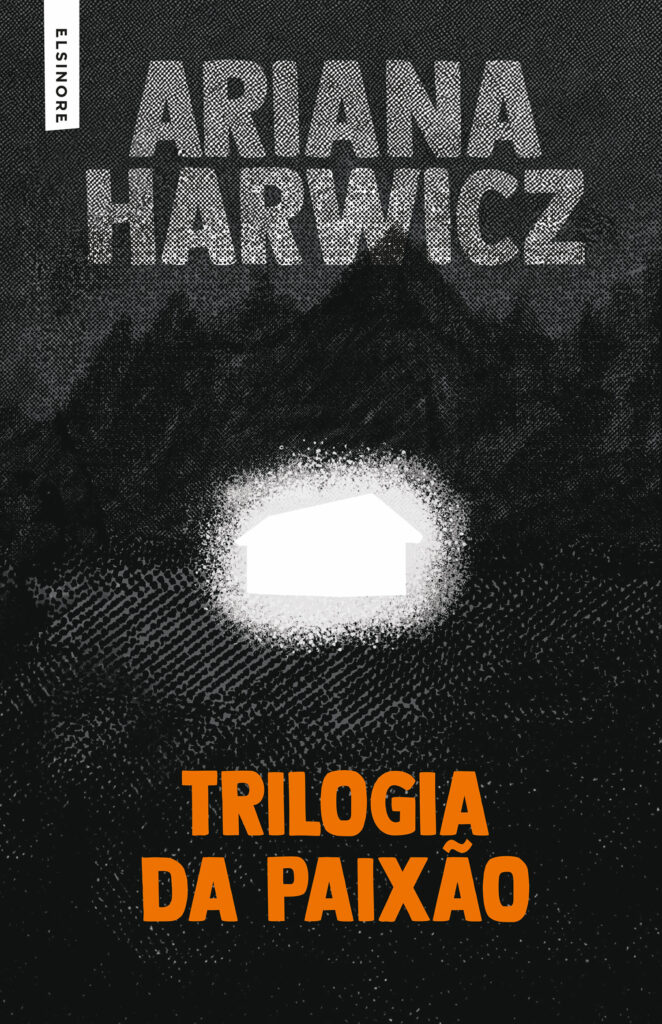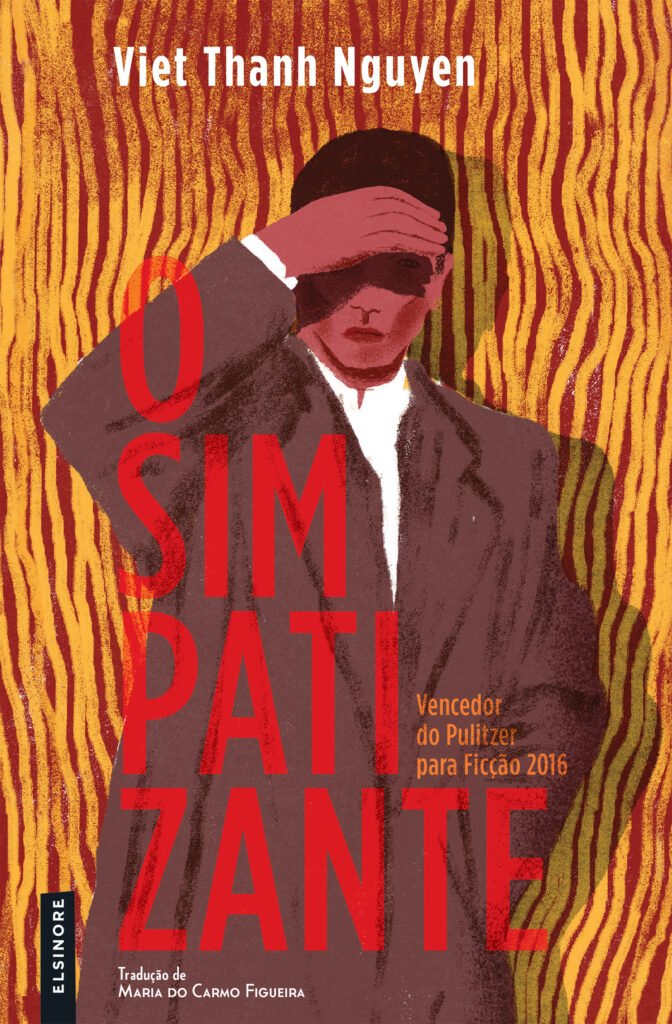Documentar
Svetlana Alexievich nasceu em 1948 na Ucrânia, e cresceu em Minsk, capital da Bielorrúsia, onde vive actualmente. Jornalista e escritora, autora de vinte guiões de documentários e cinco livros, tem várias obras adaptadas ao cinema e ao teatro. Foi distinguida com mais de uma dezena de prémios internacionais, do Médicis Essai 2013 ao Books Critics Circle Award 2006, e consagrada com o Prémio Nobel de Literatura em 2015, pela qualidade da sua «obra polifónica» como «um memorial ao sofrimento e à coragem na nossa época». Das cinco obras em prosa, quatro foram publicadas pela Elsinore, sendo as mais recentes, publicadas este ano, Rapazes de Zinco e As Últimas Testemunhas.
Rapazes de Zinco é, à semelhança das outras obras da autora, um livro de não-ficção, onde se entretecem as vozes de centenas de entrevistados numa polifonia que a autora registou e que tenta reunir em coro como testemunho da verdade da guerra soviética no Afeganistão. Estes rapazes são os quinze mil mortos devolvido em caixas de zinco às mães, mesmo quando dentro dos caixões apenas seguia um uniforme de gala e a terra alheia onde combateram «para que o peso seja adequado» (p. 45), e cerca de quatrocentos e cinquenta mil feridos e doentes que combateram o Afeganistão no exército soviético entre 1979 e 1989, isto é, uma geração que viveu numa década de guerra.
Contestado na União Soviética aquando da sua publicação este livro foi aclamado como uma «obra-prima de reportagem». Svetlana Alexievich criou aliás um novo género de não-ficção onde o objectivo é criar uma «prosa documental» a partir de centenas de entrevistados: soldados, enfermeiras, mães, filhos e filhas que viveram essa guerra. A autora assume-se como maestro de todas estas testemunhas, sem desaparecer completamente por trás das suas vozes, pois existe um eu que se assume como filtro dos depoimentos (especialmente no início): «Nos relatos impressiona (com frequência!) a agressividade ingénua dos nossos rapazes. Ainda há pouco tempo, eram alunos do último ano da escola soviética. Ao passo que eu quero conseguir deles o diálogo do homem com o seu homem interior.» (p. 35) É sua a voz que se repete em eco como um lamento ou uma promessa: «Não quero voltar a escrever sobre a guerra…» (p. 25). E num jeito mais literário a escritora assume mesmo o seu processo ficcional: «Gosto da linguagem oral, nada pesa sobre ela, está solta e em liberdade. Tudo passeia e festeja: a sintaxe, a entoação, os sotaques e – o sentimento é restabelecido com exatidão. Sigo o sentimento, não o acontecimento. Como se desenvolviam os nossos sentimentos e não os acontecimentos. É possível que o que faço se assemelhe ao trabalho de um historiador, mas eu sou historiadora do que não deixa vestígios. O que se passa com os grandes acontecimentos? Transitam para a história, ao passo que os pequenos, mas importantes para o homem pequeno, desaparecem sem deixar rasto.» (p. 35).
Apesar da voz autoral insurgir em alguns momentos, como apontamentos nos seus «blocos de guerra», onde há entradas cronológicas como num diário, à medida que se sucedem os depoimentos percebe-se a defesa destes ensaios documentais onde a ficção não tem lugar até porque essa serve apenas para fugir ao real: «A imaginação? A imaginação sossega.» (p. 45). Há um registo cru e gráfico da guerra e das atrocidades vividas nesses períodos e nesses cenários em que a ordem natural das coisas parece suspensa, onde a vida se torna mais excessiva do que a imaginação. Aliás, «Para quem está na guerra, a morte não tem nada de misterioso. Matar é simplesmente apertar o gatilho. Ensinaram-nos isto: sobrevive quem disparar primeiro. Esta é a lei da guerra. “Devem saber fazer duas coisas: mover-se depressa e disparar com precisão. Aqui quem pensa sou eu.”, dizia o comandante. (…) Disparava, sem pena de ninguém. Era capaz de matar uma criança. Pois toda a gente combatia contra nós: homens, mulheres, velhos, crianças.» (p. 45).
A sombra do regime
«Chamam-nos de “afegãos”. Um nome alheio. Como um sinal distintivo. Uma marca. Não somos como todos. Somos diferentes. Como somos, então? Não sei quem sou: um herói ou um palerma a quem se aponta com o dedo? Talvez um criminoso? Já se vai dizendo que foi um erro político.» (p. 47). Um dos praças, granadeiro, pergunta à autora: «A que propósito escreve este seu livro? Para quem? Nós, que viemos de lá, não vamos gostar de certeza.» (p. 48). Mas a resposta pode ser encontrada logo em seguida num outro depoimento de um fuzileiro motorizado: «O Afgan libertou-me. Curou-me da fé de que tudo no nosso país está certo e que os jornais escrevem a verdade, que a televisão diz a verdade.» (p. 51).
Viver num regime como o soviético significa ser «sugado pelo sistema» (p. 111) e anular a vontade pessoal, até porque quem partia para uma guerra como esta partia sempre como “voluntário”: «Decidiam por mim em toda a parte. Incutiram-me a ideia de que um indivíduo nada pode. Dei de caras num livro qualquer com a expressão «o assassínio da coragem». Quando chegou a altura de ir para lá, não havia em mim nada para assassinar. «Voluntários, dois passos em frente.» Davam todos dois passos em frente, e eu também, dois passos em frente.» (p. 71).
Estes jovens guerreiros assumem afinal que a Pátria amada deve ser servida, mesmo quando esta os engana, até ao derradeiro sopro de vida: «Nasci aqui… A Pátria, como a mulher amada, não se escolhe, é-nos dada, se nasceste neste país, tens de ser capaz de morrer nele. Pode-se morrer como um animal, pode-se cair em combate, mas tu tens de saber morrer. Quero viver neste país, mesmo que ele seja pobre e desditoso» (p. 118). E quando se volta da guerra também não se volta igual: «Esses soldados-rapazinhos vão crescer e reviver tudo. A sua maneira de ver as coisas vai mudar, certas coisas serão esquecidas e outras emergirão dos depósitos da memória.» (p. 99). Porém, a mudança só ocorre mais tarde: «O homem não muda na guerra, muda depois da guerra. Muda quando olha, com os mesmos olhos que viram o que houve lá, para o que há aqui. Nos primeiros meses, a visão é dupla: estás lá e cá ao mesmo tempo. A transformação dá-se cá. Agora sinto-me pronto a refletir sobre o que me aconteceu lá.» (p. 114). Fica ainda a ideia que pelo menos para alguns dos ex-soldados a guerra foi não só uma experiência determinante como voltariam a passar por ela: «Apesar de tudo, desejaria passar outra vez por tudo e tornar-me quem sou agora.» (p. 116).
Naturalmente que a autora não se limita a recolher depoimentos aleatórios, pois sente-se inclusivamente no decurso da leitura como há um encadeamento coeso dos vários testemunhos e, por vezes, através da forma como os entrevistados incorporam as perguntas ou os pedidos da autora no discurso: «Percebi… Vou contar-lhe mais do homem do que da guerra. Daquele homem que nos nossos livros raramente aparece. Têm medo dele. Escondem-no. Do homem biológico. Sem ideias…» (p. 110). Este praça fuzileiro, declara ainda, mais à frente, que para alimentar este lado voraz da guerra como um sistema ao serviço do regime é «preciso partir do princípio de que somos bestas, e este lado bestial está escondido por um verniz muito fino de cultura (…) A besta vem à tona do homem num instante… Num abrir e fechar de olhos… Mal ele tenha medo por si, pela sua vida. Ou que detenha poder. Um pequeno poder. Minúsculo!» (p. 111).
Svetlana Alexievich vai ainda mais longe nesta orquestração coral pois na polifonia da sua obra confluem ainda vozes literárias, com citações aos mais diversos autores, como Shakespeare ou Dostoiévski, ou quando nos apresenta os escritos de rua, deixados por um povo anónimo, em muros e tanques.
A autora visitou o Afeganistão na qualidade de jornalista de investigação quase no fim da guerra, onde terá realizado algumas das entrevistas que compõem esta sua terceira obra de não-ficção. E porque através desta recolha de vozes de quem testemunhou a guerra a autora atreve-se a levantar a sua voz contra o regime da União Soviética e a sua propaganda, Rapazes de Zinco valeu-lhe um processo na Rússia (há um registo do julgamento no final do livro). Ao longo deste documento, sente-se inclusivamente a desconfiança e a contrariedade dos soldados face à escritora, afirmando que a guerra não é um assunto de mulheres. Contudo são os depoimentos das mães que aqui se destacam neste livro onde mais uma vez a autora aclamada com o Nobel, e conforme referido pela Academia Sueca, «funde literatura e jornalismo» para expressar «uma história das emoções, uma história da alma».