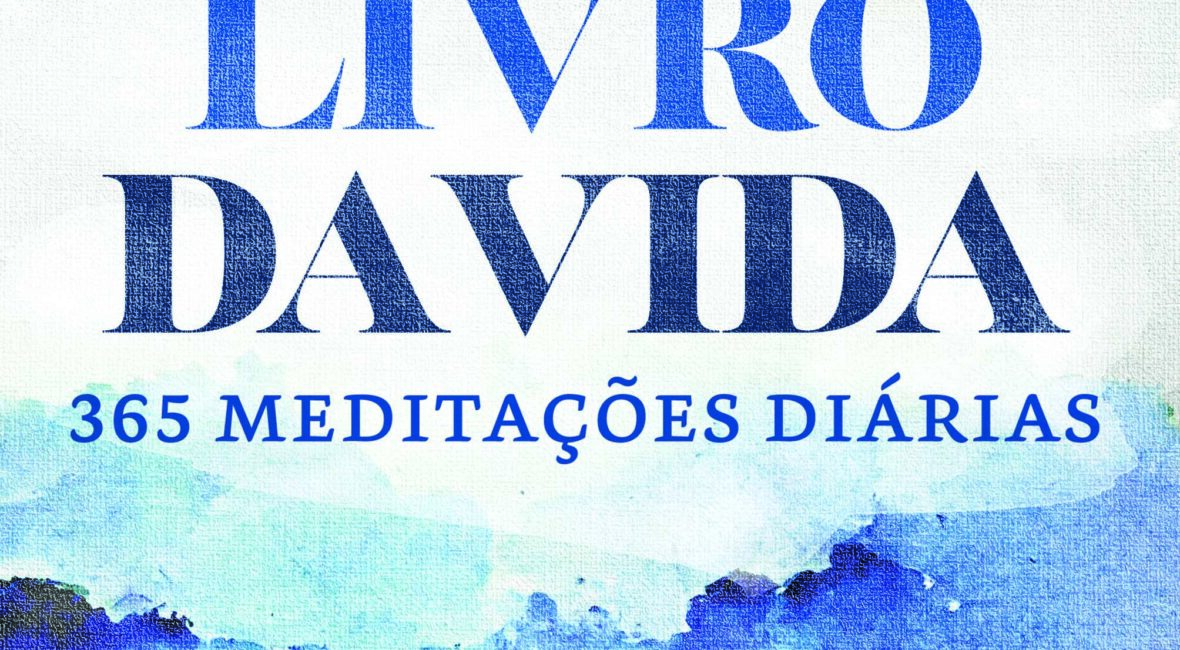O Livro da Vida – 365 Meditações Diárias, de J. Krishnamurti, com tradução de Paulo Ramos, publicado pela Planeta no início deste ano, é uma obra clássica de um dos maiores filósofos e líderes espirituais do mundo. Ver artigo
Olho da rua, publicado pela Companhia das Letras, é o segundo romance de Dulce Garcia e que a confirma como uma nova voz a ter em conta. A autora estreou-se na ficção em 2017 com Quando perdes tudo não tens pressa de ir a lado nenhum. Ver artigo
Juliet Marillier, publicada em Portugal pela Planeta Editora, é uma autora best-seller, estatuto que mantém desde o seu primeiro romance, A Filha da Floresta.
A Harpa dos Reis é o primeiro livro da nova série Bardos Guerreiros.
Mundialmente conhecida na área da fantasia histórica celta, a autora nasceu em Dunedin, Nova Zelândia, a cidade mais escocesa fora da Escócia. Os seus livros combinam romance e história, drama e fantasia, folclore e mitologia, no contexto do universo celta. Já venceu 15 prémios literários, como o prestigiado Aurealis Award. Entre diversas trilogias, destacam-se três séries de imenso sucesso: Sevenwaters, Shadowfell e Blackthorn e Grim.
Foi professora de música, responsável por um grupo coral e cantora de ópera. Começou a publicar depois dos 40 anos e nunca mais parou. A autora é membro da ordem druídica OBOD (Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas) e os seus valores espirituais reflectem-se muito na sua ficção – onde a relação das personagens humanas com o mundo natural desempenha um papel importante, assim como o poder da contação de histórias para ensinar e para curar.
Juliet Marillier já visitou Portugal e é fã dos livros de Saramago.
A Harpa dos Reis é o primeiro livro da nova série Bardos Guerreiros.
Mundialmente conhecida na área da fantasia histórica celta, a autora nasceu em Dunedin, Nova Zelândia, a cidade mais escocesa fora da Escócia. Os seus livros combinam romance e história, drama e fantasia, folclore e mitologia, no contexto do universo celta. Já venceu 15 prémios literários, como o prestigiado Aurealis Award. Entre diversas trilogias, destacam-se três séries de imenso sucesso: Sevenwaters, Shadowfell e Blackthorn e Grim.
Foi professora de música, responsável por um grupo coral e cantora de ópera. Começou a publicar depois dos 40 anos e nunca mais parou. A autora é membro da ordem druídica OBOD (Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas) e os seus valores espirituais reflectem-se muito na sua ficção – onde a relação das personagens humanas com o mundo natural desempenha um papel importante, assim como o poder da contação de histórias para ensinar e para curar.
Juliet Marillier já visitou Portugal e é fã dos livros de Saramago.
Esta nova série iniciada com A Harpa dos Reis retoma duas personagens da saga anterior. Blackthorn e Grim (as suas personagens mais complexas) foram assim tão poderosas para a fazer continuar a sua história?
Adorei escrever a história de Blackthorn e Grim, personagens complexas e feridas, e quando pensei na trilogia dos Bardos Guerreiros apercebi-me que podia incluir “o que acontece depois” ao escrever sobre a geração seguinte: os seus filhos. Blackthorn e Grim foram absolutamente reais para mim, por isso foi um prazer continuar a sua história.
Os seus livros seguem uma fórmula, em que cada nova história é absolutamente original e apaixonante.
«As histórias são como bolos de mel. Mal provamos um, queremos outro e outro e sempre mais.» (p. 208)
Há elementos consistentes, em particular nos primeiros livros. Gosto de incluir uma história de amor; geralmente uma jovem protagonista feminina que descobre a sua força interior ao enfrentar um desafio; e muitas das histórias situam-se em culturas célticas dentro do mesmo período histórico. Mas não acredito que os livros sigam uma fórmula, até porque muitas vezes distancio-me.
Tem razão quanto aos bolos de mel. Uma história pode ser contada e recontada de muitas formas diferentes, e alterar-se-á para se adaptar ao tempo e cultura em que se insere. Dou valor ao papel da contação de histórias como meio de ensino e de cura, o que aliás influencia a minha escrita. Recorri a um conto tradicional como ponto de partida para 5 dos meus 23 livros, mas há temas e motivos de contos tradicionais, folclore e mitologia em todos. A minha estratégia tem-se desenvolvido nestes 20 anos como autora. Nas 2 obras mais recentes o tom foi mais negro. Tenho descido mais fundo na complexidade psicológica das personagens, e criar uma perspectiva partilhada entre os protagonistas feminino e masculino.
Concilia aqui vários aspectos dos seus livros, como se tudo convergisse neste universo ficcional.
Existem definitivamente afinidades entre A Harpa dos Reis e várias das minhas séries, como Sevenwaters e Blackthorn & Grim. O exército de guerreiros tatuados que primeiro apareceu em O Filho das Sombras ganha um papel mais relevante nesta série. Essas 3 trilogias situam-se no norte da Irlanda no mesmo período temporal (ainda que esta história com elementos sobrenaturais seja inspirada na mitologia e folclore local).
Pela primeira vez fornece informações sobre o mundo dos druidas. Contudo, o tema não lhe é novo.
Tenho personagens druidas noutros livros – Broichan em As Crónicas de Bridei, e Conor em Sevenwaters. Mas entrar nos nemetons, onde vivem os druidas, e experienciar um pouco da sua vida diária é uma novidade. Não sabemos como realmente era naquele tempo, uma vez que os druidas não deixaram muitos registos por escrito, mas acredito que as cenas da vida na comunidade druídica sejam bastante fidedignas, construídas com base em pistas históricas que temos sobre o treino dos druidas, crenças e rituais da época, e no Druídismo contemporâneo.
O que significa ser um druida hoje?
Há várias ordens druídicas activas hoje, espalhadas por todo o mundo. Sou um membro da Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas. Enquanto caminho espiritual, o druídismo moderno é bastante flexível nas suas práticas e crenças. Os elementos que considero essenciais são a valorização do poder da contação de histórias como forma de ensinar e de curar; a compreensão do papel da humanidade na vastidão da natureza, o que leva a trabalho ambiental e de conservação; e a crença de que Deus ou a Deusa ou o Espírito existem em cada entidade viva, incluindo nos seres humanos, unindo-nos e sustendo-nos. Alguns druidas mantêm a sua prática de forma solitária, outros em grupos; uns praticam rituais, outros não. Quase todos adoram música, poesia e contar histórias.
«O mundo muda. As pessoas não praticam os costumes antigos nas suas vidas diárias como outrora faziam».
Parece falar dos seus livros.
É possível que uma história – numa época antiga, num mundo imaginário, ou no futuro – tenha um significado profundo e ressoe no íntimo do leitor. Ser uma história com elementos mágicos não a torna menos relevante para as nossas vidas. As velhas histórias de monstros e magia contadas há muito tempo em torno da fogueira não serviam apenas para entreter – eram igualmente concebidas para demonstrar às pessoas como podiam viver com bravura e sagacidade. Estou a contar esse mesmo género de histórias, e mesmo que chegue a um único leitor – se ele se sentir mais forte e sábio depois de ler um livro meu –, já me permite sentir que fiz o meu trabalho, como druida e como ser humano.
Os seus livros estão tão imbutidos de influências do folclore escocês e contos tradicionais que é quase errado considerá-los fantasia.
Cresci numa parte da Nova Zelândia fundada por imigrantes escoceses, e os meus antepassados são escoceses e irlandeses. Os elementos sobrenaturais dos meus livros baseiam-se sempre naquilo em que as pessoas acreditavam na época. Faço imensa pesquisa. Ainda que o mundo onde as personagens habitam seja cheio de magia, trata-se do nosso mundo real no referente à geografia, cultura, contexto histórico. Os desafios e provações que as personagens enfrentam, por exemplo a injustiça ou a tirania, são essencialmente os mesmos que enfrentamos hoje.
Existe frequentemente ajuda sobrenatural, sim, mas as histórias são sobre personagens humanas que encontram a sua própria força e sabedoria.
Quando foi a primeira vez que ouviu essas histórias?
Os meus pais eram músicos e leitores ávidos. Lembro-me de me contarem histórias do folclore e da mitologia. Ao aprender a ler essas eram as histórias que preferia. A minha família provém de países de tradição céltica pelo que tenho uma forte ligação a essas histórias e à música. Havia uma biblioteca fabulosa para crianças onde vivíamos, e eu requisitava imensos livros, particularmente as colecções de contos tradicionais de todo o mundo de Andrew Lang. Esses aspectos tiveram um forte impacto na minha escrita.
Ainda que este livro seja anterior à pandemia, transmite a mensagem de nos reconectarmos com a natureza, a fé, a arte.
«Esta canção deve constituir uma ponte entre o Povo Encantado e o povo humano. (…) Deve recordar a todos que em épocas de dificuldades sobreviveremos apenas se confiarmos e nos respeitarmos um ao outro.» (p. 212)
Vivemos tempos muito difíceis – não só pela pandemia, mas pela ameaça iminente das mudanças climáticas. Estamos à beira de um precipício, perto de destruir este mundo precioso e belo devido à ganância e à intolerância. A confiança e o respeito são essenciais para um trabalho colaborativo da humanidade face à crise, em vez de continuarmos com jogos de poder e nos recusarmos a aceitar o quão séria é a situação. Devemos respeitar-nos mutuamente e respeitar o mundo. Pode ser essa a mensagem. Gostaria que os políticos a ouvissem.
Perguntavam muitas vezes a Marion Zimmer Bradley: «De onde vêm as ideias para as suas histórias?». De onde vêm os seus sonhos – aqueles que nos faz sonhar com a sua ficção?
Penso que os sonhos nascem do meu amor pelo folclore e pela mitologia, da minha crença de que existe magia e mistério no mundo real – basta abrirmos as nossas mentes. Houve grandes períodos da vida em que enfrentei imensos desafios, mas consegui preservar (ou redescobrir) a sensação de maravilhamento que tinha em criança ao ler, e isso transparece nas minhas histórias. Talvez eu tenha algum ADN de contadora de histórias, transmitido pelos meus antepassados celtas.
Começou a escrever relativamente tarde. Agora escreve um livro a cada 2 anos.
Escrevo desde que tenho idade para assentar uma caneta num papel, e fui uma escritora bastante assídua em criança. Na universidade decidi estudar músicas e línguas, depois estive ocupada a criar 4 filhos enquanto mantinha diversos trabalhos, e só voltei à escrita criativa aos 40. Sempre gostei de ler, e como professora de música e como funcionária pública, continuei a escrever. Depois do meu casamento terminar, decidi escrever uma versão de um conto de que gostava muito, e nos 3 anos seguintes, enquanto mantinha a tempo inteiro um trabalho administrativo, escrevi o meu primeiro livro, A Filha da Floresta, escolhido pela editora Pan Macmillan. Foi o início da minha carreira de autora. Em média, escrevo um livro por ano desde então. Tive sorte em poder abdicar do meu trabalho, 4 anos depois do meu primeiro livro, e tornei-me escritora a tempo inteiro.
É muito activa – com trabalho comunitário, a socorrer cães, aulas de escrita. Como é que consegue tempo para escrever.
Escrever é a minha principal ocupação e encaixo as outras actividades conforme posso. Como trabalho em casa, as outras actividades permitem-me deixar regularmente a secretária e interagir com pessoas. Devido à pandemia não tenho feito oficinas de escrita ou eventos públicos, mas interajo bastante com os meus leitores através do Facebook. O jardim e os cães que resgato ajudam-me a centrar. Infelizmente, a minha pequena matilha está agora reduzida a um cão… os dois mais velhos morreram este ano.
Autores e livros favoritos?
Tenho lido imensas histórias de crimes. Sou uma grande fã de Anne Cleeves, autora das séries Shetland e Vera, adaptadas a séries populares. Também gosto de Elly Griffiths. Gosto de romances que combinem excelente prosa com uma história cativante. Dois dos mais recentes que li de fantasia são Circe, de Madeline Miller, e The Binding, de Bridget Collins – complexos, memoráveis, maravilhosamente escritos.
Esteve em Portugal em 2013. Foi a única vez? Que memórias levou?
Visitei Portugal 2 vezes a convite da minha editora. Viajei até Sintra com leitores do grupo Mundo Marillier. Adorei os antigos palácios e a beleza natural envolvente. Os edifícios em Lisboa com os seus mosaicos decorativos são lindíssimos. É uma cidade magnífica debruçada sobre o rio. Adorei poder conversar com os meus entusiásticos leitores, não só nas sessões promovidas, mas também em contextos mais informais. O café português é fantástico! Especialmente com um pastel de nata. Tenho pena de que as actuais condições excluam a possibilidade de viajar.
Imagina alguém capaz de adaptar as suas histórias ao cinema? Ou a uma série?
É possível, mas é difícil ter realizadores interessados – financiar um filme é bastante dispendioso. Adorava que fosse a Jane Campion ou o Peter Jackson.
O segundo livro da saga está publicado (mas ainda não em Portugal), pelo que o terceiro deve vir a caminho…
Definitivamente! Estou a trabalhar arduamente no livro, provisoriamente intitulado A Song of Flight. Está quase terminado. A edição original em inglês deve ser publicada em Agosto de 2021.
A Harpa dos Reis é o mais recente livro de Juliet Marillier, publicada em Portugal pela Planeta Editora, e inaugura a nova série Bardos Guerreiros. A autora é mundialmente conhecida desde o seu primeiro romance, A Filha da Floresta, publicado em 1999, e todos os seus livros são best-sellers. Por isso, decidimos conversar com a autora, cuja entrevista será publicada na próxima edição do Cultura.Sul, a sair no final desta semana.
Blackthorn & Grim, a sua anterior trilogia, foi também a mais negra, além de ter descido mais profundamente na densidade psicológica das personagens. Curiosamente são também das personagens mais marcantes. Por isso mesmo, a autora deu continuidade à sua história agora através dos filhos. Liobhan e Broc estão a treinar arduamente na Ilha do Cisne – a ilha dos guerreiros tatuados já presentes noutros livros da autora. Apesar de ainda não terem terminado o treino e serem apenas candidatos ao grupo dos guerreiros de elite, são convidados a participar numa missão de grande importância que exige sigilo absoluto, fazendo-se passar por um grupo de menestréis ambulantes.
A missão de Liobhan, Broc e Dau, outro jovem guerreiro que os acompanha, é recuperar uma harpa preciosa desaparecida, um símbolo antigo da realeza, cuja tradição exige que seja tocada na coroação do novo rei com a presença dos druidas. Como os jovens heróis irão descobrir, essa harpa é mágica, um objecto do Outro Mundo, que simboliza uma união necessária entre o Povo Mágico e o povo de Breifne, e é um sinal poderoso da aceitação do novo rei. Se o instrumento não for tocado, o pretendente ao trono não é aceite e o reino cai no caos.
Este livro tem a particularidade de revelar uma forte presença do mal configurado nos demónios-corvo… Mas sobre isso saberemos mais nos próximos livros.
Juliet Marillier, autora de culto do fantástico, tem agora a sua primeira obra relançada pela Planeta, numa novíssima edição da obra A Filha da Floresta. Este livro originalmente publicado em 1999 marcou a estreia da autora e o início da trilogia Sevenwaters, que teve ainda, mais tarde, outras obras que se podem enquadrar neste ciclo como A Vidente de Sevenwaters e A Chama de Sevenwaters.
A autora recupera nas suas obras mitos e lendas da tradição céltica, sendo que o cenário das suas obras remonta quase sempre à antiga Irlanda. Desta vez, a autora não se baseia numa história da Escócia ou da Irlanda, mas sim numa história alemã, «Os seis cisnes», recolhida pelos irmãos Grimm.
Sorcha é a sétima filha de um sétimo filho, o Lorde Colum. Todos os outros seis irmãos são rapazes. Lady Oonagh consegue seduzir Lorde Colum com a sua beleza mas não ilude completamente os seus sete filhos. Frustrada e furiosa por ver que os seus planos podem fracassar, acaba por enfeitiçar os irmãos de Sorcha, transformando-os. Cabe a Sorcha desfazer a maldição, enfrentando temíveis provas com determinação e amor, para que os seus seis irmãos possam recuperar a forma humana e sobreviver à maldição.
Conforme ao espírito dos contos populares, existe uma madrasta malvada, uma transformação, e uma maldição a ser resolvida com a ajuda de intervenientes mágicos, pois Sorcha conta com a ajuda das Criaturas Encantadas do Outro Mundo, que a tomam sob a sua protecção, pois Sevewaters é um espaço mágico no coração da Bretanha:
«A nossa casa tinha o nome dos sete riachos que desciam dos montes para o grande lago cercado de árvores. Era um lugar remoto, calmo, estranho, bem vigiado por homens silenciosos que deslizavam pelos bosques vestidos de cinzento e que mantinham as armas bem afiadas.» (p. 18)
Neste recanto isolado, no centro da floresta, num anel formado pelos montes, os habitantes de Sevenwaters estão a salvo de salteadores, reis, assaltantes, dos nórdicos ou dos pictos. Mas não estarão completamente a salvo da magia de Lady Oonagh.
A autora recupera nas suas obras mitos e lendas da tradição céltica, sendo que o cenário das suas obras remonta quase sempre à antiga Irlanda. Desta vez, a autora não se baseia numa história da Escócia ou da Irlanda, mas sim numa história alemã, «Os seis cisnes», recolhida pelos irmãos Grimm.
Sorcha é a sétima filha de um sétimo filho, o Lorde Colum. Todos os outros seis irmãos são rapazes. Lady Oonagh consegue seduzir Lorde Colum com a sua beleza mas não ilude completamente os seus sete filhos. Frustrada e furiosa por ver que os seus planos podem fracassar, acaba por enfeitiçar os irmãos de Sorcha, transformando-os. Cabe a Sorcha desfazer a maldição, enfrentando temíveis provas com determinação e amor, para que os seus seis irmãos possam recuperar a forma humana e sobreviver à maldição.
Conforme ao espírito dos contos populares, existe uma madrasta malvada, uma transformação, e uma maldição a ser resolvida com a ajuda de intervenientes mágicos, pois Sorcha conta com a ajuda das Criaturas Encantadas do Outro Mundo, que a tomam sob a sua protecção, pois Sevewaters é um espaço mágico no coração da Bretanha:
«A nossa casa tinha o nome dos sete riachos que desciam dos montes para o grande lago cercado de árvores. Era um lugar remoto, calmo, estranho, bem vigiado por homens silenciosos que deslizavam pelos bosques vestidos de cinzento e que mantinham as armas bem afiadas.» (p. 18)
Neste recanto isolado, no centro da floresta, num anel formado pelos montes, os habitantes de Sevenwaters estão a salvo de salteadores, reis, assaltantes, dos nórdicos ou dos pictos. Mas não estarão completamente a salvo da magia de Lady Oonagh.
Miguel Real, nascido em Lisboa em 1953, formado em Filosofia, disciplina que ensinou até recentemente se ter reformado, especialista em cultura portuguesa, investigador do CLEPUL, ficcionista, tem-se imposto como um dos mais produtivos pensadores da actualidade, com estudos sobre diversos temas e figuras da nossa cultura, além de se ter ainda destacado na crítica literária, por exemplo no Jornal de Letras.
Na sequência de Introdução à Cultura Portuguesa, onde o autor estabelecia uma teoria que divide a História de Portugal em quatro correntes de pensamento, a Planeta publicou Traços fundamentais da cultura portuguesa.
Escreve José Eduardo Franco que «o escritor Miguel Real pode ser considerado uma síntese invulgar, na nossa época apelidada de pós-moderna, de várias correntes de análise e de crítica». Escolástico, renascentista, positivista, iluminista e pós-moderno, na medida em que tem o cuidado de não impor o seu pensamento nem «absolutizar nenhuma destas propostas de método de conhecimento», chamando o leitor para o texto, ao colocar-lhe questões que lhe permitam problematizar a informação recebida. São constantes as citações e referências a obras de outros pensadores e inclusivamente a artigos de imprensa.
O autor procura distinguir claramente História e Cultura, de modo a procurar constantes históricas que deram origem ao que ele define como quatro constantes culturais: a origem exemplar de Portugal, a nação superior, a nação inferior e o canibalismo cultural.
A obra divide-se em duas partes, sendo a primeira parte mais teórica, onde o autor começa por problematizar a questão de se poder falar em identidade nacional ou dessa essência identitária que definiria o homem português, e uma segunda parte, «Práticas histórias: constantes culturais», onde se enumeram e explanam os traços fundamentais da cultura portuguesa geralmente referidos – sebastianismo, saudade, cultura de fronteira (o desejo do Outro), lusofonia – para depois se debruçar sobre algumas figuras históricas que, segundo o autor, personificam essas constantes culturais: Viriato, Padre António Vieira, Marquês de Pombal, e os canibais culturais (Tribunal do Santo Ofício, Pina Manique, jacobinos, Estado Novo).
O autor faz ainda uma céptica (por vezes bastante descontente) mas lúcida análise de Portugal hoje, cumpridas algumas etapas fundamentais do processo de modernização do país, assente em quatro visões políticas ou Mitos, e salienta que estamos num intervalo civilizacional entre o passado e o futuro, deixando no ar a questão: «Continuaremos a possuir uma identidade ou diluir-nos-emos numa Europa sem identidade?».
Na sequência de Introdução à Cultura Portuguesa, onde o autor estabelecia uma teoria que divide a História de Portugal em quatro correntes de pensamento, a Planeta publicou Traços fundamentais da cultura portuguesa.
Escreve José Eduardo Franco que «o escritor Miguel Real pode ser considerado uma síntese invulgar, na nossa época apelidada de pós-moderna, de várias correntes de análise e de crítica». Escolástico, renascentista, positivista, iluminista e pós-moderno, na medida em que tem o cuidado de não impor o seu pensamento nem «absolutizar nenhuma destas propostas de método de conhecimento», chamando o leitor para o texto, ao colocar-lhe questões que lhe permitam problematizar a informação recebida. São constantes as citações e referências a obras de outros pensadores e inclusivamente a artigos de imprensa.
O autor procura distinguir claramente História e Cultura, de modo a procurar constantes históricas que deram origem ao que ele define como quatro constantes culturais: a origem exemplar de Portugal, a nação superior, a nação inferior e o canibalismo cultural.
A obra divide-se em duas partes, sendo a primeira parte mais teórica, onde o autor começa por problematizar a questão de se poder falar em identidade nacional ou dessa essência identitária que definiria o homem português, e uma segunda parte, «Práticas histórias: constantes culturais», onde se enumeram e explanam os traços fundamentais da cultura portuguesa geralmente referidos – sebastianismo, saudade, cultura de fronteira (o desejo do Outro), lusofonia – para depois se debruçar sobre algumas figuras históricas que, segundo o autor, personificam essas constantes culturais: Viriato, Padre António Vieira, Marquês de Pombal, e os canibais culturais (Tribunal do Santo Ofício, Pina Manique, jacobinos, Estado Novo).
O autor faz ainda uma céptica (por vezes bastante descontente) mas lúcida análise de Portugal hoje, cumpridas algumas etapas fundamentais do processo de modernização do país, assente em quatro visões políticas ou Mitos, e salienta que estamos num intervalo civilizacional entre o passado e o futuro, deixando no ar a questão: «Continuaremos a possuir uma identidade ou diluir-nos-emos numa Europa sem identidade?».
Juliet Marillier é uma autora de culto do fantástico, com fãs por todo o mundo. O Covil dos Lobos é o seu mais recente romance, publicado na primeira semana de Julho pela Planeta, e fecha a trilogia Blackthorn & Grim. Ler esta autora é sempre como ouvir uma história da tradição céltica segundo a fórmula de enigma por resolver e maldição a quebrar, e na intriga deste livro em particular a autora, que nasceu em Dunedin, na Nova Zelândia, «cidade com fortes raízes na tradição escocesa», baseou-se numa história tradicional da Escócia.
Saorla, mais conhecida como Mestre Blackthorn, é curandeira e não só encontra mais um enigma e um desafio, quando conhece a jovem Cara que fala com as árvores e chama a si os pássaros, como será confrontada com as feridas do passado. Mantém-se o tom mais negro do que o usual da saga, como convém a uma personagem de temperamento difícil e tempestuoso (note-se o nome de Blackthorn – traduzido como abrunheiro mas que significa algo como espinheiro negro, a árvore que permite enfrentar a adversidade com determinação) que viu marido e filho serem queimados vivos mas tem de manter a promessa que fez a um membro do Povo Encantado de durante sete anos não se ausentar do local onde está confinada, responder a todos os pedidos de ajuda e não procurar vingança.
O fantástico está menos presente mas este fecho da saga não desilude e prende o leitor até ao fim. A escrita é simples mas apurada, com relatos na primeira pessoa partilhados pelas personagens principais que dão conta da acção de forma continuada, em capítulos alternados entre Blackthorn e Grim, até porque a certa altura se separam. Se em A Torre de Espinhos ficámos a saber que Grim é muito mais do que um matulão brutamontes, tendo vivido em tempos como monge, a personagem ganha aqui mais protagonismo. Curiosamente, neste livro encontramos ainda ecos de outras sagas da autora, como os guerreiros de cara tatuada da Ilha ou crianças humanas trocadas com as do Outro Mundo.
Saorla, mais conhecida como Mestre Blackthorn, é curandeira e não só encontra mais um enigma e um desafio, quando conhece a jovem Cara que fala com as árvores e chama a si os pássaros, como será confrontada com as feridas do passado. Mantém-se o tom mais negro do que o usual da saga, como convém a uma personagem de temperamento difícil e tempestuoso (note-se o nome de Blackthorn – traduzido como abrunheiro mas que significa algo como espinheiro negro, a árvore que permite enfrentar a adversidade com determinação) que viu marido e filho serem queimados vivos mas tem de manter a promessa que fez a um membro do Povo Encantado de durante sete anos não se ausentar do local onde está confinada, responder a todos os pedidos de ajuda e não procurar vingança.
O fantástico está menos presente mas este fecho da saga não desilude e prende o leitor até ao fim. A escrita é simples mas apurada, com relatos na primeira pessoa partilhados pelas personagens principais que dão conta da acção de forma continuada, em capítulos alternados entre Blackthorn e Grim, até porque a certa altura se separam. Se em A Torre de Espinhos ficámos a saber que Grim é muito mais do que um matulão brutamontes, tendo vivido em tempos como monge, a personagem ganha aqui mais protagonismo. Curiosamente, neste livro encontramos ainda ecos de outras sagas da autora, como os guerreiros de cara tatuada da Ilha ou crianças humanas trocadas com as do Outro Mundo.
Deste livro, publicado pela Planeta Editora, não se pode propriamente dizer que se lê de um fôlego, não só pelas suas 845 páginas, mas porque é preciso pousá-lo por várias vezes para poder dar umas boas gargalhadas. Zafón sempre primou por uma escrita literária – ainda que certos autores tenham lançado outrora o debate se Zafón pode ou não ser considerado literatura – muito cuidada: «na noite em que o meu filho Julián nasceu e o vi pela primeira vez nos braços da mãe entregue a essa calma abençoada daqueles que ainda não sabem a que espécie de lugar chegaram, tive vontade de largar a correr e não parar até que se me acabasse o mundo. Na altura eu era uma criança e a vida ficava-me de certeza demasiado grande» (pág. 15). Cada frase é trabalhada para fazer ressaltar a originalidade e a poesia da sua linguagem, eivada de mistério e de fantasia, mas é sobretudo pelo seu humor que o autor se tem destacado. Os diálogos deste livro – e são muitos, tendo em conta aliás a profusão de personagens – são sempre momentos de puro deleite e genuíno humor, para não falar de todo o cómico de personagem que é Fermín.
Neste quarto volume da sua tetralogia – cuja saga o autor indicia indirectamente poder ser apelidada de O Cemitério dos Livros Esquecidos – regressamos a Barcelona – e esta cidade é muitas vezes a principal personagem, pelo cuidado das descrições mais realistas ou mais fantasiadas –, mas desta vez nos finais dos anos 1950 (para terminar depois em 1992).
A personagem principal desta vez não é Daniel Sempere, o menino de A sombra do vento, nem Fermín, mas sim Alicia Gris. Alicia é, sem exagero, uma das personagens mais crípticas que o autor nos dá a conhecer, pois muitas vezes o leitor só pode traçar um retrato a partir do medo que ela inspira nos que a conhecem. Muito raramente entramos na sua alma ou sabemos o que se sente sob a sua pele: uma solidão imensa que acompanha esta criança que ficou órfã durante a guerra civil. Alicia será, aliás, salva por Fermín, num daqueles acasos do destino literário, quando este a encontra com sete ou oito anos, sempre agarrada ao seu livro de Alice no País das Maravilhas. Não será por acaso que Alicia, cujo nome lembra o de Alice, vai depois cair com a explosão de uma outra bomba por uma cúpula de cristal e aterrar no centro do Cemitério dos Livros Esquecidos, à semelhança de Alice ao cair pelo buraco até aterrar no País das Maravilhas. Fermín parece também servir aqui de coelho branco ou guia para esse outro mundo, como as suas palavras já anunciavam: «Tudo o que seja cair por buracos e tropeçar com chanfrados e problemas matemáticos encaro-o a título autobiográfico» (pág. 54). Alicia – mais uma vez a lembrar a mente inquisitiva de Alice e os enigmas com que se vai deparando no País das Maravilhas – será depois uma investigadora, uma das melhores, pronta a «descer aos infernos em busca de problemas»: «Alicia Gris vê o que os outros não vêem. O seu cérebro funciona de uma maneira diferente do das outras pessoas. Onde todos vêem uma porta fechada, ela vê uma chave. Onde os outros perdem a pista, ela encontra o rasto. É um dom» (pág. 102). Alicia ficou ainda exteriormente marcada pela guerra a que sobreviveu, com um ferimento na anca direita, que lhe dá dores atrozes e a obriga a usar um arnês, o que lhe dava «um ar de boneca perversa, de marioneta de obscura beleza» e lembra um vampiro, uma «criatura das trevas», de «olhar gelado e penetrante», de riso frio, «indestrutível e dura como um diamante», «criatura de luz e sombra, como esta cidade», para quem «a solidão pode ser a melhor companhia»…
O autor junta neste livro todas as personagens e todas as obras anteriores, com o intuito de fechar todas as pontas soltas e desvendar todos os enigmas, pelo que só na segunda metade do livro iremos acabar por voltar a entrar na livraria e na família Sempere. Como muitas vezes se pode ler, não há propriamente um início para toda esta história, mas sim várias portas de entrada, tal como uma cidade, até porque afinal estamos a falar de um labirinto, um novelo de histórias passadas numa cidade labiríntica, onde se esconde um labirinto de livros. As referências literárias a obras e autores também abundam, como pistas para encontrar o caminho por entre o labirinto. Contudo mais do que labirinto, é muitas vezes a ideia de Inferno que persevera no livro, em diversas referências, inclusive a famosa citação de Dante, sendo a própria cidade comparada a esse Inferno pois aquela «Barcelona dos anos de 1930 (…) era, no julgamento dos entendidos, o que mais se lhe assemelhava.» (pág. 508). Recordemos que esta cidade sobrevive a uma guerra civil para depois passar ao jugo da ditadura franquista e é nesse clima de terror que podem vingar horrores como o que a nossa protagonista vai acabar por desvendar, auxiliada por Vargas. Desta forma, este romance partilha ainda do género policial e com um caso que é, de facto, bastante surpreendente e bem conseguido.
Parece, no entanto, restar uma última ponta solta, a do destino de Alicia que a certa altura do livro acaba por nos deixar, se bem que a resposta pode estar contida, como sempre, na própria história: «O que gostaria de fazer é viajar e ver mundo. Encontrar o meu lugar. Se é que existe.»
No final, e mais uma vez revelando a mestria de Zafón, é revelada uma surpresa, ao desvendar-se por fim o enigma mais premente de todos, quem é afinal o verdadeiro autor deste livro e de todos os outros?
«Tinha calculado que aquele magnum opus produto da minha febril imaginação juvenil atingiria dimensões diabólicas e uma massa corpórea a rondar os quinze quilos. Tal como a sonhava, a narrativa seria dividida em quatro volumes interligados que funcionariam a modo de portas de entrada para um labirinto de histórias. À medida que o leitor se internasse nas suas páginas sentiria que o relato se encaixava como um cojnunto de bonecas russas em que cada trama e cada personagem conduzia a outra e esta, por sua vez, a outra, e assim sucessivamente.» (pág. 808).
E podemos confirmar que, terminada esta magna leitura, fica o desejo de regressar a todos os outros livros, para regressar ao labirinto a partir de novas entradas.
Neste quarto volume da sua tetralogia – cuja saga o autor indicia indirectamente poder ser apelidada de O Cemitério dos Livros Esquecidos – regressamos a Barcelona – e esta cidade é muitas vezes a principal personagem, pelo cuidado das descrições mais realistas ou mais fantasiadas –, mas desta vez nos finais dos anos 1950 (para terminar depois em 1992).
A personagem principal desta vez não é Daniel Sempere, o menino de A sombra do vento, nem Fermín, mas sim Alicia Gris. Alicia é, sem exagero, uma das personagens mais crípticas que o autor nos dá a conhecer, pois muitas vezes o leitor só pode traçar um retrato a partir do medo que ela inspira nos que a conhecem. Muito raramente entramos na sua alma ou sabemos o que se sente sob a sua pele: uma solidão imensa que acompanha esta criança que ficou órfã durante a guerra civil. Alicia será, aliás, salva por Fermín, num daqueles acasos do destino literário, quando este a encontra com sete ou oito anos, sempre agarrada ao seu livro de Alice no País das Maravilhas. Não será por acaso que Alicia, cujo nome lembra o de Alice, vai depois cair com a explosão de uma outra bomba por uma cúpula de cristal e aterrar no centro do Cemitério dos Livros Esquecidos, à semelhança de Alice ao cair pelo buraco até aterrar no País das Maravilhas. Fermín parece também servir aqui de coelho branco ou guia para esse outro mundo, como as suas palavras já anunciavam: «Tudo o que seja cair por buracos e tropeçar com chanfrados e problemas matemáticos encaro-o a título autobiográfico» (pág. 54). Alicia – mais uma vez a lembrar a mente inquisitiva de Alice e os enigmas com que se vai deparando no País das Maravilhas – será depois uma investigadora, uma das melhores, pronta a «descer aos infernos em busca de problemas»: «Alicia Gris vê o que os outros não vêem. O seu cérebro funciona de uma maneira diferente do das outras pessoas. Onde todos vêem uma porta fechada, ela vê uma chave. Onde os outros perdem a pista, ela encontra o rasto. É um dom» (pág. 102). Alicia ficou ainda exteriormente marcada pela guerra a que sobreviveu, com um ferimento na anca direita, que lhe dá dores atrozes e a obriga a usar um arnês, o que lhe dava «um ar de boneca perversa, de marioneta de obscura beleza» e lembra um vampiro, uma «criatura das trevas», de «olhar gelado e penetrante», de riso frio, «indestrutível e dura como um diamante», «criatura de luz e sombra, como esta cidade», para quem «a solidão pode ser a melhor companhia»…
O autor junta neste livro todas as personagens e todas as obras anteriores, com o intuito de fechar todas as pontas soltas e desvendar todos os enigmas, pelo que só na segunda metade do livro iremos acabar por voltar a entrar na livraria e na família Sempere. Como muitas vezes se pode ler, não há propriamente um início para toda esta história, mas sim várias portas de entrada, tal como uma cidade, até porque afinal estamos a falar de um labirinto, um novelo de histórias passadas numa cidade labiríntica, onde se esconde um labirinto de livros. As referências literárias a obras e autores também abundam, como pistas para encontrar o caminho por entre o labirinto. Contudo mais do que labirinto, é muitas vezes a ideia de Inferno que persevera no livro, em diversas referências, inclusive a famosa citação de Dante, sendo a própria cidade comparada a esse Inferno pois aquela «Barcelona dos anos de 1930 (…) era, no julgamento dos entendidos, o que mais se lhe assemelhava.» (pág. 508). Recordemos que esta cidade sobrevive a uma guerra civil para depois passar ao jugo da ditadura franquista e é nesse clima de terror que podem vingar horrores como o que a nossa protagonista vai acabar por desvendar, auxiliada por Vargas. Desta forma, este romance partilha ainda do género policial e com um caso que é, de facto, bastante surpreendente e bem conseguido.
Parece, no entanto, restar uma última ponta solta, a do destino de Alicia que a certa altura do livro acaba por nos deixar, se bem que a resposta pode estar contida, como sempre, na própria história: «O que gostaria de fazer é viajar e ver mundo. Encontrar o meu lugar. Se é que existe.»
No final, e mais uma vez revelando a mestria de Zafón, é revelada uma surpresa, ao desvendar-se por fim o enigma mais premente de todos, quem é afinal o verdadeiro autor deste livro e de todos os outros?
«Tinha calculado que aquele magnum opus produto da minha febril imaginação juvenil atingiria dimensões diabólicas e uma massa corpórea a rondar os quinze quilos. Tal como a sonhava, a narrativa seria dividida em quatro volumes interligados que funcionariam a modo de portas de entrada para um labirinto de histórias. À medida que o leitor se internasse nas suas páginas sentiria que o relato se encaixava como um cojnunto de bonecas russas em que cada trama e cada personagem conduzia a outra e esta, por sua vez, a outra, e assim sucessivamente.» (pág. 808).
E podemos confirmar que, terminada esta magna leitura, fica o desejo de regressar a todos os outros livros, para regressar ao labirinto a partir de novas entradas.
Partilhamos o texto de apresentação enquanto não recenseamos a obra:
O Que Faria Eu se Estivesse no Meu Lugar? – 10 Conversas de vida com António Lobo Antunes, de Celso Filipe, publicado pela Planeta, é «Uma visão intimista de um dos maiores escritores da actualidade: o que pensa hoje António Lobo Antunes sobre o amor, a amizade, a infância e a família, o ofício de escritor, a fama, os prémios, a posteridade. À bolina e sem fronteiras pelo pensamento de um dos maiores escritores contemporâneos – a escrita e a posteridade vistas do lugar de uma amizade conversável. Para memória futura. «Este não é um livro do António Lobo Antunes nem um livro sobre o António Lobo Antunes. É uma mistura de ambos, construído a partir de 10 conversas que tiveram lugar entre Abril e Agosto de 2016. Quando o escritor me desafiou a fazermos um livro juntos, a tentação subsequente foi a de estabelecer um plano, cada conversa com um tempo, por exemplo, a linguagem, a família, o amor, os amigos.»
O Que Faria Eu se Estivesse no Meu Lugar? – 10 Conversas de vida com António Lobo Antunes, de Celso Filipe, publicado pela Planeta, é «Uma visão intimista de um dos maiores escritores da actualidade: o que pensa hoje António Lobo Antunes sobre o amor, a amizade, a infância e a família, o ofício de escritor, a fama, os prémios, a posteridade. À bolina e sem fronteiras pelo pensamento de um dos maiores escritores contemporâneos – a escrita e a posteridade vistas do lugar de uma amizade conversável. Para memória futura. «Este não é um livro do António Lobo Antunes nem um livro sobre o António Lobo Antunes. É uma mistura de ambos, construído a partir de 10 conversas que tiveram lugar entre Abril e Agosto de 2016. Quando o escritor me desafiou a fazermos um livro juntos, a tentação subsequente foi a de estabelecer um plano, cada conversa com um tempo, por exemplo, a linguagem, a família, o amor, os amigos.»
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016
Etiquetas
Akiara
Alfaguara
Annie Ernaux
Antígona
ASA
Bertrand Editora
Booker Prize
Bruno Vieira Amaral
Caminho
casa das Letras
Cavalo de Ferro
Companhia das Letras
Dom Quixote
Editorial Presença
Edições Tinta-da-china
Elena Ferrante
Elsinore
Fábula
Gradiva
Hélia Correia
Isabel Rio Novo
João de Melo
Juliet Marillier
Leya
Lilliput
Livros do Brasil
Lídia Jorge
Margaret Atwood
New York Times
Nobel da Literatura
Nuvem de Letras
Patrícia Reis
Pergaminho
Planeta
Porto Editora
Prémio Renaudot
Quetzal
Relógio d'Água
Relógio d’Água
Salman Rushdie
Série
Temas e Debates
Trilogia
Tânia Ganho
Um Lugar ao Sol