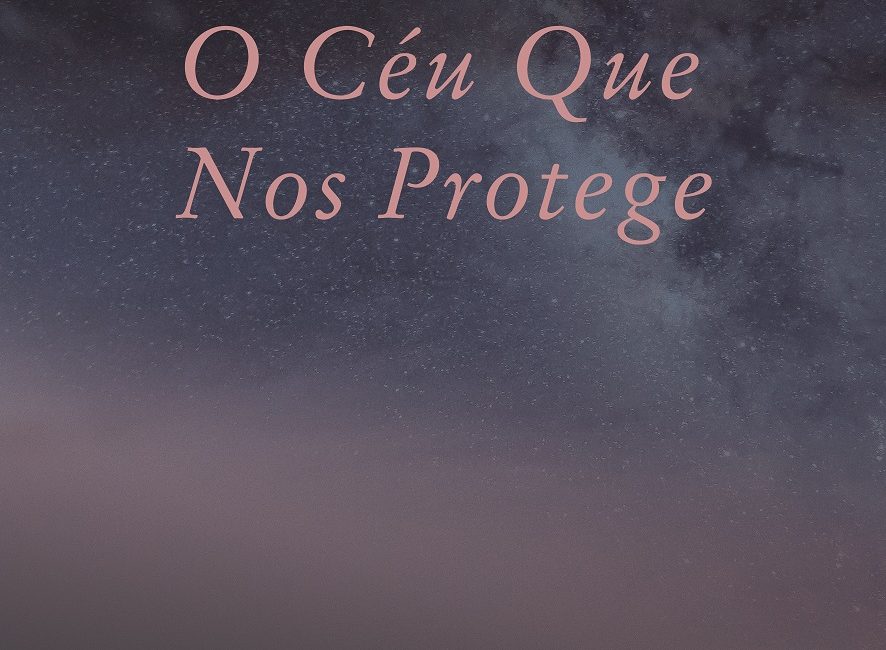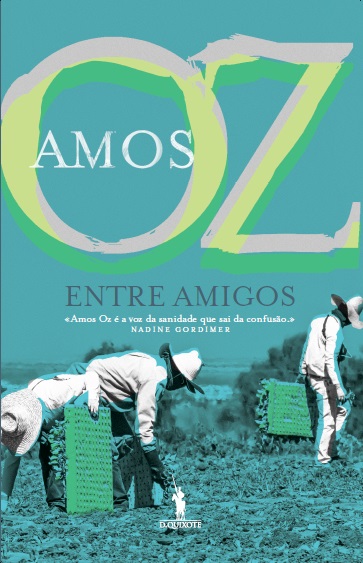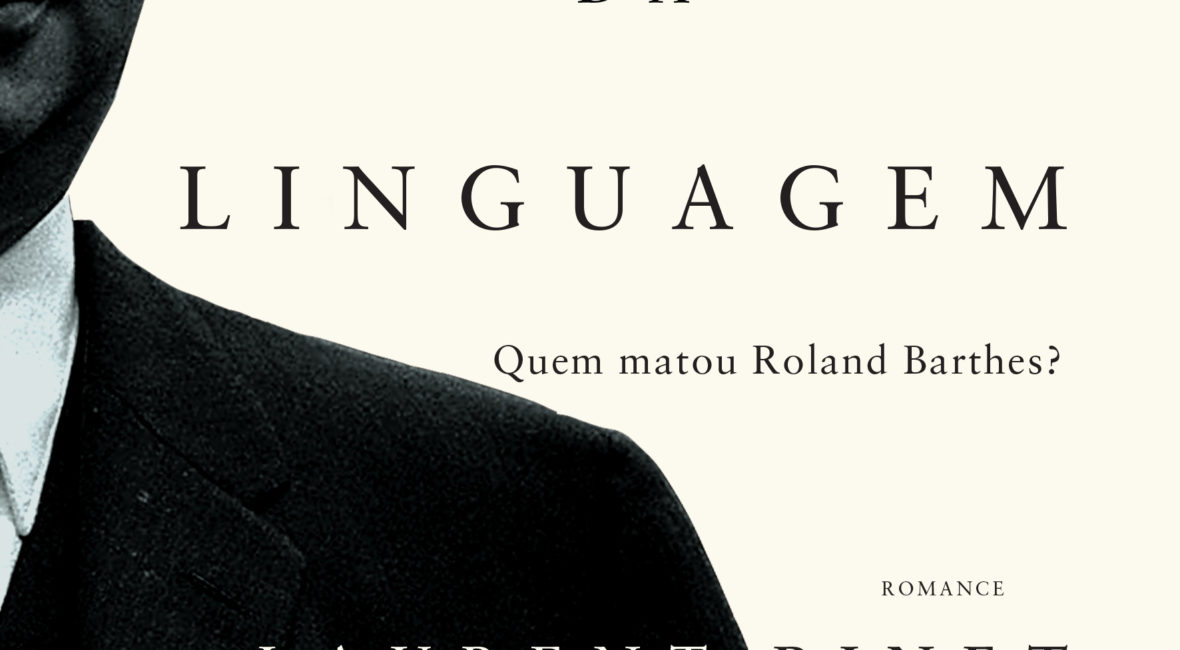Será finalmente publicada em Portugal no próximo dia 22 de Setembro a obra autobiográfica de Maya Angelou, com tradução de Tânia Ganho e posfácio de Diana V. Almeida Ver artigo
Um retrato cruel da fundação da América, nos anos 50 do século XIX, que recebeu o Prémio Costa para Melhor Livro do Ano (sendo a segunda vez que o autor vence este prémio). Publicado pela Bertrand.
A linguagem é singular, num registo muito próximo da oralidade e de um certo falar da época, com um humor bem doseado, conforme Thomas McNulty recorda na primeira pessoa, por volta dos seus cinquenta anos, os acontecimentos que viveu enquanto soldado, depois de ter começado como dançarina (sim, dançarina) por volta dos seus quinze anos de idade, sempre na companhia do seu amante e depois companheiro de armas John Cole.
«Não pensávamos no tempo como algo que pudesse ter um fim, era como se fosse continuar para sempre, tudo repousava e se interrompia naquele momento. É difícil explicar o que quero dizer com isto. Olhamos para trás, para todos os anos intermináveis em que nunca tivemos essa ideia. É o que faço agora, ao escrever estas palavras no Tennessee. Penso nos dias sem fim da minha vida. E agora não é assim. Pergunto-me que palavras dissemos tão descuidadamente naquela noite, que tolices vigorosas proferimos, que gritos bêbedos soltámos, que estúpida alegria havia em tudo aquilo. E o John Cole, como era jovem e mais bonito do que qualquer pessoa que alguma vez pisou a Terra. Jovem, e isso nunca mudaria. O coração cheio, a alma a cantar. Plenamente vivo na vida e feliz como as andorinhas sob os beirais da casa.» (p. 43)
Os autores irlandeses estão efectivamente na moda, e os livros de Sebastian Barry (nascido em Dublin em 1955) estão invariavelmente nas listas de prémios anglófonos como vencedor ou finalista.
Não li outros livros do autor (ainda) mas a linguagem, bela sem ser pretensiosa, alia-se a uma magnífica história. Ver artigo
O céu que nos protege, Paul Bowles
Paul Bowles nasceu em Nova Iorque em 1910 mas viveu grande parte da sua vida em Tânger, local que visitou pela primeira vez em 1931. Conheceu a escritora Jane Auer em 1937, com quem teve um casamento aberto (eram ambos bissexuais). Foi compositor, tradutor, professor de literatura, e escritor: contos, romances, viagens. A sua casa em Tânger, onde viveu durante 52 anos, e que apenas deixava quando ía até ao Sri Lanka, onde possuía outra casa, foi frequentada por figuras proeminentes da literatura como Gore Vidal (que aliás escreveu um romance protagonizado por ele) e Truman Capote.
O céu que nos protege é o quarto livro de Paul Bowles publicado na série «Viagens» da Quetzal, especialmente dedicada a este autor, e é o seu primeiro e grande romance, escrito em grande parte no deserto. Fortemente autobiográfico, pelo cenário do deserto, pela relação aberta do casal aqui retratado, Port e a mulher Kit, pela forte relação que o leitor pode estabelecer entre autor e personagem.
Aquilo que pode parecer a história de um casal à deriva no deserto do Sahara (onde o céu parece por vezes ser tudo o que existe e se pode tornar opressivo), por caminhos estranhos a um turismo mais convencional, e onde os outros poucos turistas que Port e Kit encontram são sempre descritos de forma extremamente caricata, subtil e gradualmente converte-se numa narrativa onde, mesmo quando tudo corre mal, a sobrevivência nunca é o instinto básico das personagens mas sim a fuga como escape. Se por um lado Port quer viajar como alguém que vive sem ter onde regressar, ao contrário de um turista ocasional, por outro nunca encontra paz no destino a que chega: «A felicidade, se é que ainda havia alguma, existia noutro lugar» (p. 59). E mesmo quando velada, é perceptível uma crítica à cultura e ao outro.
As relações entre este romance e a literatura de viagens são portanto bastante enganosas pois o passeio do turista que quer conhecer a alteridade para rapidamente desejar voltar ao conforto do familiar, converte-se aqui em desejo de fuga levado ao limite, numa viagem sem regresso. As premonições de Kit são aliás um presságio de que este livro, apesar do título, tem que ser sempre lido como um manto negro de noite que protege uma verdade inquietante: «Havia dias em que ao acordar, sentia o destino pairando sobre a cabeça como uma nuvem baixa, carregada de chuva.» (p. 45).
O livro foi adaptado ao cinema por Bernardo Bertolucci e interpretado por John Malkovich e Debra Winger, com música de Ryuichi Sakamoto. Ver artigo
Comunicado da Editorial Presença:
«PUBLICADO A 12 DE SETEMBRO DE 2017
Novo romance de Ken Follett num regresso ao universo de Os Pilares da Terra e de Um Mundo Sem Fim Ver artigo
Depois de um ano de 2016 particularmente generoso para Amos Oz, o escritor israelita mais lido no mundo, com a estreia no cinema da adaptação de Uma História de Amor e Trevas e com os prémios com que Judas foi distinguido, a Dom Quixote lança este conjunto de oito narrativas breves mas interligadas onde as personagens principais de uma história podem depois aparecer breve e indirectamente retratadas noutra.
O autor regressa ao espaço onde começou a escrever, fazendo de um kibutz (uma comunidade em Israel baseada no trabalho colectivo e na assistência mútua) durante os anos 50 a verdadeira personagem principal deste livro. As narrativas entretecem-se de modo a retratar a realidade múltipla e complexa de um espaço que se quer uno e uniforme onde, apesar de se viver numa comunidade fechada e essencialmente colaborativa, a solidão é ainda assim uma constante aparente no seio das várias personagens que deambulam nestas páginas.
Apesar de o livro tomar o título a partir de uma das histórias do livro, é na narrativa seguinte, sobre o jovem Moshe e o seu trabalho num galinheiro, que melhor se pressente alguma intenção crítica do autor em relação à descrição da vida no kibutz, onde se parece estabelecer uma comparação indirecta entre as galinhas presas nas gaiolas e os habitantes de um espaço fechado como o kibutz: «nunca houve nem haverá entre as galinhas duas exactamente iguais. A nós pareciam-nos todas iguais, mas elas diferem umas das outras tal e qual os seres humanos pois, desde a criação do mundo, ainda não nasceram duas criaturas perfeitamente iguais. No seu íntimo, Moshe já decidira que um dia seria vegetariano e talvez até vegan, mas resolvera adiar a concretização da decisão, porwque não é fácil ser vegetariano na companhia dos jovens do kibutz» (p. 66). As experiências pessoais parecem assim anular-se à sombra de um sonho colectivo, onde é inevitável abdicar da liberdade, pois querer vincar a nossa vontade só pode ser um acto egoísta.
A própria diversidade de pontos de vista, de uma narrativa e de uma personagem para outra, permite complexificar a problemática do kibutz e da ideologia que representa, sendo que o seu futuro parece aliás ameaçado: «Daqui a vinte ou trinta anos os kibutzes não serão mais que bairros ajardinados e os seus habitantes proprietários de casas satisfeitos.» (p. 161). Ver artigo
Cora é uma jovem escrava que nasceu numa plantação de algodão e apesar de nunca o ter ponderado é confrontada com a possibilidade de escolha quando Caesar lhe propõe fugir. Cora diz que não à primeira, sendo essa recusa automática a voz da avó dela, Ajarry, a falar em si. Lemos depois como Ajarry viu o mar pela primeira vez, quando é levada para as masmorras onde mulheres e crianças raptadas nas aldeias de África esperavam pelos barcos que as levariam para as Américas. Durante o seu percurso Ajarry será vendida por várias vezes, passando de uns negreiros para outros; tenta matar-se por duas vezes, na travessia do Atlântico; é marcada por várias vezes, como uma peça de gado; e o seu preço vai flutuando ao sabor do mercado, até porque há excesso de raparigas na altura, até ser vendida por duzentos e noventa e dois dólares.
Três semanas mais tarde, quando Caesar lhe volta a falar num caminho de fuga Cora acaba por dizer que sim, e dessa vez sente que é a voz da mãe, Mabel, a falar por ela, a única escrava que terá conseguido fugir da plantação.
Cora é uma personagem intrigante. Se ao início julgamos que é louca, como os restantes escravos a consideram, assistimos depois a um crescendo da personagem. Cora aliás percebe claramente a verdadeira razão por trás do convite de Caesar para o acompanhar na sua fuga: «- Achas que sou uma sortuda encantadora porque a Mabel fugiu. Mas não sou. Já me viste. Já viste aquilo que nos acontece quando temos ideias na cabeça.» (p. 64).
Cora guarda rancor à mãe que para poder fugir a terá abandonado aos dez ou onze anos (pois todos sabem que os pretos não faziam anos, simplesmente escolhiam um dia para celebrar o seu aniversário) e procura agarrar-se à única coisa que tem: um pedaço de terra de três metros quadrados onde a avó cultivava nabos e inhames. Ver artigo
No dia 25 de Fevereiro de 1980, o linguista, filósofo e crítico literário, o estruturalista Roland Barthes é vítima de um atropelamento. Morre um mês depois, no seu quarto de hospital.
Quem matou Roland Barthes na tentativa de se apoderar da sua mais recente descoberta, a sétima função da linguagem?
O comissário Jacques Bayard vai investigar o caso mas cedo se apercebe, conforme o seu inquérito o leva a cruzar-se com figuras como Michel Foucault, Derrida, Julia Kristeva, Umberto Eco, de que se move num círculo restrito e de que precisa alguém que lhe saiba descodificar as suas conversas crípticas e que saiba ler as pessoas. Rapidamente recruta Simon Herzog, um doutorando e professor de Semiologia, com capacidades dedutoras dignas de Sherlock Holmes.
Apesar das quase 500 páginas, da profusão de citações e referências literárias, o romance lê-se muito bem, lembrando mesmo, numa acção que se desenrola de modo rápido e nos capítulos muitas vezes curtos que se sucedem, um mistério à la Dan Brown, onde se cruzam os literários da época (não falta Roman Jakobson), figuras do cinema, espiões, sociedades secretas que se baseiam nos poderes da oratória. Este romance de Laurent Binet – jornalista, escritor, músico, professor de Ciência Política – daria um bom filme. Não faltam aliás referências ao cinema e cada uma das partes do livro é localizada numa cidade diferente, como Paris, Bolonha, Ithaca, Veneza, Nápoles.
Numa «sátira insolente e tão divertida como apaixonante sobre o mundo narcísico dos intelectuais, o poder da palavra, as ilusões da literatura», a literatura cruza-se com a linguística, a política e o sexo, numa série de peripécias que raiam o surreal e onde uma das personagens principais dá por si a interrogar-se constantemente se não será antes uma personagem de um romance, o que explicaria o insólito que testemunha.
E agora vou tentar esticar isto para uma recensão de 10 000 caracteres… Ver artigo
Esta obra, publicada em 1986 com o título original de Alias Grace, vai estrear lá fora em mini-série televisiva no dia 26 de Setembro, parece-me que composta por 3 episódios transmitidos na Netflix.
Gostei muito deste romance da autora canadiana em que temos não um salto ao futuro como a distopia A História de uma Serva (já apresentado neste blogue) e que deu origem ao sucesso televisivo da série The Handmaid’s Tale, da Hulu, mas um recuo ao passado com um romance histórico baseado em factos verídicos, mais exactamente no polémico caso de Grace Marks, uma das mais famosas canadianas da década de 1840, condenada por homicídio aos dezasseis anos de idade.
O livro tem uma escrita apaixonante, e envolve num enredo intrigante, em que como o próprio título indica, nos mantém constantemente na dúvida entre a inocência ou culpa de Grace. É também e, antes de mais, um romance histórico que apresenta o Canadá nos seus primórdios e um romance feminista, até porque Grace representa «a ambiguidade contemporânea acerca da natureza das mulheres: seria Grace um demónio feminino e uma tentadora, a instigadora do crime e a verdadeira assassina de Nancy Montgomery, ou seria uma vítima involuntária, forçada a manter o silêncio pelas ameaças de McDermott e por recear pela sua própria vida?» (p. 434).
Existem diversas citações de obras da época que reflectem o mediatismo do caso de Grace mas como a própria autora refere no «Posfácio» à obra: «Quando tinha dúvidas, tentei optar pelo que me parecia mais provável, embora introduzindo todas as probabilidades sempre que possível. Quando havia meras sugestões e nítidas lacunas nos registos, senti-me à vontade para inventar.» (p. 437). Não falta, no entanto, uma certa nota de fantasia, condizente à época que acolheu entusiasticamente o espiritismo e o mesmerismo.
O livro foi publicado em Portugal pela Livros do Brasil, que aliás tem agora sido relançada com a colecção Miniatura, publicando grandes livros em formato pequeno e a preço reduzido. Sugeri ao departamento de comunicação que relançasse este Criminosa ou inocente?, sugestão que foi recebida com agrado, pelo que ainda acredito que o livro seja publicado a propósito da série que, esperemos, seja também transmitida nos canais nacionais. Ver artigo
Zadie Smith nasceu na zona noroeste (NW, como no título do seu anterior romance) de Londres em 1975. Estudou Literatura Inglesa na Universidade de Cambridge, é membro da Royal Society of Literature e foi eleita duas vezes pela revista Granta como um dos melhores vinte romancistas britânicos com menos de 40 anos. Dentes Brancos (2000) foi o seu primeiro romance e marcou uma estrondosa estreia na ficção, premiado com o Guardian First Book Award, o Whitbread First Novel Award, e foi finalista do Booker Prize. Todos os seus romances encontram-se aliás distinguidos com os mais diversos prémios. Ao romance O Homem dos Autógrafos (2002) seguiu-se Uma Questão de Beleza (2005), considerado um dos dez melhores romances do ano, finalista do Man Booker Prize e premiado com o Orange Prize for Fiction 2006. Em 2012 publicou NW, finalista do National Book Critics Circle Award 2012, e considerado pelo New York Times e pelo Washington Post como um dos livros de destaque desse ano.
Swing time é o seu quinto romance, traduzido por Francisco Agarez e publicado pela Dom Quixote em Junho (que tem publicada toda a sua obra). Além do burburinho que se tem criado desde a sua publicação lá fora, saiu há dias a notícia de que é um dos romances nomeados para o Man Booker Prize 2017 (à semelhança do mais recente romance de Arundhati Roy, também apresentado aqui no mês passado).
No «Prólogo», lemos como a protagonista passou por uma humilhação que a deixa suspensa num interregno, período esse que traz provavelmente a longa reflexão e busca pessoal em que se torna este romance. Corre o ano de 2008 e a personagem passou «tanto tempo fora de Inglaterra que agora havia muitas expressões britânicas coloquiais e simples que me soavam exóticas, quase absurdas» (p. 12).
O eu como espelho
O livro divide-se em sete partes, sendo a primeira parte, justamente intitulada «Primeiros Tempos», correspondente à infância da protagonista, quando ela tem uns nove anos, para a partir da segunda parte a narrativa passar a alternar entre a infância e a idade adulta, quando a protagonista tem quase trinta anos, trabalha com Aimee há sete e deixou de falar com Tracey por volta dos vinte e dois anos.
«Se é possível pensar em todos os sábados de 1982 como um só dia, conheci Tracey às dez da manhã desse sábado, quando atravessávamos o areão de um adro de igreja, cada qual pela mão da sua mãe. Estavam presentes muitas outras raparigas, mas por razões óbvias reparámos uma na outra, nas semelhanças e nas diferenças, como fazem as raparigas. O nosso tom de castanho era exatamente o mesmo – como se tivessem cortado da mesma peça de tecido cor de canela para nos fazerem a ambas – e as nossas sardas concentravam-se nos mesmos sítios, éramos da mesma altura.» (p. 19)
Se por um lado a protagonista do livro não tem nome, por outro é difícil não sentir nesta torrente feita na primeira pessoa uma confissão em jeito autobiográfico, até porque esta jovem é, como a autora, mestiça, e oriunda da mesma cidade e zona (novamente o Noroeste de Londres). É sempre a partir da outra que ocorre a escrita do “eu”, ou seja, a voz da protagonista e os moldes da sua identidade definem-se sempre a partir, primeiro, da sua relação com a mãe, depois com a amiga Tracey, mais tarde com a chefe Aimee…
«Estava a ter a revelação de uma verdade: que sempre me havia ligado à luz de outras pessoas, que nunca tivera luz própria. Sentia-me uma espécie de sombra.» (p. 14)
Esse contraste é particularmente notório na amizade da protagonista com Tracey, pois apesar das semelhanças, as simetrias (Tracey é filha de mãe branca e pai negro) e os contrastes são mais fortes, nomeadamente pela atitude destemida e irreverente de Tracey que será também das duas aquela que evidencia desde logo ter verdadeiro talento na dança, pois é em aulas de dança que ambas as amigas se irão conhecer. Note-se como a jovem protagonista evidencia ter uma boa voz mas procura sempre nunca cantar demasiado alto.
Identidade mista
Na visão do mundo que aqui se vai construíndo está bem marcada a classe social de estrato económico baixo, apesar de a mãe sempre se ter orgulhado de não recorrer a subsídios, mas mais importante é a identidade mista da jovem sem nome: «Mas isso não a confundirá no seu crescimento?», «Como é que ela escolherá entre as vossas culturas?» (p. 162).
Há um fino humor, nomeadamente na forma como se descreve a relação entre a protagonista e a mãe: «Laços amarelos de cetim eram um fenómeno que a minha mãe desconhecia. Apanhava-me a grande gaforina atrás numa única nuvem, presa por um elástico preto. A minha mãe era feminista. Usava o cabelo num corte afro de meia polegada» (p. 19).
A mãe é também a personagem que revela um percurso mais interessante e surpreendente, de dona de casa que expulsa o marido e a filha para poder estar tranquilamente em casa aos sábados a assistir à sua tele-escola para mais tarde se tornar uma deputada com uma relação lésbica assumida: «Estava eufórica, a poucos dias de se tornar Membro do Parlamento pelo círculo de Brent West, e (…) senti, como de costume, a minha pequenez em comparação com ela, com o nível que havia atingido, a trivialidade daquilo que fazia em comparação com o que ela fazia, apesar de todas as suas tentativas de me orientar para outro caminho.» (p. 155).
A dada altura, a mãe acusa mesmo a filha de se ter anulado de tal forma no seu trabalho com Aimee, uma estrela pop que se reinventa continuamente e que aposta no trabalho humanitário como boa publicidade, que esqueceu mesmo as suas raízes: «As pessoas vêm de algures, têm raízes – tu permitiste que esta mulher arrancasse as tuas. Não vives em sítio nenhum, não tens nada teu, passas o tempo num avião» (p. 160). A globalização como tema identitário é também premente, como aparece personificada em Aimee: «Reparei que já não tinha sotaque australiano, mas também não era bem americano nem bem britânico, era global: era Nova Iorque e Paris e Moscovo e LA e Londres, tudo junto.» (p. 101).
Curiosamente, é graças a Aimee que de alguma forma a sua assistente pessoal acaba por partir para uma experiência decisiva em África. Porque este é também um romance de poder, como se pode ler nesta tiragem do discurso de Aimee, pese embora a inspiração por si bebida em livros dúbios de auto-ajuda: «Os governos são inúteis, não se pode confiar neles, explicou-me Aimee, e as organizações humanitárias têm agendas próprias, as igrejas preocupam-se mais com as almas do que com os corpos. E, portanto, se quisermos que este mundo mude realmente (…) teremos de ser nós a fazê-la, sim, teremos de ser nós a mudança que queremos ver acontecer.» (p. 131).
Tempo, som, ritmo
Regressando ainda ao «Prólogo», ficamos a saber que o título do livro se deve ao fascínio pelo filme homónimo com Fred Astaire: «Entretanto o realizador falou de uma teoria que tinha sobre o «cinema puro», que começou por definir como a «interação entre a luz e a escuridão, expressa como uma espécie de ritmo, ao longo do tempo», mas eu achei o raciocínio enfadonho e difícil de acompanhar» (p. 13).
As referências ao cinema, aos musicais e à música são diversas, numa era em que o digital vai matando as estrelas do vídeo e os VHS que se rebobinavam constantemente até gastar a fita à espera de rever a cena tão desejada se tornam obsoletos. Mas é fora do digital e do que é passível de ser partilhado mundialmente, num mundo dito primitivo, que a jovem descobre um dançarino que suplanta Fred Astaire: «O maior dançarino que vi na minha vida foi o kankurang. Mas na altura não sabia quem era, ou o quê: uma forma alaranjada que se agitava freneticamente, da altura de um homem, mas sem cara de homem, coberta com muitas folhas sobrepostas, sibilantes.» (p. 167). Note-se ainda que é quando canta que a nossa heroína parece capaz de sentir as suas raízes e sentir não só que o seu eu se expande, como estar em comunhão com os demais e sentir a pertença a uma comunidade: «Cheguei a ter uma visão sentimental de mim como elemento de uma longa linhagem de extrovertidos irmãos e irmãs, compositores, cantores, músicos, dançarinos, pois não tinha eu também o dom tantas vezes atribuído ao meu povo? Sabia transformar tempo em frases musicais, em ritmos e notas, atrasando-o e acelerando-o, gerindo o tempo da minha vida, por fim, até que enfim, aqui, em cima de um palco, ainda que só aqui.» (p. 143). A linguagem é coloquial, rápida, em frases que se distendem, onde não faltam repetições como que a marcar o ritmo. E é no sentir a música, em vez de a pensar (como quem mergulha na torrente desta narrativa), que se parece resolver e responder aos dilemas que pareciam irresolúveis. Ver artigo
Depois do sucesso de Jessie Burton com O Miniaturista, obra que vendeu mais de um milhão de exemplares por todo o mundo, com direitos vendidos para trinta países, e vencedora de diversos prémios, a Editorial Presença publica agora A musa.
A história é contada em planos alternados, como forma de adensar o mistério, entre a Londres do século vinte, durante os anos sessenta, quando o racismo ainda é uma questão social muito marcada, vivida na pele de Odelle Bastien, uma jovem caribenha recém-chegada à capital do Império, e a Espanha rural e isolada de 1936, conforme se aproxima o deflagrar da Guerra Civil, quando Olive Schloss, filha de um negociante alemão de arte, recebe uma carta da Slade School of Fine Art, convidando-a a frequentar o curso de Belas Artes. No início do livro, ambas as personagens centrais recebem uma carta que pode determinar o resto do curso das suas vidas, indiciando-se desde logo que as vidas de ambas estarão ligadas ao longo da história, até porque é no ano de 1967 que o passado ressurge para algumas personagens ao mesmo tempo que se impõe a outras como um enigma a resolver.
O enigma é um quadro intitulado Rufina e o Leão que terá sido pintado pelo artista ou revolucionário andaluzo Isaac Robles e permaneceu desconhecido até que um jovem enamorado por Olive aparece no seu trabalho com um quadro que a mãe teve toda a sua vida pendurado numa parede do quarto e que nem sequer está emoldurado. Mas enquanto Odelle abraça o trabalho tão desejado que lhe permite dar o salto de uma sapataria para o Skelton Institute of Art, como dactilógrafa, Olive prefere renunciar à escola de artes pois sabe que a família nunca a apoiaria. E tal como na História e na vida o passado nunca é inteiramente recuperável ou transparente, há obras de arte que fascinam e seduzem ao mesmo tempo que ocultam histórias trágicas de amor, perda, mentira, traição e morte. A história é ligeira, provavelmente mais cativante para um público feminino, mas cheia de peripécias e com um sólido ambiente histórico. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016
Etiquetas
Akiara
Alfaguara
Annie Ernaux
Antígona
ASA
Bertrand Editora
Booker Prize
Bruno Vieira Amaral
Caminho
casa das Letras
Cavalo de Ferro
Companhia das Letras
Dom Quixote
Editorial Presença
Edições Tinta-da-china
Elena Ferrante
Elsinore
Fábula
Gradiva
Hélia Correia
Isabel Rio Novo
João de Melo
Juliet Marillier
Leya
Lilliput
Livros do Brasil
Lídia Jorge
Margaret Atwood
New York Times
Nobel da Literatura
Nuvem de Letras
Patrícia Reis
Pergaminho
Planeta
Porto Editora
Prémio Renaudot
Quetzal
Relógio d'Água
Relógio d’Água
Salman Rushdie
Série
Temas e Debates
Trilogia
Tânia Ganho
Um Lugar ao Sol