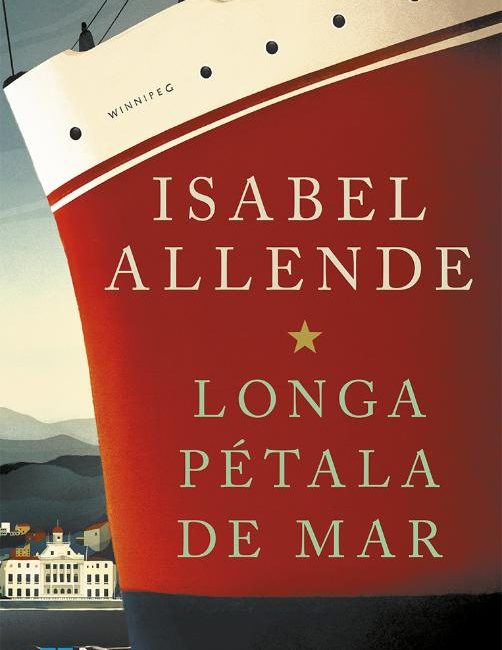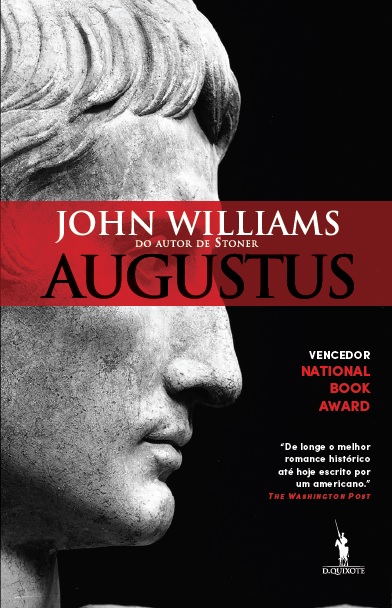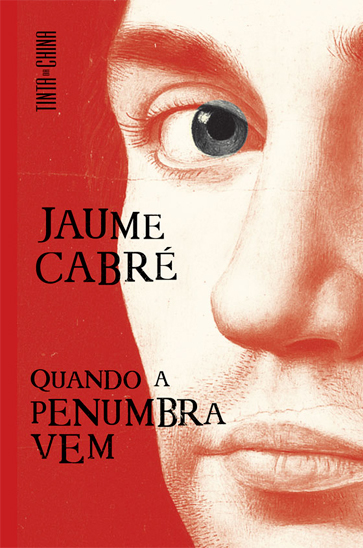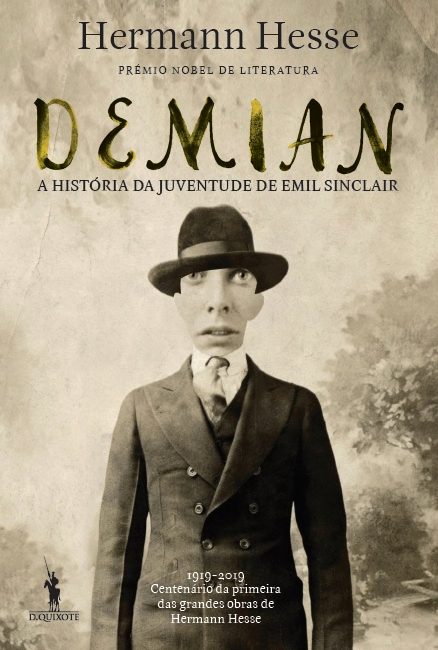Um pequeno e poderoso romance de Martin Amis, cuja obra é publicada pela Quetzal, onde explora o potencial negro do policial. Bastante diferente dos seus outros romances, pode não agradar aos seus habituais leitores. Este romance nada tem de ligeiro nem de gratuito, caso se queira julgar esta narrativa como a singela tentativa de incorrer num género popular. A narrativa pode até seguir a receita clássica das histórias de detectives, mas com deturpações subtis e pistas que apontam para a tragédia de um buraco negro de uma existência, à semelhança das noites insones de Mike. O título do livro parte de uma música referida duas vezes, um blues, também usado como metáfora: «O suicídio é o comboio da noite, a correr para as trevas. Por meios naturais, não se chega lá tão depressa.» (p. 77)
Mike Hoolihan é uma mulher detective que se move num mundo quase exclusivamente masculino, e que parece ela própria um homem, sendo confundida como tal mais que uma vez. O seu nome é masculino, a sua aparência é masculina, a sua admiração pela beleza de Jennifer é quase homoerótica, e até as suas relações sentimentais são pautadas por extrema violência, como se tentasse provar a sua superioridade física em relação aos parceiros. Os seus próprios métodos de interrogamento são muito pouco convencionais, como acontece em diversos momentos do romance.
Ainda que de início o autor pareça fomentar no leitor um distanciamento crítico face à narrativa, como acontece em geral nas suas obras, e até mesmo uma antipatia pela protagonista, rapidamente sentimos que a nossa perspectiva é toldada pela da mulher polícia face ao crime com que se depara, ao que acresce que Mike conhecia bem a vítima, filha do seu superior e mentor. E gradualmente sentiremos empatia por Mike, ao mesmo tempo que ela própria, num curioso reverso do homicida que pretende identificar-se com as suas vítimas ou criar uma afinidade forçada, dá por si a querer vestir a pele da vítima, ao ponto de começar a desenvolver sentimentos pelo seu namorado e a derramar lágrimas pela vítima.
Ao lutar pela sobriedade e lucidez num mundo negro, pautado por insónias provocadas ou prenunciadas pela passagem do comboio da noite às 4h da madrugada, Mike vê-se primeiro impelida pelo pai de Jennifer, seu antigo chefe, e depois compelida pelo mistério da morte dessa jovem que tinha tudo para ser feliz e aparentava estar sempre radiante. Homicídio ou suicídio pouco encenado? Como é que uma suicida pode ter 3 balas alojadas no cérebro, sobrevivendo ao primeiro auto-disparo da arma que segurava? O que pode levar uma jovem muito bela, de silhueta perfeita, recatada, e inteligente ao ponto de sondar os mistérios do universo, a decidir pôr termo à vida? Ver artigo
O Amante Japonês era já um prenúncio do retorno aos grandes romances desta autora chilena, dos que nos puxam de súbito para dentro da sua escrita fluída, onde vigora um universo meio histórico meio intemporal povoado por personagens carismáticas de paixões intensas. Longa Pétala de Mar é um poderoso romance que resgata a inventiva e original voz de Isabel Allende, a sua ironia e humor muito próprios, e um sentido da vida que daria para escrever alguns livros motivacionais, sem cair jamais no delicodoce daquilo que se pode entender como chic literature. Este livro foi lançado primeiro pelo Círculo de Leitores (numa edição de capa dura), com a revista distribuída aos sócios em Outubro, e depois publicado pela Porto Editora.
Mesmo com livros anteriores da autora, bastante sofríveis (O Jogo de Ripper), em que a história se arrasta sem qualquer chama, ler Isabel Allende sempre foi um dos meus prazeres íntimos. E Depois das várias tentativas mais ou menos bem sucedidas de romance histórico em que a autora tem intentado, a história deste livro está perfeitamente doseada entre o encanto mágico das primeiras obras da autora e um contexto histórico concreto, no caso a Guerra Civil de Espanha, sob a sombra do regime de Franco e a iminência da Segunda Guerra, que servem apenas de intróito ao verdadeiro tema a tratar.
Em 1938, encontramos Victor Dalmau, um jovem estudante de medicina que dá por si incorporado na frente de combate como auxiliar de medicina; Roser Bruguera, uma jovem humilde que de pastora de cabras se converte numa pianista exímia; Ofelia, uma jovem chilena de boas famílias com casamento arranjado; Pablo Neruda, um poeta que ousa fretar um navio onde embarca mais de dois mil espanhóis rumo a Valparaíso, em fuga a uma Espanha em ruínas.
Allende aposta em diversas frentes para conseguir, capítulos depois, entretecer de forma exímia todas as histórias, sem que o fio da narrativa e a sua prosa torrentosa se quebre, envolvendo plenamente o leitor, sem lhe dar tempo para sequer pensar em parar.
Enquanto o Velho Mundo mergulha numa confusão sem precedentes, e a Espanha se dilacera numa guerra durante novecentos e oitenta e oito dias e que culmina com o reconhecimento da legitimidade do governo de Franco, o Chile surge como «um paraíso atrasado e distante» (p. 100) onde os espanhóis procuram uma segunda oportunidade.
Temos, desde as primeiras linhas, frases que demarcam o estilo próprio de Allende, como «Era uma enfermeira suiça de vinte e quatro anos, com um rosto de virgem renascentista e a coragem de um guerreiro empedernido.» (p. 18). Também bastante recorrente na escrita de Allende é a forma como muitas vezes o seu romance antecipa o futuro: «- Nem morta te direi – e essa seria a única resposta que sairia da sua boca durante os cinquenta anos seguintes.» (p. 203)
O maravilhoso ainda dá algumas mostras de vida, recuperando a figura mítica do fantasma, que tão bem define o próprio realismo mágico latino-americano, como símbolo de fusão entre o real e o irreal: «Não havia memória de ter jamais habitado uma criança naquela sombria mansão de pedra, por onde deambulavam gatos semisselvagens e uma prole de fantasmas de outras épocas.» (p. 31) Ou no exagero que acentua o horror da guerra: «Tanto sangue corria que, no ano seguinte, os camponeses trejuravam que as cebolas eram vermelhas e que por vezes se encontravam dentes humanos no interior das batatas.» (p. 58)
Mas o mágico é uma corrente de escrita definitivamente preterida pela autora, sem que isso quebre o encanto da leitura. E a páginas tantas podemos até encontrar uma breve, indirecta, referência a Clara: «- É uma mulher muito extravagante. Dizem que fala com os mortos!» (p. 95). Clara, claríssima, clarividente… Uma personagem que de tal forma me apaixonou em A Casa dos Espíritos que, mais de 20 anos depois, fiz questão de baptizar a minha sobrinha com esse nome (por sorte, não foi preciso convencer muito os pais).
Se em A Casa dos Espíritos, onde também encontrávamos Salvador Allende (o Presidente) e Pablo Neruda (o Poeta) como personagens de ficção, o mágico concentrado em torno dos dons de Clara vai recuando, conforme a política se impõe, num regime ditatorial de terror, em Longa Pétala de Mar (título retirado a um poema de Neruda) o caminho é inverso, transpondo o umbral entre um mundo que soçobra, onde não faltam alusões aos horrores de Guernica e à batalha do Ebro, e um paraíso a descobrir, num Chile sinuoso e remoto, onde as paixões são violentas e os temperamentos são bruscos mas honestos e leais. Ver artigo
Depois de O Nervo Ótico, o seu romance de estreia, a Dom Quixote publica agora Hotel Melancólico, de María Gainza, onde, à semelhança da obra anterior, esta autora argentina faz luz sobre a memória e a recriação fictícia da memória, a ficção e a realidade, com a arte e a literatura como ponto de referência.
A narradora que dá entrada no Hotel Étoile foi em tempos uma crítica de arte com carreira e prestígio e conta-nos como, aos 25 anos, começou a trabalhar com uma avaliadora de obras de arte. Enriqueta, com o seu «olho de falcão», rapidamente a perfilha, ensinando-lhe tudo o que sabe sobre falsificações e transmitindo-lhe histórias da sua própria vida como a do Hotel Melancólico, onde viviam artistas que copiavam quadros para ganhar a vida, em particular a Negra, que mais do que copiar “pinta à maneira dos artistas”, e se torna a figura central deste romance, o ponto de fuga onde converge a própria história da narradora.
O título original do romance é La Luz Negra, o que aliás ilumina melhor a arquitectura da narrativa, quando começamos a conhecer Enriqueta, «rejeitava completamente qualquer avanço tecnológico em matéria de autenticação de uma obra, confiando apenas numa lanterna que emitia uma ténue radiação azul e lhe cabia na palma da mão – «a luz negra», como lhe chamavam no meio forense.» (p. 15)
Como símbolos secretos num quadro, esta narrativa é pontuada por diversos pormenores, como a personagem esquiva de Negra, a luz negra que revela o oculto nas várias camadas de um artefacto, o ensino da arte que fomenta a cópia como imitação do passado, a falsificação de uma obra de arte poder ser superior a um original, a vida assente numa história bem contada que passa por verdade, as lacunas de uma biografia como espaços negros que enriquecem a narrativa dessa vida, a palavra «negra» designar em espanhol um «escritor fantasma», a memória como uma Negra…
«Há quem acredite que a memória é um telescópio capaz de captar o passado com a mesma precisão com que o Hubble captou os Pilares da Criação; exige apenas um esforço sustentado de concentração e vontade. A memória deve ter um bom assessor de imprensa porque na realidade, como instrumento de precisão ótica, me parece pouco mais do que um caleidoscópio de feira. Reconstruir uma experiência através de imagens armazenadas no nosso cérebro é um ato que, por vezes, confina com a alucinação.» (p. 100)
Jonah Lehrer fala justamente de como a memória se reinventa e pinta um quadro no seu ensaio Proust era um neurocientista – Como a arte antecipa a ciência.
O humor que aqui perpassa é, também ele, negro, à semelhança do sorriso torto e enviesado da protagonista, tal como a própria voz narrativa é irreverente e original, num registo que anda entre a ficção e o ensaio, com laivos de subtil perspicácia sobre a vida e a arte, e de como a arte se reflecte na vida (e não o inverso): «havia dias em que, se o céu ao entardecer fosse límpido, uma rara combinação de radiação solar, poluição e anúncios de néon banhava todo o espaço à nossa volta de uma luz cor de maçã assada, a mesma dos quadros do pré-rafaelita Burne-Jones.» (p. 17) Ver artigo
John Williams, tendo vivido entre 1922 e 1994, foi professor de língua inglesa e de escrita criativa durante 30 anos na Universidade de Denver. Escreveu 4 romances, dois deles já publicados pela Dom Quixote e apresentados aqui (Stoner e Butcher’s Crossing), e Nothing But the Night (1948), o seu romance de estreia, ainda por traduzir. Augustus foi o seu último romance (sem contar com o seu quinto trabalho que ficou inacabado) e o único que lhe trouxe notoriedade em vida: vencedor do National Book Award; considerado a sua obra-prima; possivelmente o melhor romance histórico escrito por um autor norte-americano. Enquanto que em Stoner e Butcher’s Crossing, John Williams escreve sobre realidades mais próximas – não será por acaso que ambos os protagonistas destes romances têm William no nome –, o autor muda aqui completamente a trajectória da sua temática e debruça-se sobre o primeiro imperador de Roma e que deu origem a uma era augusta e à Pax Romana.
Ano de 44 a.C., nos idos de Março. Uma tarde de sol brilhante, quente. Um emissário de Roma traz a notícia do assassinato de Júlio César. Este dia fatídico, em que Octávio, o sobrinho frágil e enfermiço de César, abandona em definitivo a sua juventude e inocência aos 19 anos, é narrado no diário de um seu amigo.
A história do império de Augustus é contada em fragmentos, de modo polifónico, como quem junta dezenas de tesselas, as pequenas peças cúbicas que formam um mosaico. Entretecendo cartas, biografias, memórias, apontamentos de diários, ou até éditos de personagens como Marco António, Cleópatra, Cícero ou Estrabão, e onde se evocam ainda outros como Virgílio, Ovídio e Horácio, o herdeiro contestado de César é sempre perspectivado pelos outros, os seus poucos amigos e os muitos inimigos: «Peço-vos que fiqueis ciente de que compreendo a dificuldade da vossa tarefa no governo desta extraordinária nação que amo e odeio, e deste extraordinário Império que me horroriza e me enche de orgulho. Sei, melhor do que a maioria, até que ponto trocastes a vossa felicidade pela sobrevivência do nosso país; e sei do desprezo que tendes pelo poder que vos foi imposto – só alguém com desprezo pelo poder poderia tê-lo usado tão bem.» (p. 242)
O romance dá conta da ascensão de Octávio a Primeiro Homem de Roma e da sua transformação em Augustus, o mais formidável imperador de Roma, com a sua fria eficácia e que tentou mesmo legislar contra as paixões do coração humano por serem perturbadoras da ordem (p. 243). Com a mesma surpresa crescente com que os seus inimigos o conheceram (e dão por eles a admirá-lo e a respeitá-lo), o leitor assiste à criação do mito, conforme constata igualmente que até um imperador pode ser um mero peão face aos caprichos do devir histórico. E ao mito segue-se, a caminho do fim, o retirar da máscara, conforme o imperador se torna novamente homem, quando nas últimas (quase) 40 páginas ganha a sua própria voz.
Um dos aspectos mais curiosos do romance, onde predominarão gradualmente excertos do seu diário, escrito em 4 d.C., consiste no destaque conferido a Júlia, filha do Imperador Octávio César que, ao contrário do pai, parece inebriar-se com o poder que Roma lhe atribui, quando aos 27 anos, grávida do quinto filho, duas vezes viúva, se auto-intitula de deusa e segunda mulher de Roma. Ver artigo
Ao entrarmos nas primeiras páginas de Milkman, de Anna Burns, publicado pela Porto Editora, deparamo-nos com alguma dificuldade, um certo estranhamento face a uma escrita torrentosa, feita de frases distendidas, num registo muito próximo da oralidade, onde as palavras se repetem em eco, num mundo onde nada é mencionado pelo nome, nem mesmo a protagonista e as irmãs e cunhados.
A irmã do meio tem dezoito anos e vive numa cidade, num país, onde a violência explodia à mínima coisa, onde apesar de haver tiroteios, bombas, protestos, confrontos, esta jovem gosta de caminhar enquanto lê, e sempre um romance do século XIX.
E, subitamente, somos agarrados por uma frase como esta, que pode definir toda a narrativa, e é igualmente tão próxima da nossa própria realidade (considerando alguns dos mais recentes eventos no país):
«Ele acabava de trazer à conversa a questão da bandeira, a questão das bandeiras e dos símbolos, que era instintiva e emocional porque as bandeiras se inventaram para serem instintivas e emocionais (amiúde patológica e narcisicamente emocionais), ele estava a referir-se à bandeira do país «do outro lado do canal», que era também a bandeira da comunidade «da ponta de lá da estrada». E essa não era uma bandeira que a nossa comunidade acolhesse de braços abertos. Não era uma bandeira que a nossa comunidade acolhesse de todo.» (p. 33)
A voz deste romance é tão original que nos custa a entrar mas, conforme nos apercebemos de que a narradora estabelece um longo solilóquio com o leitor, onde as mais variadas questões da actualidade são tratadas com ironia e ambiguidade, rapidamente nos leva na sua corrente, na sua prosa-palco de uma dialéctica, de natureza alegórica, de um país sem nome que existe por oposição ao que está “do outro lado” (e pode remeter para o conflito entre as duas Irlandas), numa comunidade fechada, onde o rumor e o boato impera, uma sociedade patriarcal onde o cunhado três é aliás conhecido por não regular bem, com aquela sua «atípica estima em que tinha tudo quanto se reportasse ao feminino» (p. 18).
Anna Burns nasceu em Belfast em 1962, vive em Inglaterra e este seu romance foi vencedor do Man Booker Prize 2018, National Book Critics Circle e Orwell para ficção política. Ver artigo
Melhor livro do ano pelo New York Times e a National Public Radio. Vencedor do LA Times Book Prize, Stonewall Book Award e Andrew Carnegie Medal. Finalista do Pulitzer Prize e do National Book Award.
Já referi antes que por vezes me incomoda quando os livros são demasiado etiquetados, todavia este romance, publicado pela ASA, e que está a ser adaptado para televisão, é para mim um dos livros do ano e aborda um tema que eu estranhava não ter sido ainda devidamente tratado num romance. Temos o filme Filadélfia, ou a série Um Coração Normal, podemos até lembrar-nos do escritor que se suicida em As Horas, de Michael Cunningham, mas não havia nenhum romance, ainda mais de grande fôlego, que abordasse a epidemia da SIDA nos anos 80 nos Estados Unidos da América.
Em Novembro de 1985, um grupo de amigos fazem uma festa em Chicago que é, na verdade, um funeral, enquanto a “verdadeira” missa fúnebre decorre a quilómetros dali, assistida apenas pela família. Nico, um jovem belo, promissor, querido por todos, morreu. A sua irmã Fiona vira as costas à família, da mesma forma que os seus pais, que agora o choram, expulsaram em tempos Nico de casa quando souberam da sua homossexualidade. Nos meses seguintes, decorre uma espécie de jogo, quase como num mistério policial, em que nunca se sabe quem vai morrer a seguir, enquanto o grupo de amigos de Yale Tishman vai sendo dizimado.
(…) Ver artigo
Um livro que se compõe de 13 histórias, o que atendendo ao epílogo do autor pode até não ser uma coincidência, pois, como se anuncia na contracapa, a Morte é o denominador comum destas micronarrativas (para simplificar toda a simbologia do 13, limito-me a referir que a carta XIII do Tarot é a Morte). Refere ainda a contracapa do livro que todos os protagonistas «infames» destas histórias «estão condenados a um único desenlace, sem redenção possível nem lugar no paraíso». Permitimo-nos discordar, como se lerá mais adiante, pois nem todos os contos são de facto sobre a morte e alguns deles interligam-se de forma magistral.
Jaume Cabré, um dos mais premiados escritores europeus da actualidade, nascido em Barcelona em 1947, autor de guiões cinematográficos e televisivos, declara numa nota final ao livro que por vezes no meio da escrita de um romance escreve um conto, «como quem para descansar atraca numa ilha desconhecida» (p. 243), impelido pelo projecto narrativo em curso ou justamente para dele se afastar, como quem procura nova perspectiva. Os 13 contos são relativamente breves, à excepção de «Os homens não choram» e «Ponto de Fuga». Não sei se é por isso mesmo que é com este conto que abre o livro, mas «Os homens não choram» é uma das histórias a destacar. É essa verdade universal que o pai profere ao seu filho quando o deixa num orfanato, poucos dias depois de a sua mãe se ter suicidado, prometendo que o visitará no domingo. Mas o pai nunca vem. E o protagonista desta narrativa opressiva e desesperançada, um rapaz sem nome, terá de aprender a conviver com os outros jovens, cada um com as suas taras e problemas, enquanto tem de evitar o Henricus, que gosta de os tocar e apalpar, a frieza distante das freiras que vogam como pássaros. E este rapaz sem nome, apenas conhecido como «Tu» vive de tal forma imerso na penumbra que congemina, como salvação, o plano de matar Henricus com outros 3 amigos, para que não acabe por ser sodomizado como aconteceu com Tomàs. A narrativa oscila entre um eu e um ele, como se Tu se tivesse dissociado em dois, como estratégia de sobrevivência à vida no orfanato até ao dia em que atinge a maioridade e sai. Apenas para se deixar enredar numa nova prisão, quando assolado por um desejo de vingança Tu acaba por matar. Apenas para voltar a matar.
No último conto do livro, «O Ebro», acontece o inverso. Numa viagem de carro, dá-se um diálogo desencontrado entre pai e filho, ao longo de 11 páginas. Enquanto o filho interpela e conversa directamente com o pai, procurando atender às suas necessidades imediatas, como urinar, mantê-lo confortável, comprar-lhe os croissants de que gosta pois sabe que o pai é guloso, mostrando-se sempre solícito e paciente, o pai discorre num discurso ininterrupto que evidencia claramente que está preso aos acontecimentos que viveu na batalha do Ebro (deduzimos nós pelo título do conto) que recorda de forma tão vívida que teme o aparecimento do Sargento Mayo para lhe dar um tiro, apesar de ele ter morrido à sua frente nas margens do Ebro, possivelmente às suas mãos. Cedo compreenderemos que, a fechar o livro, temos agora um filho a deixar o pai num lar. Embora o pai não chegue a viver um dia nessa nova casa, pois morre às mãos do monstro do Paraíso, o mesmo pedófilo que assassinou 5 crianças no conto «Paraíso», pois foi ele o juiz que condenara o criminoso a prisão perpétua: «Naquele momento, não teve discernimento suficiente para se perguntar por que motivo as histórias da vida acabam sempre com a morte, como se não houvesse mais nenhum final possível para todas as coisas.» (p. 242)
Todas as restantes histórias são igualmente atravessadas pela temática da morte, mas sempre de forma violenta. Praticada como vingança, ou como um negócio, no caso de assassinos a soldo, ou ainda como acto de criação, como é o caso do protagonista de «As mãos de Mauk» que leva mais longe o acto de criar e aniquilar as personagens das suas histórias: «se ele era o deus que governava as personagens que criava, porque não podia ser o deus das pessoas que o cercavam? Quando escreveu a história do jardim zoológico, não decidiu só porque sim que Irene devia morrer? Decidiu-o porque sim, não por uma qualquer razão narrativa. Escreveu aquilo e Irene palmou, sem sequer ter o direito de reclamar, porque eu sou Deus.» (p. 210)
Escreve o autor, voltando ao epílogo, que nesta colectânea, publicada pela Tinta-da-china, há contos resgatados à gaveta, outros já publicados em antologias, mas há ainda uns quantos que nasceram quando trabalhava na actual compilação: «A dinâmica do livro em construção desperta em mim o desejo de contar novas histórias que, sem grandes melindres, se colocam lado a lado com outras narrativas que esperavam há anos pela oportunidade de enfiarem o nariz de fora.» (p. 245) Parece ser esse o caso destas histórias que ressaltam e quase se impõem como narrativas autónomas numa galeria de personagens «sem redenção possível nem lugar no paraíso». Contudo esse paraíso parece ser vislumbrado em alguns dos contos, a começar por «Claudi» onde um homem entra num quadro como quem muda para outra dimensão – quadro esse que volta a surgir em «Nunc dimittis» e depois em «Ponto de Fuga» –, onde o tempo se esvanece, não há sentimentos nem obrigações, e se vive uma imensa liberdade, caminhando rumo ao sol nascente pela mão de uma camponesa. Ver artigo
Muhsin Al-Ramli nasceu em 1967, numa aldeia do norte do Iraque. É romancista, poeta, dramaturgo, académico e tradutor. Os Jardins do Presidente, publicado pela Topseller, entrou na longlist do International Prize for Arabic Fiction, conhecido como o «Booker árabe». Vive em Madrid desde 1995.
«Um romance extraordinário passado no Iraque de Saddam Hussein, que traz à memória Cem Anos de Solidão e O Menino de Cabul»… Com esta frase intenta-se seduzir o leitor a entrar neste mundo fabuloso que, de início, evoca realmente a atmosfera de Macondo ou o imaginário do realismo mágico latino-americano: veja-se, por exemplo, o caso de Isma’il que em rapaz cortou a língua de um bode e desde então perde a voz, até que anos depois as palavras que lhe saem num grito coincidem com o momento em que «reza a história antiga, (…) uma estranha massa amorfa com um corpo gigante e uma cabeça minúscula chamada América atravessou os mares e ocupou um país chamado Iraque» (p. 8)
A primeira frase do romance é, aliás, tão emblemática como o início da obra-prima de García Márquez: «Num país onde não havia bananas, ao terceiro dia do Ramadão, a aldeia deparou-se, ao acordar, com nove caixas de bananas, cada qual contendo a cabeça degolada de um dos seus filhos.» (p. 7). Todavia Os Jardins do Presidente, de Muhsin Al-Ramli, é uma narrativa que rapidamente se distancia de tudo e ganha vida própria.
Tariq, Abdullah Kafka e Ibrahim nascem em 1959, em meses seguidos, e desde logo se tornam inseparáveis. Até que a guerra contra o Irão deflagra (e dura 8 anos), e Abdullah é preso pelas forças iranianas em 1982. Em 1990, o Iraque invade o Kuwait. A guerra torna-se o estado natural das coisas e «quanto mais se adentravam no deserto (…) mais mergulhavam na guerra» (p. 59). Em 1991, as forças aliadas desencadeiam o ataque terrestre a partir das areias da Arábia Saudita:
«O deserto, que se vira abandonado durante séculos, foi transformado num mar de ferro e fogo. O cenário era nada menos que apocalíptico, demonstrando o poder que aquela pequena criatura, o homem, conseguira alcançar, capaz de transformar a face da natureza de forma aterradora e esmagadora.» (p. 62)
Nas primeiras 200 páginas temos uma narrativa intrincada repletos horrores da guerra, mas sobretudo de histórias que se cruzam. Todas as personagens têm a sua história, sempre contada na primeira pessoa, como é o caso de Ibrahim que procura deixar o seu legado à sua filha Qisma (significa destino), vendo-a como a extensão natural da sua história. O romance passa depois a uma segunda parte, no que parece uma estrutura desarmoniosa, mas conforme prosseguimos percebemos como se fecha o círculo deste mundo, tanto que o penúltimo capítulo é um eco do primeiro, voltando à frase de abertura do romance. É quando Ibrahim se muda para a cidade de Bagdad que o romance ganha outro fôlego. Como funcionário nos jardins de um dos vários palácios do Presidente, Ibrahim é supervisionado por Sa’ad, que ao longo de várias páginas, descreve a opulência dos “palácios do povo”, em descrições hiperbólicas ao estilo dos contos das Mil e Uma Noites. A única vez em que Ibrahim avista o Presidente no jardim é justamente quando ele assassina um músico emblemático do país. O próprio nome de Saddam Hussein, ao jeito do realismo mágico, nunca é mencionado; quando Qisma dá o nome do líder ao filho, Ibrahim recusa-se terminantemente a chamá-lo pelo nome.
Ibrahim é depois promovido de jardineiro a coveiro, enterrando milhares de corpos sem nome, «vítimas de um reinado impiedoso de terror», nos jardins do Presidente… Ver artigo
Elena Varvello nasceu em Turim, em 1971. Publicou poesia e venceu os prémios Settembrini e Bagutta com o seu primeiro romance, publicado em 2011. A Vida Feliz publicado em 2016, venceu o English Pen Award, e foi agora traduzido e publicado pela Quetzal. Como se anuncia numa citação retirada do The Independent – «Vire a página Ferrante, há uma nova Elena na cidade» –, este romance não pretende de todo copiar esse modelo. O que se afigurava um romance de formação, cuja acção ocorre no Verão de 1978, decisivo na vida de Elia Furenti, sobre a sua juventude, a sua amizade com Stefano, a paixão pela mãe do amigo (uma bela mulher de 36 anos com má reputação em Ponte), rapidamente toma contornos de um thriller de Hitchcock ou de uma narrativa de Daphne du Maurier e dá lugar a mais de 200 páginas de tensão permanente, numa linguagem escorreita e concisa, em que os capítulos alternam entre a perspectiva do jovem Elia e a sua reconstrução, 30 anos depois, do que aconteceu nesse Verão.
«O vale estreito, uma mina de pirite abandonada, um rio serpenteante, cascatas, uma velha ponte de pedra numa garganta, outra dois caminhos acima dos rápidos do rio e bosques em toda a volta.» (p. 17)
Nesta aldeia isolada e idílica, um rapazinho surge assassinado numa mina abandonada. A jovem que trabalha na casa ao lado da de Elia desaparece no bosque. O pai é despedido de uma fábrica em falência e começa a evidenciar um comportamento estranho, os primeiros sinais de uma doença mental: «As coisas que amaste desaparecem no escuro. / Chegaste aonde estás. É o que te aconteceu, e não há forma de explicar isto.» (pág. 180)
Elia rapidamente lê os sinais, num gradual despojamento da sua própria inocência, enquanto a mãe continua em negação dos pecados do pai: «Durante aquele verão, cada um de nós os três manteve para si qualquer coisa, os seus segredos» (p. 53)
Um romance de cortar a respiração que se quer ler de um fôlego. Ver artigo
Um dos nomes maiores da literatura, Herman Hesse venceu o Prémio Nobel de Literatura em 1946 e assinala-se em 2019 o centenário da primeira das grandes obras do autor alemão, com este livro agora reeditado pela Dom Quixote.
Um romance de formação, onde se dá a conhecer a infância e juventude de Emil Sinclair, ao jeito de romances como Retrato do Artista quando Jovem, de James Joyce, As perturbações do Jovem Torless, de Robert Musil, ou Werther, de Goethe. Contudo, a narrativa de vida deste jovem burguês vai mais longe, conforme a sua existência é abalada pela ameaça de um jovem malfeitor, que o quer extorquir e manipular, e a sua alma é devassada por um conflito interno entre o mundo da ilusão – isto é, o real – e o mundo real – o da verdade espiritual. Irremediavelmente desadaptado da vida familiar, do conforto burguês, e cheio de perguntas, o nosso herói é salvo pela amizade de um novo aluno na sua escola de Latim, que se torna uma constante na sua vida, como um mentor, mesmo quando se separam por alguns anos. Max Demian tem um pensamento profundo e revolucionário, capaz de contestar as verdades mais inabaláveis, como a marca de Caim ser não um sinal físico mas uma qualidade espiritual que o distinguia e lhe conferia uma superioridade sobre os homens. Max Demian tem essa marca e é por a distinguir em Sinclair que se aproxima dele. E não é por acaso que o nome de Demian, sempre descrito de forma misteriosa, como um ser intemporal, pode ser lido como um sinónimo de Demónio, da mesma forma que a sua mãe se chama Eva. Quando na sua juventude Sinclair se torna um frequentador de tabernas e um alcoólico, numa orgia destruidora do ser, ainda que, curiosamente, mantenha a sua castidade intacta ao longo de todo o livro, o herói condensa em si a dualidade do ser humano mas também a crise de valores advinda da Primeira Guerra Mundial e o prenúncio de uma nova guerra que deflagra no final do romance. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016