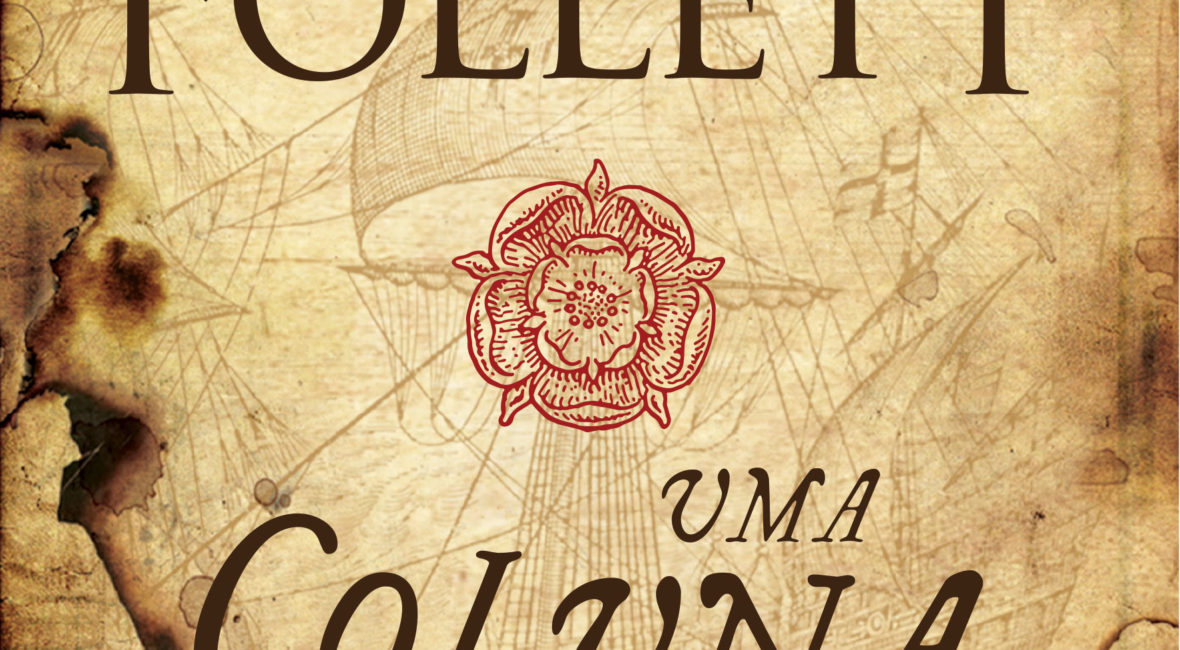David Machado nasceu em Lisboa em 1978 e a sua obra tem sido publicada pela Dom Quixote.
O seu Índice Médio da Felicidade é uma história já apresentada por mim no Cultura.Sul, foi adaptado ao grande ecrã e vencedor do Prémio da União Europeia para a Literatura. Ver artigo
A Minha Prima Rachel inicia quando Philip se recorda com nitidez de um momento da sua infância em que viu um homem de grilhetas enforcado nos Quatro Caminhos.
Philip sabe bem que «não se pode voltar atrás» mas é a partir dessa estranha lembrança que nos conduz pela história de como perdeu o seu pai adoptivo e encontrou a sua prima Rachel. Ver artigo
Reler um romance como Rebecca após 10 anos tem o condão de fazer ressurgir lembranças bem vívidas, como a sinistra Mrs. Danvers, a ingénua protagonista sem nome, e o emblemático final em que a sugestão paira no ar como um clarão distante, ao mesmo tempo que se faz a leitura de todo um novo livro que desconhecíamos por completo e que merece justamente ser revisitado, como quem regressa a Manderley.
Os pressentimentos e maus presságios conferem um ambiente fantástico ao romance, que se afasta do melodrama romântico para se aproximar mais do universo policial e misterioso, em que a eterna inominada e jovem heroína, Mrs. de Winter, segunda esposa de Maximilian de Winter e sucessora de Rebecca, tenta juntar as peças desse enigma chamado Rebecca para poder compreender o comportamento do seu enigmático e por vezes irascível marido, o ódio da governanta que se move como uma sombra a dominar a casa, ao mesmo tempo que tenta lutar contra o fantasma omnipresente da sua antecessora, senhora da mansão de Manderley, que parece capaz de devorar tudo e todos, inclusivamente a sua própria identidade.
Rebecca, de Daphne Du Maurier
Originalmente publicado em 1938, conheceu inúmeras reedições e Alfred Hitchcock adaptou-o ao cinema em 1940, vencendo dois Óscares. Foi em boa hora relançado pela Editorial Presença, que aliás já publicou outras obras da autora, também adaptadas ao pequeno e grande ecrã, como A Pousada da Jamaica e A Minha Prima Rachel. Ver artigo
Rodrigo Guedes de Carvalho, nascido em 1963 no Porto, é uma presença assídua na vida de muitos portugueses, como apresentador do telejornal das 20 h na SIC, mas é bom lembrar que já escrevia antes de se tornar conhecido como pivô e nos entrar pela casa dentro. Escreveu ainda argumentos cinematográficos, como Coisa Ruim, filme realizado pelo irmão Tiago Guedes, e um guião para teatro. Pertenceu à direcção de informação da SIC entre 2007 e 2016, interregno em que suspendeu a sua paixão pela escrita. Dez anos depois do seu anterior romance, Canário, Rodrigo Guedes de Carvalho regressa à ficção, com O Pianista de Hotel, o seu quinto romance, publicado em Maio de 2017 pela Dom Qixote, e que soma já várias edições.
Apesar da frase colocada em epígrafe do livro, «Boy meets girl», apresentada como «Ideia de Hitchcok para um filme», nestas páginas não se toca nenhuma melodia de amor nem nenhum ambiente de fundo como música de hotel ou de elevador. A melancolia é aliás o tom dominante.
Vivem ambos na mesma cidade, o que começa a aproximar-se mais das comédias românticas de Woody Allen pois imagina o leitor uma série de peripécias e encontros que os irão aproximar. Mas o narrador vai apenas e sucessivamente apontando as várias ocasiões em que se frustrou um encontro entre Maria Luísa e Luís Gustavo, os dois protagonistas centrais da história, que aliás partilham um nome próprio comum: «Luís Gustavo ainda não sabe, mas irão jantar no restaurante onde Maria Luísa trabalha.» (p. 183). Mas nem essa afinidade do nome os salva dos recorrentes desencontros. Os capítulos são normalmente alternados, centrados em torno de cada uma destas personagens, e os episódios são muitas vezes apresentados na sua simultaneidade, como se pode ler logo no segundo capítulo: «Sensivelmente à mesma hora, num outro ponto da cidade, mas afinal tão parecido.» (p. 25). Esta técnica narrativa aproxima aliás a prosa do autor da escrita de argumento.
Maria Luísa e Luís Gustavo partilham também a condição de orfandade, pois se ele foi abandonado pela mãe, logo após o parto, ela perdeu a mãe quando tinha dezasseis anos. Apesar da superlativa beleza de Maria Luísa, que o narrador por pudor e respeito se esquiva a descrever com exactidão para não a surpreendermos à saída do duche, invejada pela mãe que se sente traída quando o seu parceiro tenta violar a filha, embora possamos presenciar em vários momentos como outros se viram para olhar o corpo magnífico de Maria Luísa, apesar de até uma médica colocar em risco a sua carreira para pode chegar a esta jovem empregada de mesa num restaurante, apesar do refrão que perpassa no romance «O nosso corpo chega sempre aos outros antes de nós», a solidão de Maria Luísa permanece e nada a parece resgatar da monotonia. Maria Luísa vê-se mesmo incapacitada de amar a cínica tia, o único familiar que lhe resta e que a nomeará sua herdeira. Podemos remeter-nos, uma vez mais, para as frases em epígrafe do romance e que dão o tom da narrativa, neste caso um excerto da letra da música «Eleanor Rigby» dos The Beatles: «Ah, look at all the lonely people».
À solidão junta-se um sentimento de frustração ou de insatisfação pois todas as personagens se sentem aquém das suas possibilidades e desejos: Maria Luísa não pôde prosseguir os estudos, Luís Gustavo queria ser médico mas ficou-se pela profissão de enfermeiro, o cirurgião Paulo Gouveia sente-se cansado da sua carreira, a mãe de Maria Luísa, «segunda secretária de um subsecretário» aspirava a mais mesmo que para isso usasse o corpo (ao contrário da filha, que nem se apercebe do corpo que tem), Saul Samuel que passou a vida como bailarino numa discoteca gay até que se cansa, mas sem saber o que fazer depois. A morte, que aparece transfigurada ou personificada logo no primeiro capítulo, quando Maria Luísa tem a visão do fantasma da mãe, é o desfecho que precipita uma série de desencontros afectivos, como se as personagens apenas se dispusessem a querer tocar os seus entes queridos quando confrontadas com a inevitável realidade da sua ausência, o que leva, por exemplo, Pedro Gouveia a transferir o seu amor pela filha para o enfermeiro Luís Gustavo. Ou o acto falhado do amor que Saul Samuel alimenta por Rui Begonha, que ao deixar desabrochar a sua homossexualidade nos seus breves encontros com Saul Samuel acaba por depois se fixar num outro homem, apesar de ser Saul Samuel a vítima da fúria física dos filhos, quando descobrem da homossexualidade do pai. Ou a mãe de Luís Gustavo que carrega o peso da culpa de ter abandonado o filho mas nem sabe o quão próximos estão nem o procura.
Existem duas descrições de actos ou (des)encontros sexuais, mas estes são tão bruscos e violentos, que parecem apenas corroborar a solidão como condição humana inviolável e o sexo como choque de corpos e vontades onde há pouco espaço para uma comunhão. A cena em que Rui Begonha tenta sexo anal com a mulher nada tem de desejo ou de paixão, pois é exclusivamente dominada pelo desespero, uma vez que ele é movido pela descoberta desconcertante de que se sente atraído por homens, enquanto ela se submete para tentar salvar o casamento. A outra cena entre Maria Luísa e Saul Samuel, dois melhores amigos, ou companheiros de jornada que tentam amenizar a solidão na companhia um do outro, acabam por se atirar um ao outro num impulso de fome de contacto físico, apesar de Maria Luísa estar perfeitamente ciente da homossexualidade de Saul Samuel.
A escrita de Rodrigo Guedes de Carvalho respira vitalidade. O autor não teme inovar e verter a sua prosa narrativa segundo uma plasticidade muito própria, onde desconstrói convenções de pontuação ou de apresentação gráfica. A linguagem no romance, muitas vezes crua e gráfica, pode chocar mas a verdade é que o autor procura retratar a realidade como ele a vê e como tantas vezes ele próprio no-la apresenta nesses estilhaços que enchem as telas dos nossos televisores. Por isso, se a linguagem muitas vezes gráfica é apenas espelho da realidade linguística, tentando aproximar-se do modo como as pessoas realmente falam, se a prosa é crua e directa, a melancolia ou pessimismo que dominam o romance podem também ser um desassombro face à realidade. O autor parece tomar posição contra o cor-de-rosa das histórias de amor e o tom delicodoce que invade as manhãs de televisão com programas genéricos que acompanham uma larga camada da população: «Vê por vezes, sobretudo em programas de televisão, que há nesta altura inúmeros especialistas em decifrar sentimentos e apontar soluções, tão seguros e confiantes que a gente se sente logo segura e confiante ao ouvi-los.» (p. 105). O narrador adopta um tom muitas vezes crítico ou até moralizador: «Imaginemos, os que de nós ainda conseguirem esse prodígio de memória, o que é crescer, num período que é só incertezas, com a certeza de que o mundo já nos tirou a fotografia.» (p. 38).
Voltamos às epígrafes, desta vez uma citação de Shakespeare: «O homem que não é sensível à música,/Que não se comove com a harmonia dos doces sons,/Nasceu para as traições, os ardis, os roubos;/Os movimentos do seu espírito são surdos como a noite».
Pode ler-se a certa altura que a televisão «faz companhia às pessoas que vivem sozinhas» (p. 416). Mas só a música parece ter o condão de matar a solidão das pessoas, como acontece com o pianista de hotel ou o artista de rua que faz Maria Luísa parar e escutar. Porque «a música, a arte, é a única coisa do mundo que pode ser bela sendo triste.» (p. 424). E apesar de o ruído e o som, próprios de uma grande cidade, estarem sempre presentes desde as primeiras linhas, é a música que surge como bálsamo, apesar de muitas vezes mal darmos por ela ou pelos artistas que no-la trazem, o que leva, por exemplo, a que Luís Gustavo e o médico Pedro Gouveia sejam tocados pelo pianista de hotel, e saberem ler os seus estados de alma pelas músicas que toca, enquanto os outros clientes do bar do hotel parecem nem dar por ele. A música assemelha-se assim ao ritmo da nossa pulsação, ao tempo da nossa respiração, como algo que nos revela continuarmos vivos: «a sensação de conforto, digam o que disserem, está muito dependente do bater do coração» (p. 110). E mesmo que esta seja uma “anti-história de amor”, apesar de se poder ler algures que «os escritores não têm de sentir nada, ou querer significar nada, têm é de escrever» (p. 391), Rodrigo Guedes de Carvalho deixa-nos uma intrigante e inquietante narrativa, mesmo que no «último capítulo», e note-se o fatalismo, se confirme o permanente desencontro do não-par amoroso, uma narrativa híbrida como a melódica onde o pungente convive com o belo, e onde tal como o teclado do piano ou a melódica que requer sopro, o instrumento nunca toca sozinho, como uma obra que só ganha som quando lida. Mas se um artista de rua quando toca, toca para si mesmo, será que um escritor quando escreve, escreve apenas para si? Ou pretende tocar outros, mesmo os mais desatentos e os mais embrutecidos? Ver artigo
Uma prosa enfeitiçante e um livro cativante que prende rapidamente o leitor, apesar da ambiguidade próxima de um ambiente fantástico que por vezes toca o grotesco mas sempre sem perder o lirismo.
Depois do êxito de A Vegetariana, vencedor do Man Booker International Prize de 2016, a Dom Quixote publica o segundo romance da autora sul-coreana Han Kang, professora de Escrita Criativa no Instituto de Artes de Seul, publicado originalmente em coreano em 2014 e traduzido a partir do inglês numa tradução atenta e cuidada.
No primeiro capítulo narra-se a história de um rapaz que procura o amigo, sendo esta voz narrativa bastante peculiar pois é narrada na segunda pessoa, como se o narrador falasse com a própria personagem: « – Parece que vai chover – murmuras para ti próprio.» (p. 13)
Esta segunda pessoa que parece dirigir-se ao leitor, identificando-o com o rapaz, marca o tom desde a primeira linha atrás citada, e apesar da ambiguidade e dos contornos incertos do que se descreve incita a uma leitura implícita da obra como um retrato político de uma realidade traumática vivida na Coreia do Sul, nos anos 1980, que resultou num dos piores massacres da história do país.
No segundo capítulo, encontraremos «O amigo do rapaz» e perceberemos que ele está morto, contando-nos a sua perspectiva do desfecho do massacre, primeiro como cadáver e depois como fantasma.
Neste livro narra-se, primeiro com ambiguidade, mas depois sem rodeios e cada vez com mais precisão, a brutalidade da repressão e da censura, num momento particularmente delicado na história da Coreia do Sul, quando o país vive sob a lei marcial e depois Park Chung-hee é assassinado pelo próprio chefe dos seus serviços de segurança, apenas para suceder ao poder outro militar autocrata.
Para narrar o inacreditável mas verídico massacre de quando em 1980 os estudantes se revoltaram contra o encerramento das universidades e a falta da liberdade de expressão, a autora Han Kang opta por filtrar os acontecimentos de forma intimista e pessoal, num tempo narrativo em que o passado se intromete recorrentemente no presente, a lembrar que a voz da história não dá descanso. Ver artigo
Uma colectânea de onze contos – transgressores, subversivos, por vezes desconcertantes –, de Hilary Mantel, autora inglesa, com catorze livros publicados, duas vezes premiada com o Man Booker Prize pelas obras Wolf Hall (adaptada a mini-série televisiva) e O Livro Negro, que formam parte de uma trilogia centrada no reinado de Henrique VIII.
Em «Desculpe incomodar» encontramos um relato estranhamente intimista num apartamento claustrofóbico na Arábia Saudita, como que simbolizando o próprio ambiente reclusivo que as mulheres vivem nesse país, sejam elas locais ou as esposas que acompanham os seus maridos em missão. Há seis meses que a protagonista vive na Arábia Saudita com o marido, enquanto tenta escrever e sobreviver às suas dores de cabeça, quando faz uma amizade improvável com um vendedor.
No conto «Férias de Inverno», uma viagem de férias por uma estrada de montanha tem um desfecho trágico enquanto um casal no banco traseiro do táxi parece considerar se é melhor ter filhos ou investir em férias.
«O assassinato de Margaret Thatcher: 6 de Agosto de 1983» é o último conto da colectânea que confere o título ao livro e aparentemente um conto original nunca antes publicado, enquanto que outros nove dos onze contos foram anteriormente publicados em revistas ou colectâneas de vários autores. Com a ambiguidade que tantas vezes perpassa nas outras histórias, temos uma senhora que mora numa rua silenciosa e tranquila, sombreada por grandes árvores antigas, de grandes casas vitorianas ou georgianas, e que espera o homem que vai arranjar a caldeira mas depara-se com o que julga ser um fotógrafo pois ele entra-lhe pela casa afirmando que precisa de um bom plano da primeira-ministra que está prestes a sair do hospital onde fez uma cirurgia ocular. O diálogo que se segue, e onde não podia faltar a preparação de uma chávena de chá oferecida ao visitante/intruso, é deliciosamente ambíguo, pois o leitor apercebe-se entranto que a vista desimpedida que o homem pretende é para poder atirar sobre Margaret Thatcher, o que não ofende particularmente a sensibilidade da dona da casa…
Transversal a todos os contos destaca-se ainda a mordacidade narrativa como, por exemplo, na passagem: «Mesmo que nunca tenham passado por Harley Street, já devem ter criado uma imagem na vossa mente: (…) no geral, um ambiente que sugere que, se tivermos uma doença terminal, pelo menos partimos em grande estilo.» (p. 80) Ver artigo
A Casa das Letras continua a publicar na íntegra a obra do autor japonês Haruki Murakami, regressando agora ao registo do conto. Homens sem mulheres reúne sete contos do autor publicados originalmente no Japão entre 2013 e 2014, que não são propriamente breves, de fôlego curto, mas lêem-se muito bem e fazem-nos regressar ao usual universo onírico do autor. É por vezes difícil destrinçar entre autor e narrador, nomeadamente na forma como se assume a narrativa na primeira pessoa em diversos contos, além de o narrador se assumir quase sempre como um escritor, que interpela directamente o leitor, ou proprietário de um bar, como Murakami foi em tempos. A riqueza das histórias aqui reunidas parece advir dos relatos que esses narradores vão recolhendo: «Ao saber que eu era escritor, Tokai começou a revelar-me a pouco e pouco a sua faceta mais intimista. Talvez pensasse que, à imagem e semelhança dos terapeutas e dos padres, os escritores têm o legítimo direito (ou o dever) de ouvir o que os outros sentem necessidade de confessar.» (p. 103). A voz do narrador e, por vezes, a do autor são aqui claramente assumida, o que aliás só faz sentido uma vez que assim que se começa a ler Murakami em conto ou em romance é fácil sentirmo-nos puxados para esse estranho mundo familiar que se equilibra de forma periclitante, tensa, entre o onírico e o fantástico e dados que poderiam ser realistas mas que nunca são claramente objectivos. Entretecem-se assim referências comuns ao autor – literárias, cinéfilas – e, claro, a música, sempre essencial à sua escrita, do jazz ao pop, também pontuada por algumas referências clássicas, pois a música «tem o condão de ressuscitar a vivacidade das lembranças, ao ponto de fazer doer» (p. 86). Além do universo estranho que Murakami cria, onde não falta um conto inspirado em A Metamorfose de Kafka, em que o inusitado não é Gregor Samsa acordar como um insecto gigante mas sim como um jovem humano.
Homens sem mulheres, como o título deixa adivinhar, são também sete histórias de amor e desamor, quase sempre dominadas pela solidão destes sete homens, vítimas do luto ou da separação ou da saudade de uma mulher: «ao recordar a época em que eu tinha vinte anos, o que vem à tona é a minha solidão. Não tinha namorada para me aquecer o corpo e o coração, nem um amigo no qual pudesse confiar. Não sabia o que fazer dos meus dias, era incapaz de imaginar o que o futuro me reservava. Estava quase sempre fechado na minha concha, ao ponto de passar uma semana sem falar com ninguém.» (p. 86)
Como a Xerazade do seu conto, acerca de Murakami poderemos dizer um dia que se ignora «se as histórias eram reais, se não passava tudo de pura invenção, ou se era uma combinação das duas. Realidade e efabulação, observação e sonho pareciam inextricavelmente ligados, e raramente era capaz de as destrinçar.» (p. 129-130). Ver artigo
A autora nasceu em Los Angeles em 1963 e cresceu no Tennessee, onde continua a viver. Publicou o seu primeiro romance em 1992 que foi destacado pelo New Yok Times como um dos melhores do ano. Tem recebido diversos prémios e encontra-se traduzida em mais de trinta línguas. Comunidade, com o título original de Commonwealth, é o seu sétimo e mais recente romance, publicado pela Minotauro.
Num domingo à tarde, no sul da Califórnia, terra das laranjas, um membro da comunidade aparece na festa de baptizado de Franny Keating, filha de Beverly e Fix Keating, e leva como presente impróprio para a ocasião uma garrafa de gim. Bert Cousins decide aparecer sem ter sido convidado como forma de fugir à confusão do seu próprio lar, onde estão os seus três filhos e a mulher grávida.
A partir deste acontecimento fortuito, aparentemente muito pouco relevante, precipitam-se consequências drásticas na vida de dois casamentos e duas famílias, cujo impacto se arrastará durante cinco décadas. Pois foi também nesse dia que se despoletou uma forte atracção de Bert por Beverly, o que leva a um beijo e depois a um caso entre os dois que anos mais tarde motiva o divórcio dos seus cônjuges, um novo casamento e a sua mudança para a Virgínia, onde os filhos de ambos se passarão a encontrar nas férias de Verão. O destino de seis crianças com muito pouco em comum é assim unido à força, apesar de entre elas não existir qualquer animosidade, embora todas partilhem um ódio reverente aos pais.
Mais tarde, quando Franny, a bebé, se torna uma mulher adulta e se envolve com Leon, um aclamado escritor, ao nível de Roth ou Updike, é a história dos verões da juventude da namorada que irão alimentar o tão aclamado romance que os leitores de Leon há muito aguardavam, romance esse que se intitula justamente Comunidade e dará depois origem a um filme. A autora parece assim explorar a questão da validade ou justiça do aproveitamento da matéria real da vida de algumas pessoas para a criação de uma história que se faz passar por ficção, quando na verdade o que se faz a exposição pública de segredos de família.
O romance está magistralmente narrado, sem tecer juízos ou considerações, deixando a interpretação a cargo do leitor, e construído de modo a deixar pistas de que algo trágico terá ocorrido entretanto mas só ao progredir na leitura é que se poderá juntar a informação em falta. Além disso, a autora nunca procura subsumir a complexidade das personagens de forma ligeira, como na passagem: «A filha do primeiro casamento estava sempre a precisar de dinheiro, na realidade precisava de muito mais do que dinheiro, mas esta era a forma mais fácil de ela expressar as suas necessidades.» (p. 183). Ou como acontece por exemplo com a personagem de Albie, a criança mais nova e particularmente irritante que era drogada pelos irmãos com antialérgicos para que não os incomodasse. Afirma o pai que «É possível relacionar muitos dos problemas daquele miúdo com o nome.» (p. 39), mas se Albie se revela um adolescente problemático, podemos também remontar o que mais tarde acontece e que resulta na morte de uma das crianças como culpa dos pais, como no episódio emblemático do motel, em que os pais decidem dormir até tarde e as crianças ficam por sua conta, decidindo ir a pé até a um lago que fica a 3 km de distância, não sem se fazerem acompanhar de uma arma que estava no porta-luvas do carro cuja porta Caroline consegue destrancar, pois Fix, o pai, ensinara-lhe a destrancar um carro com um cabide de arame.
Uma belíssima narrativa que se pode ler como uma alegoria da família e das relações humanas como elos inquebráveis, mesmo quando apesar dos laços sanguíneos muito pouco os parece unir, e em que uma acção por muito inconsequente que pareça, tem repercussões em todos os outros, mesmo que entretanto se tenham passado cinco décadas, à semelhança de uma liga de países ou aos membros de uma comunidade que se unem apesar das suas (des)identidades distintas. Ver artigo
Ken Follett nasceu em 1949 e estreou-se aos 27 anos na ficção com O Buraco da Agulha. Desde então, o autor britânico tem alternado entre os romances de espionagem e o romance histórico. O seu último sucesso foi a trilogia O Século que narra a saga de cinco famílias, de nacionalidades distintas (americana, russa, inglesa, alemã, escocesa), ao longo de várias gerações, de modo a contar em três volumes (A Queda dos Gigantes, O Inverno do Mundo, No Limiar da Eternidade) a história das duas Guerras Mundiais e do período subsequente de Guerra Fria.
O autor é ainda sobejamente conhecido pelos seus outros romances históricos de fôlego: Os Pilares da Terra (1989) e Um Mundo Sem Fim (2007), que foram também adaptados a mini-séries.
Uma Coluna de Fogo foi publicado em Setembro, num lançamento simultâneo com a edição original inglesa. Não seria de esperar outra iniciativa da parte da Editorial Presença, uma vez que Ken Follett é o que se pode entender como um autor bestseller com mais de 150 milhões de exemplares vendidos, em mais de 80 países e 33 línguas.
Uma década depois, o autor regressa à saga de Kingsbridge, e mais uma vez com um salto temporal, pois estamos em 1558.
As personagens dos romances anteriores ganham agora o estatuto de lendas ou símbolos, como o prior Phillip, o monge encarregado da construção da catedral quatrocentos anos antes, que está agora encerrado num túmulo volumoso do cemitério de Kingsbridge, ou Caris, que fundou o hospital e ainda é recordada como a freira que salvou a cidade durante a peste negra.
Como observa Ned ao sair da barcaça, «a cidade não parecia ter mudado muito num ano. Locais como Kingsbridge apenas mudavam lentamente, segundo Ned cria: as catedrais, as pontes e os hospitais eram construídos para perdurar.» (p. 23). E é isso que Ken Follett parece fazer com mestria, focar-se nas grandes construções humanas e fazer delas as verdadeiras personagens dos seus romances. O priorado de Kingsbridge está agora em ruínas, desde que Henrique VIII declara o protestantismo e dissolve os mosteiros, mas a catedral ainda se mantém «alta e forte como sempre, o símbolo de pedra da cidade dos vivos» (p. 24). A história da construção de uma catedral ou de uma ponte parecem ser o verdadeiro motivo dos romances do autor, estatuídas como personagens ou entidades que assinalam a passagem do homem e que perduram como testemunho da sua capacidade inventiva e ambição:
«Ned contemplou as nervuras da abóbada, quais braços de uma multidão que se erguiam ao céu. Sempre que entrava naquele local pensava nos homens e nas mulheres que o haviam construído. Muitos deles eram celebrados no Livro de Timothy, uma história do priorado que era estudada na escola: os pedreiros Tom e o seu enteado Jack; o prior Philip; Merthin Fitzgerald, que erguera não só a ponte como a torre central; e todos os operários das pedreiras, os carpinteiros e os vidraceiros, gente vulgar que tinha feito uma coisa extraordinária, se tinha erguido acima das circunstâncias humildes em que havia nascido e criado algo de eternamente belo.» (p. 25)
Muda o tempo, mudam as personagens, saltam-se gerações nas famílias, mas mantém-se o cenário e o espírito dos outros dois livros.
Ned Willard regressa a Kingsbridge ansioso por rever Margery, depois de ter vivido um ano em Calais, o porto da costa norte de França, então sob administração inglesa.
Margery Fitzgerald vai ser forçada a casar com Bart Shiring, que pode um dia vir a ser conde de Shiring.
Isabel Tudor parece preparar-se para subir ao trono.
O autor entrelaça uma vez mais o destino de pessoas comuns com o de figuras históricas para construir um romance de grande porte e ambição. O autor decide repartir o protagonismo por um vasto elenco de personagens, pois além de Ned Willard e Margery Fitzgerald, temos ainda o irmão de Ned, o aventureiro Barney Willard, ou o oportunista e arrivista Pierre.
A narrativa está dividida em cinco partes, compreendidas entre 1558 e 1620, havendo saltos temporais de alguns anos de uma parte para outra, como forma de retratar não apenas um período de tempo mas toda uma época que corresponde à ascensão ao trono de Isabel Tudor. Em Uma Coluna de Fogo, sente-se aliás como a acção se distancia mais e mais de Kingsbridge para se dispersar pelo mundo, de lugares tão díspares como as Caraíbas, Sevilha ou Antuérpia.
Os eventos são perspectivados a partir do ponto de vista das próprias personagens, o que leva a que o leitor por vezes quase sinta simpatia por personagens tão execráveis como Pierre Aumande, o jovem ambicioso, que não se detém perante nada nem ninguém para atingir aquilo que mais almeja: a ascensão social que lhe permita obnubilar aquilo que a tanto custo quer esquecer, o ser filho bastardo de um padre e da sua governanta.
A conclusão a que se chega é que a ideia do livro é retratar o reinado de Isabel Tudor, na sua ascensão ao trono e na emergência de Inglaterra como uma grande potência. A nação britânica é vista como pobre e atrasada, em comparação, por exemplo, com o luxo e opulência de França. A rainha Isabel parece aliás ser permanentemente apontada por estar sempre a contar os seus tostões…
Há pormenores históricos e culturais que vão também pontuando e enriquecendo a narrativa, como o facto de as pessoas apenas tomarem banho duas vezes por ano, na Primavera e no Outono, ou o choque provocado quando Maria Stuart se decide casar de branco, uma vez que essa é a cor do luto.
Um dos pontos altos do romance é certamente o casamento da princesa Margot, a «libertina irmã do rei», com o «despreocupado Henrique de Bourbon, o rei protestante de Navarra» (p. 463), que pretendia simbolizar uma aliança entre católicos e protestantes e que resulta na Noite de São Bartolomeu: «Morreram três mil pessoas em Paris, e mais uns milhares em massacres similares noutros locais. Todavia, os huguenotes deram luta. Cidades em que eram a maioria receberam numerosos refugiados e fecharam as portas aos representantes do rei. Os membros da família Guise, enquanto católicos poderosos leais ao monarca, foram mais uma vez recebidos no círculo real, enquanto a guerra civil voltava a deflagrar.» (p. 539)
Depois de Os Pilares da Terra e Um Mundo Sem Fim se terem centrado na construção de grandes obras arquitectónicas, Uma Coluna de Fogo é essencialmente uma obra sobre a liberdade de religião e onde se respira já os valores do renascimento. Veja-se como Carlos manda pintar um retrato que quando é mostrado pela primeira vez causa algum espanto:
«O pintor retratara o casamento a ter lugar numa grande casa que podia pertencer a um banqueiro de Antuérpia. Jesus estava sentado à cabeceira da mesa com um manto azul. A seu lado, o anfitrião da festa era um homem de ombros largos com uma barba preta cerrada, muito parecido com Carlos; ao lado deste sentava-se uma mulher loura e sorridente, que poderia ter sido Imke.» (p. 395)
Este é um romance de fôlego que tanto pode ser lido pausadamente como de uma só vez. Não nos perdemos na acção e a leitura nunca se torna cansativa, talvez daí a opção do autor pelos saltos temporais de modo a captar os momentos cruciais da acção que é, afinal, um retrato de uma época, mais do que as aventuras e desventuras das personagens.
Existem alguns lugares comuns que parecem difíceis de evitar, como a jovem obrigada a casar pelos pais para que a sua família, pertencente à classe da burguesia, possa ascender socialmente, mas há uma atenção inegável ao detalhe e ao rigor histórico, bem como a capacidade de contar uma boa história e de passar informação de forma acessível. Existe, todavia, um cuidado de facilitar a leitura ao leitor que resulta, por vezes, em alguma redundância, como, por exemplo, quando se refere a Navarra sente a necessidade de reiterar que é um pequeno reino entre Espanha e França.
Uma nota especial para a edição. A Presença opta por lançar a obra num só volume, o que parece preferível, e é algo que poucas editoras fazem. Resulta num livro maior, com 768 páginas, mas a qualidade do papel tornam-no leve e facilmente manuseável que dá gosto ler e transportar. Ver artigo
Publicado agora pela Livros Cotovia, este livro originalmente publicado em 1924 foi um êxito e fez com que o escritor então com 26 anos fosse comparado a Proust e a Dostoiveski, e aclamado por vários outros escritores, talvez por narrar com um lirismo e uma atenção ao pormenor próprios de Proust, mas sem a desenvoltura das suas longas frases sinfónicas, as desgraças da vida abaixo da aristocracia, dos de «condição miserável» (p. 168). Emmanuel Bove nasceu em Paris em 1898 e escreveu duas dezenas de obras até vir a falecer em 1945.
O livro tem um título enganoso, pois na verdade este inquilino de um prédio em Montrouge parece ter muito poucos amigos e os seus vizinhos mal o olham de frente, uma vez que a solidão, a tristeza e a pobreza nunca são grandes atractivos: «A solidão pesa-me. Gostava de ter um amigo, um verdadeiro amigo, ou então uma amante a quem confiasse as minhas penas.» (p. 35).
Esta é a história do quotidiano de Victor Bâton, narrada a partir da perspectiva muitas vezes iludida desse pobre coitado, hipocondríaco, inseguro, medroso e solitário («Sou demasiado sensível, pronto. (p. 46)», que circula pelo seu bairro, enquanto oferece um retrato prosaico dos vizinhos e dos lojistas, sempre num tom desencantado, de alguém que se sabe rejeitado pela sociedade e que em sua defesa pode apenas propalar que «tinha feito a guerra, que era um ferido grave, que tinha uma condecoração militar, que recebia uma pensão» (p. 24).
Conta os dias de solidão e de pobreza de uma pobre alma que combateu e foi ferido na Primeira Guerra e que agora vagabundeia pela cidade de Paris, pelas margens do Sena, nas estações de comboio, à procura da amizade e do amor: «Quando saio de casa, conto sempre com um acontecimento que revolucione a minha vida. Fico à espera dele até voltar. É por isso que nunca fico no quarto.» (p. 108). Victor Bâton não tem pejo em fingir que chora, «a fazer comédia» (p. 94), para que melhor sintam pena dele, se bem que a maioria das pessoas que se cruzam consigo parecem ser tão ou mais miseráveis do que ele: «Como não conheço ninguém, tento atrair as atenções na rua, pois só aí poderão reparar em mim.» (p. 93). Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016
Etiquetas
Akiara
Alfaguara
Annie Ernaux
Antígona
ASA
Bertrand Editora
Booker Prize
Bruno Vieira Amaral
Caminho
casa das Letras
Cavalo de Ferro
Companhia das Letras
Dom Quixote
Editorial Presença
Edições Tinta-da-china
Elena Ferrante
Elsinore
Fábula
Gradiva
Hélia Correia
Isabel Rio Novo
João de Melo
Juliet Marillier
Leya
Lilliput
Livros do Brasil
Lídia Jorge
Margaret Atwood
New York Times
Nobel da Literatura
Nuvem de Letras
Patrícia Reis
Pergaminho
Planeta
Porto Editora
Prémio Renaudot
Quetzal
Relógio d'Água
Relógio d’Água
Salman Rushdie
Série
Temas e Debates
Trilogia
Tânia Ganho
Um Lugar ao Sol