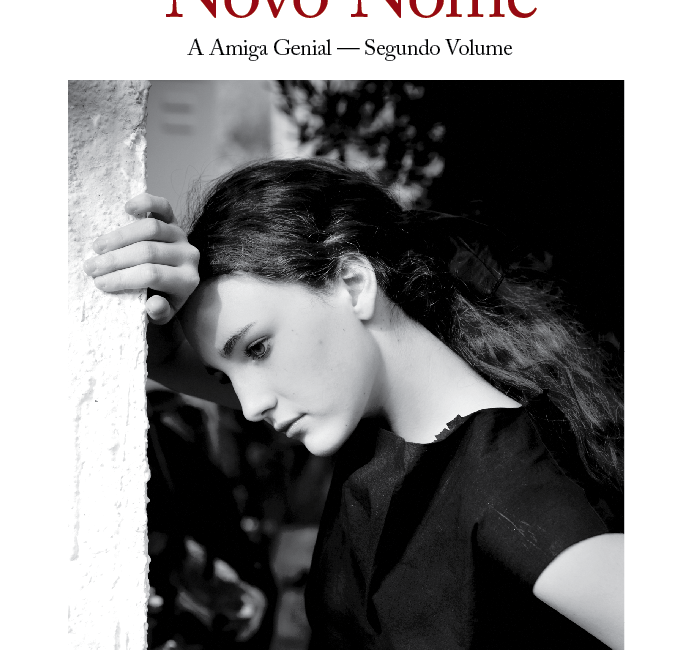Já não sou um purista, daqueles que fica sempre decepcionado com as adaptações a filme como também ultrajado. Mas continuo a preferir ler sempre o livro antes de ver o filme ou, como agora é mais corrente, a série.
Pequenos Fogos em todo o lado, de Celeste Ng, publicado pela Relógio d’Água, não é uma obra de literatura das que virá a ser discutida ou lembrada na posteridade, mas é um livro de leitura compulsiva, mas não tão leve, cuja prosa é enganadoramente simples. A autora escreve bem, mas fá-lo com precisão cirúrgica, sem usar mais do que as palavras necessárias, da mesma forma que não disseca cenas nem personagens, deixando isso a cargo do leitor. A intriga do livro pode parecer semelhante à de um guião de uma série – e por isso mesmo foi adaptado pela Hulu – mas esta história tem camadas sobre camadas de significado e levanta uma série de questões prementes, que a autora evita explorar, aparentemente, deixando as interpretações e posições a cargo do leitor, como a questão da adopção da bebé Mirabelle/May Ling, se deve ser criada pela mãe que a abandonou ou por um casal branco, rico, que tem todas as condições para a criar, menos a de lhe poder transmitir a sua herança cultural como bebé chinesa que é. Ou como uma mulher acede a ser barriga de aluguer para um casal que não pode conceber mas vê-se ultrapassada pelo seu instinto maternal, possivelmente agudizado pela perda familiar que sofre durante a gravidez.
Mia e Pearl, mãe e filha, raramente permanecem muito tempo no mesmo lugar mas, quando chegam a Shaker Heights onde alugam a casa de Mrs. Richardson, Pearl acalenta a esperança de poder criar raízes naquele pacato subúrbio de Cleveland. E rapidamente começa mesmo a criar laços com a família Richardson…
Shaker Heights é um daqueles subúrbios norte-americanos (não confundir com a nossa Amadora), ao estilo de Donas de Casa Desesperadas, onde todas as casas são geminadas e a relva não pode ultrapassar os 6 cm de altura. Mrs. Richardson é uma daquelas Stepford Wives e note-se que no livro Mrs. Richardson raramente é chamada pelo nome próprio de Elena… ou seja, é sempre conhecida pelo seu “título”, pela sua posição de chefe de família: «A casa dela era grande; os filhos estavam seguros e felizes e bem-educados. Convenceu-se de que isso era o essencial daquilo que planeara há tantos anos.» (p. 103)
Elena Richardson é daquelas pessoas irritantes que gosta de ter tudo no lugar certo e determinada em praticar boas acções (como aquelas pessoas que obrigam a velhinha a atravessar a estrada mesmo quando ela nem queria passar para o outro lado). Por isso mesmo, a renda da casa será muito abaixo do normal e é por isso que Mia se instala aí, apesar das diferenças óbvias entre ambas. Pois Mia é um artista, enquanto que Elena, com a sua família perfeita com um marido perfeito e 4 filhos, vive segura num lugar previsivelmente seguro como Shaker Heights, onde nada acontece: «na sua linda casa perfeitamente ordenada e abundantemente mobilada, em que a relva estava sempre aparada e as folhas eram apanhadas e nunca, nunca havia lixo à vista; no seu lindo bairro perfeitamente ordenado, em que cada relvado tinha uma árvore e as ruas eram curvas para ninguém andar demasiado depressa e cada casa se harmonizar com a seguinte; na sua linda cidade perfeitamente ordenada, em que todos se davam bem e todos cumpriam as regras e tudo tinha de ser útil e lindo por fora, fosse qual a fosse a confusão por dentro.» (p. 300)
E quando além disso Mrs. Richardson propõe, de modo a que seja irrecusável, que Mia faça um part-time como gestora do lar (vulgo politicamente correcto para empregada doméstica), Mia aceita também, até porque isso lhe permitirá acesso aos bastidores da casa da família que Pearl começa a preferir à sua mãe.
Agora, quanto à mini-série: a adaptação do livro Pequenos Fogos em todo o lado, de Celeste Ng, é bastante livre. E sinceramente acho que isso só enriqueceu a minha leitura do livro pois há várias questões que são muito mais exploradas, principalmente, o conflito entre Mia e Mrs. Richardson que é intensificado pela questão cultural, uma vez que na série Mia e Pearl são representadas como “afro-americana”. E é fantástico ver o confronto entre duas boas actrizes: Mia, representada por Kerry Washington (a Olivia Pope de Scandal), e Elena Richardson interpretada por Reese Witherspoon. Há aliás muito mais diálogo entre ambas as mulheres, o que pouco acontece no livro, e a hostilidade muito mais declarada entre uma artista de espírito livre e uma americana loura de boas famílias com um trabalho como repórter em part-time (pois a família é naturalmente a sua prioridade). Só é pena, na minha perspectiva (e se não quiserem um pequeno spoiler do livro aconselho a parar de ler aqui), que na série não se tenha respeitado um aspecto da história original: há uma mulher que é mãe, mas permanece também virgem, enquanto que na série é apresentada como mais promíscua.
As últimas palavras são acerca da minha muito adorada Reese Witherspoon. Mrs. Richardson aparece demasiado caricaturizada na série, como acontece com o seu sistema de organização por cores e os seus calendários para tudo, inclusive para as relações sexuais com o marido que só podem ocorrer às quartas-feiras e sábados. Mas não acho que se possa subestimar a actriz em si, até porque é muito mais exigente do que se possa pensar uma actriz inteligente, ainda por cima com o seu ar de Barbie, conseguir representar convincentemente uma mulher tonta (aqui uma espécie de Legalmente Loura na sua versão adulta) que vê todas as suas certezas arderem. Ver artigo
Não consigo compreender os critérios destes algoritmos ao estilo Big Brother. Subscrevo há anos a Apple Music, o que me permite ouvir tudo o que quero quando eu quero, e acordo com a sugestão do novo álbum do Max Richter (a OST da 2.ª temporada de A Amiga Genial). Mas quando procuro no iTunes o novo álbum de Buddha Bar XXII, que saiu já em Março deste ano, não consigo encontrá-lo de forma nenhuma – até que, por acaso, descubro uma música do DJ numa compilação recente e é por essa tortuosa via que chego ao álbum… Pode ser que o iTunes esteja a tentar educar-me nos meus gostos musicais mas deixem-me lá com a minha musiquinha étnico-zen que eu sou feliz assim. Ver artigo
A leitura de O Diabo foi Meu Padeiro, de Mário Lúcio Sousa, publicado pela Dom Quixote, pareceu-me a melhor forma de assinalar o 25 de Abril.
A Colónia Penal de Chão Bom, ou Campo de Concentração, no Tarrafal, criada durante o Estado Novo na ilha de Santiago, em Cabo Verde, foi estreada em 1936 com centena e meia de prisioneiros políticos vindos da metrópole, que era preciso afastar e punir como exemplo. As exímias condições de vida dos encarcerados (sem água, sem comida, sem higiene, sujeitos ainda a doenças tropicais e a torturas) são conhecidas, para quem leu aqueles que por lá passaram (como Luandino Vieira), aqui recontadas por este autor cabo-verdiano nascido justamente no Tarrafal, em 1964.
Pela voz de vários prisioneiros, todos eles chamados Pedro, o livro atravessa as várias décadas de existência da colónia penal (e enfatize-se a palavra colónia), enquanto narra a história do final da ditadura portuguesa e da descolonização, pois esta é também a história da luta pela liberdade, conforme os presos planeiam fugas, mesmo não havendo para onde fugir. A narrativa inicia com Pedro Santos Soares, português levado para a colónia, na primeira leva de prisioneiros em 1936, de onde sai 4 anos depois, mas regressa em 1943 e ainda em 1951; Pedro José da Conceição, outro português, que será depois amnistiado, em 1946, tal como Pedro Soares (nesta fase teremos mesmo 2 narradores). Em 1954, julga-se que a Colónia seria encerrada, mas em 1962 chegará Pedro Benge com mais 30 angolanos – «afinal, mandaram para Portugal os brancos, e para cá os pretos» (p. 185). Depois, “Preto” Mancanha, preso guineense. E, por fim, em 1971, será a vez do narrador Pedro Rolando dos Reis Martins, cabo-verdiano. O autor, ao optar por várias vozes narrativas, e adoptando o registo da língua de cada um, da variante portuguesa à guineense, celebra assim os vários modos de falar uma mesma língua – a língua do país que os subjugou mas, também, a língua que os une e lhes permite resgatar a sua memória, pois é em português que registam as suas histórias. Afinal, este livro é também um ajuste de contas com o passado, onde se registam as datas de morte, os nomes e as ocupações, dos vários presos cuja vida a colónia vai devorando – surgindo, no final, uma espécie de índice onomástico das centenas de presos do Tarrafal que “comeram o pão que o Diabo amassou”. Ver artigo
O Dia dos Prodígios é um dos livros mais importantes para mim. É uma das obras que eu trabalhei, durante mais de 8 anos, na minha vida académica.
É o romance de estreia de Lídia Jorge, uma das maiores autoras da Literatura Portuguesa contemporânea.
Foi publicado em 1980, por acaso no mesmo ano em que eu nasci, e na altura marcou uma grande mudança na literatura portuguesa, numa sociedade que também mudou com a Revolução do 25 de Abril.
Uma das personagens favoritas do romance, e de todos os romances que conheço, é Branca.
Branca está a bordar um dragão numa colcha branca mas começa a ter medo do desenho, pois sente o dragão a mover-se pela casa como um monstro, uma assombração. Como se todo o tempo e energia que ela gastou no bordado lhe tivessem conferido algum poder vital e dado vida: «Agora o dragão começa a ter uma forma de verdadeiro animal réptil voante. Porque o contorno da asa cinza vivo se abre em leque no meio do pano e o corpo do bicho de escamas miúdas. (…) Sendo potente e metalizado enrosca pelo tecido, e as patas abertas parecem agarrar seres vivos.» (p. 88). Ver artigo
Continuo a achar que Homeland (Segurança Nacional) é uma das melhores séries que tenho visto. E tem tido uns volte-faces bastante surpreendentes, como quando matou um dos principais actores.
Nas primeiras temporadas aquilo que nos assombrava era a brilhante interpretação de Claire Danes (muito longe da Julieta de outros tempos), especialmente quando emergia o comportamento da “Crazy Carrie”. Carrie largava por vezes a medicação da sua bipolaridade pois acreditava que era quando começava a perder ligeiramente o juízo que a sua mente até trabalhava melhor, conseguindo juntar mais eficazmente as peças do puzzle (lembram-se de Uma mente brilhante com o Russel Crowe? Pois, aqui não é assim tão acentuado). Mas nestas últimas temporadas a série tornou-se ainda mais brilhante, muito colada à realidade, afastando-se um pouco da turbulência do Médio Oriente pós-11 de Setembro, para passar a Berlim e depois aos E.U.A., para uma mulher-presidente que impõe um regime de terror e medo, prendendo aqueles que ameaçam o seu poder.
Homeland chegou mesmo a antecipar a realidade – penso que foi na temporada 5 -, implicando que a transmissão de um episódio fosse adiada porque aquilo que ia ser mostrado, nesse episódio, aconteceu mesmo na vida real… Dias antes do episódio ir para o ar, ocorreu um ataque bombista em Berlim.
Ontem foi exibido o penúltimo episódio da temporada 8, aquela que se prevê ser também a última temporada desta série. Carrie mantém-se firme como um rochedo no meio das crises que gere – mesmo quando é perseguida e acusada de ser uma agente dupla. Considerando aquilo que Carrie já viveu – perder o amante, acusado de ser um espião; abdicar da custódia da filha; lidar com a sua própria doença; perder um dos seus amigos mais chegados – é até impressionante que ela se mantenha mais lúcida e calma do que nunca. E o final do episódio é de uma ironia poética tão avassaladora que fiquei mesmo arrepiado, com pele de galinha, quando a escolha que se coloca é: salvar o mundo ou o seu mentor e protector? Ver artigo
«Uma das primeiras balas entra pela janela aberta por cima da sanita diante da qual se encontra Luca, de pé.» (p. 6)
A frase inaugural deste romance agarra de imediato o leitor, até porque a história arranca em plena acção, com mãe e filho a procurarem proteger-se de um tiroteio na casa de banho. Luca, o filho de Lydia, tem oito anos. Os dois são os únicos sobreviventes desse ataque dos sicarios naquele que é um bairro bom de Acapulco. Não haverá testemunhas pois apesar do movimento por trás das janelas dos vizinhos, estes já se preparam «para negar credivelmente que viram seja o que for» (p. 12) quando chega a polícia, que também não vai fazer nada, enquanto toda a família (16 pessoas) está morta no quintal das traseiras. A polícia não vai ajudar porque, das mais de duas dúzias de agentes da autoridade e pessoal médico, uma boa parte recebe do cartel da zona 3 vezes o ordenado que o Governo lhes paga. No México, a taxa de crimes por resolver situa-se acima dos 90 %.
Sebastián, marido de Lydia, era repórter num local onde os cartéis assassinam um jornalista de tantas em tantas semanas: «Tudo aconteceu tão depressa nos últimos anos. Acapulco sempre teve pendor para a extravagância, portanto, quando finalmente caiu em desgraça, fê-lo com o espectacular espalhafato que o mundo se habituara a esperar da cidade. Os cartéis entregaram-se à farra e pintaram as ruas de sangue.» (p. 63-64)
Apesar da acalmia que se instalara mais recentemente, Sebastián fora ameaçado, diversas vezes, para parar de escrever sobre os cartéis: «Uma imprensa livre era a última linha de defesa, dizia ele, a única coisa que protegia o povo mexicano da aniquilação total» (p. 42). E este seu idealismo e integridade pareciam a Lydia uma hipocrisia egoísta. O que ela não sabe é que Javier, o cliente que se tornou um visitante regular da sua livraria e um amigo, é o líder do cartel, pelo que, quando a verdade é desvendada, cria-se uma relação de amor-ódio entre ambos (com ecos intertextuais de O Amor nos Tempos de Cólera, de García Máquez).
Ficaremos a saber como esta mãe se sente «esfarrapada como um pedaço de renda, definida não tanto pela matéria de que é feita, mas pelas formas que lhe faltam.» (p. 105), enquanto engole a dor e se empenha em chegar aos E.U.A., o único porto seguro para si e, particularmente, para o seu filho, pois estranhamente parece que é Luca o mais procurado. A forma determinada e calculista, de fria eficácia, com que Lydia supera o trauma e inicia uma fuga pela sobrevivência, pode até desconcertar o leitor mas, como afirma o narrador, «se há uma coisa boa no terror é o facto de ser mais imediato que o luto» (p. 31). Lydia deparar-se-á, por fim, com a única forma possível de migrar para o país vizinho: «Lydia estuda os comboios de mercadorias em que se deslocam os migrantes da América Central, de uma ponta à outra do país. De Chiapas a Chihuahua, agarram-se ao cimo dos vagões. O comboio ganhou o nome La Bestia, porque a viagem é uma missão de terror em todos os sentidos possíveis e imagináveis. A violência e os raptos são endémicos ao longo da linha férrea e, além dos perigos criminais, os migrantes também correm o risco, todos os dias, de ficarem mutilados ou de morrerem, quando caem do alto dos comboios.» (p. 87)
A Besta: uma viagem de comboio a que todos os anos sobrevive meio milhão de pessoas. Nessa viagem, Luca, o nosso pequeno herói, «um homem de idade num corpinho mínimo» (p. 178), e a sua mãe conhecerão ainda personagens fascinantes com quem partilham o fado de terem de mudar de país para se manterem vivos, afastando-se da violência ou da miséria: «é aquilo que todos os migrantes têm em comum, é aquela a solidariedade que existe entre eles, apesar de virem todos de diferentes lugares e diferentes circunstâncias, uns urbanos, outros rurais, uns de classe média, outros pobres, uns educados, outros analfabetos, salvadorenhos, hondurenhos, guatemaltecos, mexicanos, índios, cada um deles carrega uma história de sofrimento em cima daquele comboio rumo ao Norte.» (p. 183)
Terra Americana, de Jeanine Cummins, publicado em Março pelas Edições Asa, também disponível em ebook e com exímia tradução de Tânia Ganho, é um dos livros mais controversos deste ano. A autora foi inclusive acusada de “apropriação cultural” pois é um romance escrito sobre o México por uma autora norte-americana, pelo que não “pode conhecer a fundo a realidade que descreve”.
A leitura deste livro quer-se compulsiva, virando as páginas ao ritmo da tensão, e a prosa é belíssima. É particularmente bem conseguida a forma como a narrativa oscila entre a focalização na perspectiva de Luca e da mãe, sem haver uma alternância sistemática entre as personagens, sendo que essa cisão de perspectiva pode ocorrer subitamente de um parágrafo para o seguinte, conforme aprouver melhor vivenciar a intriga por um dos dois migrantes. Ver artigo
Volto a Elena Ferrante, autora publicada pela Relógio d’Água, quase 4 anos depois. Já o afirmei antes: não digo que não seja de modas mas a febre Ferrante (há até um documentário com este nome, como devem saber) nunca me atingiu fortemente. Talvez isso se verifique agora pelo que estarei atento aos sintomas.
Quando li A Amiga Genial no final de 2016, gostei do livro, depois vi a série mas parei logo nos primeiros episódios – nem sei bem porquê, aliás até sei, achava que não tinha lido as partes da história correspondentes aos episódios seguintes, do final da infância da Elena e Lila. Só depois é que me apercebi que a primeira temporada, e cada uma das seguintes, corresponde a cada um dos livros da tetralogia.
Estou agora na página 100 desta História do Novo Nome, título que parece dever-se ao novo nome tomado pela Lila, e à nova identidade que de alguma forma adopta, agora como mulher casada, enquanto que Elena se sente inferior – sempre este complexo de inferioridade em relação à (outra) amiga genial –, amputada, ao sentir que perdeu a amiga que transpôs o limiar de uma vida nova onde ela não tem lugar, e desamparada, sem saber que caminho seguir, chegando ao ponto de descurar os estudos – a sua oportunidade (sempre presente esta dicotomia) entre o bairro e uma vida fora do bairro que só será possível com os estudos. Vou entretanto começar a (re)ver a temporada um, de que apenas tinha visto 2 episódios, voltar a escutar a banda sonora do meu caro Max Richter, e tentar terminar a leitura do segundo volume para passar à segunda temporada desta série da HBO – cada temporada tem 8 episódios. Ver artigo
Chega-nos agora, pela Alfaguara, Os Informadores, o primeiro romance do premiado autor colombiano Juan Gabriel Vásquez, um dos mais celebrados escritores contemporâneos de língua espanhola, sobejamente conhecido por A forma das ruínas.
O romance de estreia do autor é também a minha estreia na sua obra com esta extraordinária história de traições e segredos de família.
Quando o jornalista Gabriel Santoro – note-se que o protagonista do romance é homónimo do autor e, tal como ele, jornalista – publica o seu primeiro romance, escrito a partir da história pessoal e da memória de Sara Guterman, uma amiga de família, criada com o pai, judia chegada à Colômbia nos anos 30, em fuga à Alemanha nazi e ao eclodir da Segunda Guerra, não pode imaginar que a crítica mais devastadora será escrita justamente pelo pai – crítica essa, aliás, que exacerbou justamente a visibilidade de um livro que provavelmente teria passado despercebido. Uma Vida no Exílio, «uma reportagem com título de documentário para a televisão» (p. 15), é o único livro de Gabriel Santoro filho e representará também o afastamento de Gabriel Santoro pai, que não perdoa ao filho o ir remexer no passado, ao recontar a história de Sara. Até que, 3 anos depois, o pai o convida para ir a sua casa, como forma de se sentir menos sozinho face a uma operação que se torna iminente.
Num fantástico exercício de desvelamento, em que a verdade se vai despindo por camadas como uma cebola, Os Informadores é narrado numa sucessão de versões da história, em que os acontecimentos vão ganhando uma nova luz, e por conseguinte originam uma nova versão de parte da história. Nos 6 meses depois da operação, o pai de Gabriel aproveita a sua segunda vida para sanar erros e falhas do passado, mas não é ao filho que acaba por revelar o verdadeiro motivo da sua irascibilidade perante o livro em que se revelava ao público a história de Sara, que era também a história de um período negro, em que a Segunda Guerra ensombrou a Colômbia, apesar de este parecer ser apenas um país remoto do outro lado do Atlântico. Lembremos as palavras de Gabriel pai numa das suas aulas, quando fala com os seus alunos mas está, na verdade, a dirigir-se ao filho: «Nessa época todos tínhamos poder, mas nem todos sabíamos que o tínhamos. Apenas alguns o utilizaram. Foram milhares, claro: milhares de pessoas que acusaram, que denunciaram, que informaram. (…) o sistema das listas negras deu poder aos fracos, e os fracos são a maioria. Assim foi a vida durante esses anos: uma ditadura da fraqueza.» (p. 63)
Juan Gabriel Vásquez nasceu em Bogotá, Colômbia, em 1973. Estudou Literatura na Sorbonne e viveu em Barcelona mais de dez anos.
Como tradutor, foi responsável pela tradução de obras de John dos Passos, Victor Hugo e E. M. Forster, entre outros. Escreve regularmente em vários jornais. Os seus livros estão publicados em 30 idiomas em mais de 40 países, com extraordinário êxito junto da crítica e do público. Vencedor e finalista de vários prémios: O barulho das coisas ao cair, publicado cá em 2012 (Prémio Alfaguara, English Pen Award, Impac Dublin Literary Award, Premio Gregor von Rezzori-Città di Firenze); As reputações, em 2015 (Prémio da Real Academia Espanhola, Premio Arzobispo Juan de San Clemente, Prémio da Casa da América Latina de Lisboa, finalista dos Prémios Médicis e Femina) e A forma das ruínas, em 2017 (Prémio Literário Casino da Póvoa Correntes d’Escritas; finalista do Prémio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa). Venceu por duas vezes o Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar pelo seu trabalho jornalístico. Em 2012 foi-lhe atribuído em Paris o prémio Roger Caillois pelo conjunto da sua obra. Ver artigo
1.º Direito é o mais recente livro publicado pela Editora Pato Lógico e uma «produção ligeiramente inspirada» no filme Janela Indiscreta, de Hitchcock, com Grace Kelly. E é já considerado «o melhor policial deste milénio», por Ião Flamingo, e «Graça é a melhor detective sem bigode que eu conheço», segundo Ágata Cristina.
Este livro infantil, de cores quentes, texto de Ricardo Henriques e ilustrações de Nicolau, que conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, conta a história de Graça, uma menina de 8 anos que tem como passatempo uma arte que se parece ter perdido com os tempos das nossas avós: «observação de pessoas».
«O meu pai diz que eu devia parar de coscuvilhar as pessoas do bairro e dedicar-me a vidas mais interessantes (…). Eu já lhe disse que não coscuvilho. Faço people watching.»
Da sua janela, a nossa jovem heroína observa a sua rua: «vejo as vidas em frente como se fossem canais de televisão». E é tão perspicaz a perceber que os tempos antigos dão lugar a novas modas como é astuta ao conhecer as rotinas dos vizinhos: desde a Miss Apertem os Cintos do 1.º Esquerdo à Dona Camomila do 3.º Esquerdo, que bebe chá de camomila com mel, e tem 2 gatas, a Mila e a Mel. Mas no 1.º Direito mora um mistério: um vizinho que acaba de se mudar, «um homem de ar sério, que passa os dias a olhar para o infinito.
De vez em quando o infinito deve olhar de volta e o homem mergulha na sua mesa, a escrevinhar».
Nesta história de suspense e mistério, com uma protagonista que, à semelhança dos leitores mais novos, também está fechada em casa, a olhar o mundo lá fora, Graça não nos deixa parar a leitura enquanto não descobrir que assalto planeia ele e desmantelar essa rede criminosa. Até porque também o leitor tem um pequeno mistério a resolver: descobrir porque é que Graça não pode deixar o seu posto de observação à janela e sair à rua…
O livro 1.º Direito (e que fala também de direitos, inclusive os de autor) encontra-se à venda na loja online do Pato Lógico e chega também às livrarias que se mantêm em funcionamento online, com entrega em casa ou recolha na livraria, pois especialmente nestes tempos de clausura e confinamento os livros continuam a ser janelas para o mundo e ajudam os miúdos e graúdos a viajar sem sair do sofá. Ver artigo
A colecção Retratos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), traz-nos «um olhar próximo sobre a realidade do país». Cobras, lagartos e baratas – Os melhores amigos do homem? é um retrato contado por Ana Daniela Soares, que viu, ouviu e viveu de perto como os portugueses cada vez mais escolhem répteis, insectos ou anfíbios como animais de estimação, naquele que é um mercado em crescimento – além de que o tráfico de vida selvagem é um dos mais lucrativos, depois do tráfico de drogas e de pessoas (p. 91). Ainda que a companhia doméstica de bichos exóticos possa surpreender e até arrepiar alguns dos leitores – até porque um animal de estimação hoje pode também considerado um parceiro –, este pequeno livro é um trabalho surpreendentemente isento de qualquer juízo de valor, em que a autora reparte em diversos capítulos o que resultou da sua pesquisa, nomeadamente das conversas com tutores, criadores, biólogos (como Élio Vicente, do parque temático Zoomarine), consultores em bem-estar animal, proprietários de lojas de animais e veterinários, de modo a revelar este «admirável mundo novo dos animais exóticos de estimação» (p. 10).
Em Portugal, onde se chegou a vender 400 mil tartarugas por ano, há até quem tenha ouriços ou furões. Hoje é legal «ter como animais de companhia determinadas espécies de aranhas, escorpiões, lagartos, cobras, mamíferos como suricatas ou petauros-do-açúcar e até baratas-de-madagáscar, as quais podem atingir 10 cm» (p. 10)…. Contudo, neste Retrato descobriremos histórias bastante mais insólitas que ocorrem em Portugal: pitões encontradas abandonadas na natureza, com 20 kg de peso e 1,70 m; crocodilos recolhidos na Barragem de Castelo de Bode com 1,5 m; uma mulher que passeava um elefante pelo Algarve (para sermos claros, tinha 4 m de altura e 4.000 kg); clientes que compram enganosamente mini pigs (moda que começou com George Clooney) que atingem os 100 kg; um senhor, em Portugal, que tinha um casal de leões adultos na sala (apesar das fiscalizações que ocorrem quando surgem denúncias para a apreensão de grandes felinos é preciso ter um mandado; nos EUA, por exemplo, vivem 300 tigres como animais de estimação); pode comprar uma formiga por 500 euros e colónias a vários milhares de euros
É bom ressalvar que estes animais exóticos são, muitas vezes, sobretudo para contemplação, até porque não se deixam manear, pois são de gerações de cativeiro ainda muito recentes, ao contrário de animais domésticos, como os cães, que co-evoluíram com o homem ao longo de centenas de milhares de anos. São animais selvagens, cuja proximidade podem dar aos seus cuidadores, erradamente, a sensação errada de que podem manifestar afecto (p. 12). Além de que, quando se tornam demasiado grandes para estarem contidos num apartamento, e são libertados na Natureza, há que ter em conta que eles não estão preparados, depois de criados em cativeiro, para viver livremente e são um risco biológico e ecológico para o nosso ecossistema, inclusive os aparentemente inofensivos peixes vermelhos de aquário ou as tartarugas que podem colocar em risco espécies endémicas como o cágado…. Hoje, aliás, gasta-se mais a erradicar espécies exóticas do que na prevenção dos cuidados a ter com a natureza… (p. 52)
Ana Daniela Soares é licenciada em Enfermagem e em Ciências da Comunicação. Integrou os quadros da RTP em 2004. Apresentou e fez reportagem em vários programas, concertos e emissões especiais na Antena 1 e Antena 2. Apresenta desde 2010 a rubrica À Volta dos Livros, transmitida de segunda-feira a sexta-feira, às 17h40 e às 21h20, na Antena 1. Em 2013, foi distinguida com o Prémio Pró-Autor, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Desde 2015 integra o canal de informação RTP 3 onde coordena e apresenta o programa Todas as Palavras. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016