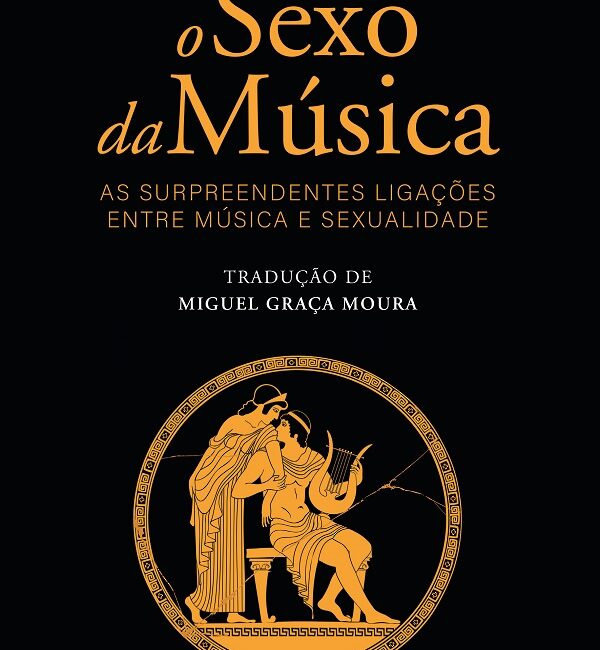O Sexo da Música – As surpreendentes ligações entre música e sexualidade, de Étienne Liebig é uma obra original e única, que procura evidenciar uma relação extremamente pessoal mas também universal – procedendo a uma abordagem científica, histórica, psicológica e antropológica – e tão intemporal quanto o tempo de vida da humanidade: «A música, tal como o sexo, é um assunto de corpo e coração; a música, tal como o sexo, é universal.» (p. 11)
O maestro Miguel Graça Moura tomou a iniciativa da tradução, cuja edição foi acolhida pela Temas e Debates e o Círculo de Leitores, e pontua as notas do autor com os seus próprios contributos, ciente da «crescente incultura geral», nomeadamente entre as gerações mais novas, como os estudantes universitários.
Étienne Liebig afirma que a música «é uma vibração que sacode o meio ambiente pondo as moléculas em movimento, como todos os sons.» (p. 13) e que acciona «uma aparelhagem complexa nos nossos ouvidos. Estes transformam a vibração em impulsos elétricos para que diferentes áreas do nosso cérebro os recebam, os leiam e os interpretem segundo diferentes parâmetros para nos dar o sentimento da música.» (p. 17)
Sentimos a música antes de a ouvir e essa sensação é tão cerebral quanto física, como sucede quando de súbito a pele do braço se arrepia e os pêlos se eriçam. O prazer que sentimos com a música vem da identificação da sua complexa estrutura, mas também de dois elementos tão antagónicos quanto centrais à música: a antecipação e a surpresa.
«Os compositores conhecem muito bem este fenómeno da espera que deixa o auditor em estado de transe auditivo («vem, não vem?») e um certo tipo de satisfação quando por fim se ouve o refrão, o chorus, a entrada da orquestra, o ritmo tão esperado.» (p. 18)
A música pode ser um catalisador da memória, como a madalena de Proust, pois como se explica que quando ouvimos certas músicas somos transportados para a idade em que as ouvimos pela primeira vez?
«Esta necessidade de reescutar, seja a mesma coisa, seja algo de semelhante, está ligada à nossa memória auditiva que armazena os timbres, os ritmos, as vozes, as tonalidades que nos deram prazer e que procuramos durante toda a vida com o objetivo de “curtir” de novo. (p. 19)
A ligação entre música e sexo parece natural, mas Étienne Liebig – nascido em Montreuil (França) em 1955, músico, musicoterapeuta de crianças com autismo, animador social, membro de um quarteto de jazz, autor de várias obras e ensaios – é um dos poucos que se dedicou a estudar o assunto: «quando se vê no cinema uma cena erótica, escuta-se um certo tipo de música e não outro. Se se recorda um lugar de sedução e de encontros amorosos, ouve-se mentalmente o baile, a orquestra ou a aparelhagem sonora. As canções falam de amor, de desejo. As estátuas gregas apresentam flautas ou liras na nudez branca do mármore, e quando se lê biografias de músicos de rock (e não só), quase nem é surpresa descobrir nelas apetites sexuais insaciáveis!»
Dividido em três partes, o livro começa por analisar a afinidade fisiológica e psicológica entre o prazer sexual e sensorial de ouvir música, em que o nosso corpo pode ser tocado como um instrumento musical; percorre a história da música desde os primórdios da humanidade, de um ponto de vista antropológico e histórico, procurando demonstrar como em todas as épocas e culturas a música e o sexo estiveram intimamente ligados; e termina com um esboço de um estudo (deixando pontas soltas para futuras leituras) sobre todas as formas de arte – pintura, escultura, dança, teatro, literatura, cinema, ópera, etc. – em que a música exprime a sexualidade. A obra contém ainda breves biografias de músicos e compositores, com revelações e curiosidades surpreendentes, e imensas referências – do erudito ao popular, dos videoclips aos filmes – onde a cultura e o humor são parceiros. Ver artigo
Em O Sexo da Música – As surpreendentes ligações entre música e sexualidade, publicado pelas Temas e Debates, Étienne Liebig afirma que a música «é uma vibração que sacode o meio ambiente pondo as moléculas em movimento, como todos os sons.» (p. 13); «uma vibração que vai acionar uma aparelhagem complexa nos nossos ouvidos. Estes transformam a vibração em impulsos elétricos para que diferentes áreas do nosso cérebro os recebam, os leiam e os interpretem segundo diferentes parâmetros para nos dar o sentimento da música.» (p. 17)
Sentimos a música antes de a ouvir. Recordo-me que quando vivia na Beira sentia no próprio corpo uma espécie de vibração, como se o ar começasse a chegar em ondas, até que efectivamente o som se começava a discernir, vindo de longe, até que, subitamente, como um trovão que estalava no seio da casa, o vidro de uma das janelas (uma das paredes da casa era toda em vidro) começava a estremecer ao som da música, o que significava que ia haver um concerto nessa noite nalgum bairro vizinho e eu teria de conseguir dormir apesar do barulho. A música chega-nos em ondas de som, como quando certos carros passam por nós e o nosso carro estremece e vibra com o som, apesar de quase não conseguirmos ouvir a música com as janelas fechadas.
O prazer que sentimos com a música vem da identificação da sua complexa estrutura, mas também de dois elementos tão antagónicos quanto centrais à música: a antecipação e a surpresa.
«Os compositores conhecem muito bem este fenómeno da espera que deixa o auditor em estado de transe auditivo («vem, não vem?») e um certo tipo de satisfação quando por fim se ouve o refrão, o chorus, a entrada da orquestra, o ritmo tão esperado.» (p. 18)
Em suma, também a música pode ser um catalisador da memória, como a madalena de Proust…
Jonah Lehrer, em Proust era um neurocientista – Como a arte antecipa a ciência (Lua de Papel), num misto de biografia, ensaio e escrita científica, procura demonstrar como a arte antecipou a ciência, através da obra de 8 artistas, designadamente de Proust e a sua famosa madalena, feita de açúcar, farinha e manteiga, que espoleta no narrador a rememoração de todo o seu passado ao longo de 7 volumes. E sabe-se hoje que Proust estava certo, pois está provado que o paladar e o olfacto são os únicos sentidos que se ligam directamente ao hipocampo, o centro da memória de longo prazo do cérebro.
Contudo, se assim é, como se explica que quando ouvimos certas músicas somos transportados para a idade em que as ouvimos talvez pela primeira vez? Aconteceu-me uma vez, com o Concerto para Piano n.º 1 de Tchaikovsky, em que quando um dia o ouvi por acaso num CD que meti no carro, senti-me projectado para a primeira vez que o ouvi, mais de 20 anos antes… Ou hoje, quando ao ouvir um álbum de êxitos de Elton John me lembrei de uma música que não ouvia há mais de 10 anos, sem exagero: Believe… e a forma como, apenas pelos primeiros segundos, consigo reconhecer de imediato e a pele dos meus braços se arrepia e os pêlos se eriçam…
«Esta necessidade de reescutar, seja a mesma coisa, seja algo de semelhante, está ligada à nossa memória auditiva que armazena os timbres, os ritmos, as vozes, as tonalidades que nos deram prazer e que procuramos durante toda a vida com o objetivo de “curtir” de novo. (p. 19) Ver artigo
A Ocupação é o mais recente romance de Julián Fuks, novo autor brasileiro a que convém estar atento, publicado pela Companhia das Letras. É uma narrativa tão breve quanto fulgurante, onde até as páginas em branco, as pausas de respiração entre a leitura e a escrita, parecem representar o que fica por dizer. Cada palavra é pesada e cada frase um encadeamento perfeito de uma autoficção que vai desfiando em prosa poética a história de Sebastián, num momento crítico da sua vida, entre a morte do pai que se faz próxima e a sua própria paternidade. O romance evoca a respiração narrativa de Mia Couto (que surge logo em epígrafe) na primeira frase: «Todo homem é a ruína de um homem, eu poderia ter pensado. Aquele homem que se apresentava aos meus olhos era a encarnação dessa máxima, um ser em estado precário, um corpo soterrado em seus próprios escombros.» (p. 13). Ou, mais à frente: «Era um menino novo demais para ser uma ruína de menino, para ser sua própria ruína.» (p. 14). A influência de Mia é aliás tão presente que o autor vai mesmo trazê-lo para dentro do romance. À parte a sua tragédia, Sebastián tenta dar voz aos outros, seguindo justamente o conselho do seu amigo escritor, vagueando por São Paulo rumo ao Hotel Cambridge, ruína agora ocupada por «moradores sem-tecto» (p. 120), cujas histórias recolhe e narra. Mas a história que mais destaque ocupa será a de Najati, o refugiado sírio.
Ainda que no início, o narrador na primeira pessoa consiga esconder-se sob a máscara de Sebastián, este alter-ego será progressivamente revelado, até ao momento-chave do diálogo entre filho e pai:
«Pai, eu vou ter um filho.
Que notícia linda, Julián. Obrigado por me dizer.
Obrigado a você, pai. Mas aqui você me chama de Sebastián.» (p. 90)
Após este episódio, é cada vez mais comum depararmo-nos com personagens que estão cientes de que aquele é o escritor que ocupa no Hotel «o quartinho do décimo quinto» (p. 95) e que tem por ocupação escrever a história dos outros.
Neste intenso exercício de reescrita da vida, onde é impossível saber onde esta termina para dar lugar à ficção, os vocábulos ruína, ocupação e resistência são recorrentes, revestindo-se a cada página de novo significado. Note-se, em jeito de conclusão, a dissertação do sírio, ao falar do Brasil como país errado para destino de fuga, por viver um «presente em ruínas» (p. 120), tão periclitante como o edifício em ruínas:
«Na ocupação eles insistem que formamos uma família, uma família de refugiados em terra própria ou estrangeira, e isso de início me pareceu estranho, disse Najati. Depois pensei que não poderia haver definição mais precisa. Sim, porque o mundo é feito de infinitos trânsitos, do movimento contínuo de seres. Como a minha, toda família tem, se recuarmos o bastante no tempo, uma infinidade de deslocamentos em sua génese. Toda a humanidade é feita desse movimento incessante, e só existe tal como a conhecemos graças a esses deslocamentos.» (p. 92) Ver artigo
Entre vários livros que têm sido publicados ao longo dos últimos meses e que versam a epidemia global do coronavírus – alguns deles aqui apresentados, como Este vírus que nos enlouquece, de Bernard-Henri Lévy, ou Frente ao Contágio, de Paolo Giordano – é seguro afirmar que este A Pandemia que Abalou o Mundo, de Slavoj Žižek, é uma obra que se demarca. Publicado pela Relógio d’Água, que integra ainda no seu catálogo mais de uma dezena de obras deste psicanalista e investigador de Sociologia na Eslovénia, este é um tratado que versa como o mundo pode vir a despertar desta crise.
Slavoj Žižek argumenta que a pandemia tem vindo, sobretudo, a pôr a nu as fragilidades do nosso sistema, apesar de avisos constantes por parte dos cientistas. A Europa aproxima-se assim do que o autor apelida de “tempestade perfeita”, mediante uma combinação improvável de três diferentes circunstâncias: a epidemia do coronavírus no seu impacto directo, com quarentena, doença e morte; o seu impacto económico (num mundo globalizado que depende fortemente de importações e exportações); e a nova explosão de violência na Síria que provocará uma nova vaga inevitável de migrantes refugiados na nossa direcção.
Da mesma forma que o confinamento social levou a que milhares de pessoas encarassem «a suprema contigência e falta de sentido das nossas vidas» (p. 49) quando, de repente, se viram compelidas a colocar em pausa as suas vidas, conforme o mundo inteiro praticamente parou, o autor mostra uma ténue esperança de que possamos afinal aprender algo com esta crise de modo a repensar o nosso modo de vida. Mais do que isso, o autor advoga, e tem sido «amplamento enxovalhado» por isso (p. 79), que esta crise, tão psicológica quanto económica, seja resolvida com uma nova forma de comunismo. Se o confinamento de todo um país consiste na «concretização da aspiração totalitária mais arrojada» (p. 67), medidas como as que Trump tenta impôr – limitando a liberdade do mercado privado de modo a que todas as empresas se centrem na produção de bens que são agora essenciais, como máscaras, kits de testes, ventiladores – podem representar uma esperança e a forma mais inteligente de tentar evitar um desastre que será, sobretudo, financeiro – na medida em que «numa crise somos todos socialistas».
Slavoj Žižek faz uma acutilante análise de como vários países reagiram à epidemia, entre o espectro do «controlo hierárquico quase total ao estilo chinês», que impediu que se difundisse qualquer informação e, por conseguinte, o pânico, e a «abordagem mais relaxada da “imunidade de grupo”», enquanto quase todos os governos se revelam cada vez mais ineficazes de lidar com a situação, incutindo nos seus cidadãos a responsabilidade de se cingirem à quarentena.
«Por conseguinte, não devíamos perder demasiado tempo com meditações espiritualistas New Age sobre a forma como «a crise do vírus vai permitir que nos foquemos naquilo que realmente importa nas nossas vidas». A verdadeira luta será sobre que forma social vai substituir a Nova Ordem Mundial liberal-capitalista» (p. 113) Ver artigo
No dia 6 de Agosto chega às livrarias Epítome de pecados e tentações, o novo livro de Mário de Carvalho, publicado pela Porto Editora, o que, convenhamos, não é de todo inesperado ou surpreendente, uma vez que o autor tem vindo a publicar a um ritmo regular, principalmente desde A Sala Magenta, em 2008, alternando entre a novela, o conto e o romance, mas também passando pelo ensaio com Quem Disser o Contrário É Porque Tem razão em 2014. Mário de Carvalho, um dos autores mais importantes da nossa literatura na contemporaneidade, regressa ao conto.
Originalmente previsto para ser lançado em Março de 2020, conforme consta na ficha técnica, também este livro se viu forçado a alguns meses de confinamento social pelo que só agora lhe é possível ver a luz e dar o ar da sua graça. Pois, se bem que Mário de Carvalho se revele como um escritor prolífico, praticando os mais diversos géneros, e capaz de uma técnica exímia nos mais diversos estilos – do romance histórico à sátira –, é sobretudo pela fina ironia e pela doce crítica que os seus contos se destacam.
Dividido em 3 partes, este livro é constituído por 11 breves narrativas: na primeira parte, poderemos considerar que as duas narrativas são novelas, dada a sua extensão; na segunda parte, temos 8 narrativas mais curtas, contos cuja dimensão varia entre as 8 a 4 páginas; e na terceira parte, um único conto.
Pode ler-se na contracapa que este é um livro «de pecados que pedem total absolvição», todavia a venialidade do venéreo é, também, substituída por uma certa banalidade do mal, pois estes «Fascínios, inquietações e sobressaltos nas relações entre homens e mulheres» que entretecem as várias narrativas, formando um mosaico de adultério e leviandade, parecem ser mais a norma do que a excepção nos casamentos e nos relacionamentos modernos. Ver artigo
Fernão de Magalhães – O Homem que se Transformou em Planeta, uma edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda, com texto de Luís Almeida Martins e ilustrações de António Jorge Gonçalves, assinala a comemoração dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.
Para contornar o problema de ter de escrever sobre uma personagem histórica de há 5 séculos, o autor-narrador contorna o problema, evocando o fantasma de Fernão de Magalhães ou o espectro da sua memória para contar, na primeira pessoa, como se tornou no português mais famoso de todos os tempos, neste planeta e noutras esferas vizinhas: «Tão famoso, tão famoso, que o seu nome foi dado a uma galáxia, a uma sonda espacial, a um sistema de GPS, a um modelo de computador, a uma grande cratera de Marte, a um estreito entre dois oceanos, a uma baía, a navios e a aviões da realidade e da ficção»… Deu nome também a uma nave espacial. E ganhou novas vidas como protagonista de jogos de computador. Da mesma forma que na sua viagem em torno do globo, foram apelidando esse novo mundo: os habitantes de pés grandes que foram apelidados de patagões, e a sua terra de Patagónia; ou a Terra do Fogo, com as montanhas brilhantes de fogueiras pelos patagões; ou o Oceano Pacífico, assim apelidado pelo nosso herói pela calmaria daquele imenso mar do Sul até então desconhecido pelos navegadores europeus; ou ainda a uma subespécie de pinguins.
A primeira metade do livro é sobre a vida de Fernão de Magalhães, ainda antes de se tornar planeta. De pajem da corte a soldado aos 25 anos, partindo em 1505 na direcção da zona das especiarias, até aos confins das malucas das ilhas Molucas, onde nascem a pimenta, a canela, a noz moscada e, sobretudo, o cravinho, tão capazes de enriquecer uma pessoa como de a enlouquecer, pois com uma só saca desse produto, se conseguisse regressar à pátria, poderia comprar uma casa ou uma quinta e viver sem nada fazer para o resto dos seus dias.
Com um certo revisionismo histórico, Fernão de Magalhães, agora narrador, tão depressa explica aos mais jovens as suas façanhas, num registo que lhes seja familiar (onde não falta um pequeno dicionário para as várias figuras históricas, locais e outros aspectos), como revela contrição pela forma como se fez a expansão do Império: «O pior eram as violências cometidas pelos nossos, quase sempre em nome da “verdadeira” religião», mas quando estamos metidos nas coisas nem sempre é fácil distinguir o que está bem do que está mal». Da mesma forma que tem um «nó atravessado na goela que nunca se desfez», por se ver rejeitado por D. Manuel I, O Venturoso (mais conhecido por Merceeiro noutros reinos europeus), vendo-se obrigado a bater à porta do reino vizinho, onde Carlos I lhe concede o patrocínio de uma frota e sua tripulação – e passando a ser acusado de traidor pelos portugueses.
Este livro não se esquiva às polémicas que envolvem a proclamação da viagem da circum-navegação: polémica que dura até aos nossos dias, quando a candidatura à UNESCO deste feito, enquanto património mundial, foi apresentada por Portugal e por Espanha. Se Fernão de Magalhães morre em 1521, sendo Elcano quem completa a viagem «um pouco por acaso», a verdade é que ele tinha ultrapassado entretanto a longitude das Molucas do Sul, onde já estivera antes, em 1512, e chegado às Filipinas pela via do oeste, descendo ao longo da América do Sul. E, claro, a condizer harmoniosamente com o texto cuidado e a aturada pesquisa, estão as ilustrações em tons quentes (recorre-se quase exclusivamente ao azul e ao laranja), que bebem do imaginário da época e, conforme a viagem se desenrola, podemos seguir o seu percurso num planisfério miniatura que assinala a rota percorrida naquelas páginas. Para cúmulo, a sobrecapa do livro transforma-se em mapa.
Em suma: mais do que um livro didáctico, colado às fontes, resulta desta história um fantástico relato de aventuras além-mar, que procura romper uma visão quadrada do mundo. Ver artigo
A música de Max Richter é um oxímoro. Se, por um lado, parece inconfundível, com acordes e um minimalismo gradativo facilmente reconhecível, é, por outro lado, sempre desafiante, inovando de álbum para álbum.
Em Recomposed adapta Vivaldi numa espécie de versão em loop (o que não deixa de ser fabuloso).
Em Sleep criou um álbum de oito horas que intenta proporcionar um estado de relaxamento profundo, indutor de sono (eu chamo-lhe a minha música de avião, quando nas viagens intercontinentais tento obrigar-me a dormir).
Em Three Worlds – Music from Woolf Works, não só resgata a voz de Virginia Woolf como ainda cria uma banda sonora para 3 dos seus principais romances (Mrs. Dalloway; Orlando; The Waves).
No seu mais recente álbum, Voices, Max Richter dá agora voz à Declaração dos Direitos Humanos, em várias vozes, nas mais diversas línguas.
«All human beings are born free and equal»
Assim começa este álbum… e perguntamo-nos, conforme a voz se silencia e a música se propaga nas suas usuais ondas de som, onde é que este senhor quer chegar desta vez… E conforme, ao longo dos vários movimentos, continuamos a ouvir cada um dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos, percebemos que, afinal, essa é a pergunta que o compositor nos está a colocar: vejam o mundo a que chegaram e pensem para onde querem ir agora a partir daqui… Ver artigo
O Nascimento dos Deuses é o terceiro e mais recente livro publicado pela Gradiva que integra a colecção concebida e escrita por Luc Ferry.
Quando era criança, só tive uma febre maior que a dos dinossauros: a minha fascinação pela mitologia grega, essa inesgotável fonte de aventuras tão maravilhosas quanto grotescas que, apesar do excesso e do fantástico, procuram explicar o mundo e o universo.
“No início, era o Caos. Uma desordem absoluta sem definição nem individualidade. Uma divindade impessoal. Tudo aí era indistinto, sem forma e sem contorno”.
Mais do que um livro de banda desenhada, este é um magnifico álbum ilustrado, colorido, vivo, com imagens plenas de movimento, que explica, sem meias-palavras, como a partir da união de Geia, a terra, e Úrano, o céu, surgirão os primeiros deuses do panteão grego: os Titãs, os primeiros Ciclopes (Raio, Relâmpago e Trovão) e os Hecatonquiros, seres imortais com uma força sem par que vivem para a guerra. Mesmo quando o macabro parece reinar – com Crono (Saturno) a castrar o pai, Úrano, e depois a devorar os seus filhos, que acabará por regurgitar inteiros, ou Zeus a cometer parricídio –, as imagens do livro são sempre belíssimas e os deuses são representados com traços marcadamente humanos. Porque ao autor interessa sobretudo honrar os valores e sentimentos (amor, amizade, ódio, ira), bem como a simbologia contida nestes mitos explicados visualmente de forma clara e sucinta, sem fugir aos textos fundadores da mitologia clássica, um dos pilares da civilização europeia, que permanece intemporalmente apaixonante.
Esta é uma colecção pensada para jovens, até pela parte final do livro, que contém textos mais informativos e estruturantes de Luc Ferry sobre a teogonia grega, onde não faltam exemplos de como na arte se representou a mitologia, e onde demonstra como a religião e a filosofia derivam da mesma pulsão: a busca de respostas.
Luc Ferry é um autor de referência sobre a mitologia grega, com várias obras (A Sabedoria dos Mitos; 7 Lições para Ser Feliz). Nascido em 1951, é um filósofo e político francês, tendo sido Ministro da Educação em dois governos sucessivos. A Gradiva publicou ainda, o ano passado, nesta colecção, outros dois títulos: Prometeu e a Caixa de Pandora; e Édipo. Ver artigo
O Jaime é uma Sereia, livro de estreia da norte-americana Jessica Love publicado pela Fábula, é uma incursão em temas delicados, complexos e controversos, se nos ativermos aos pormenores, pelo que optamos por ler esta obra a partir de uma perspectiva mais ampla, como uma fulgurante e colorida celebração da individualidade, da aceitação e do amor incondicional, mais particularmente do amor entre uma avó e o seu neto.
Num momento em que ainda há quem continue isolado e distanciado dos seus entes queridos, procuramos destacar uma de entre várias obras possíveis (como, por exemplo, Nuvens na Cabeça, de Elena Val, publicada pela Akiara, aqui apresentada há semanas) que permitem assinalar o Dia dos Avós, no próximo dia 26 de Julho.
Todos os sábados de manhã, o Jaime vai com a avó à natação. E «o Jaime ADORA sereias».
Um dia, quando vê três mulheres vestidas de sereias no metro, tudo muda. O Jaime fica fascinado e, quando chega a casa, só consegue pensar numa coisa: «- Avó, eu também sou uma sereia.»
E, como se sabe, ou como alguns de nós poderão ainda lembrar-se, do querer de criança ao ser vai um pequeno passo dado pela sua gigante imaginação que, conforme crescemos, vai definhando.
O livro é composto por cerca de 20 frases e 40 páginas. É de destacar o trabalho genial da autora, na forma como conta a história sem narrar, julgar ou descrever, limitando-se às falas das personagens, como se o livro fosse uma curta metragem de animação. É particularmente intrigante a forma como no próprio livro, apenas pelas imagens, se cria um momento de suspense quando a avó vê a transfiguração de Jaime, sem sabermos o que ela irá dizer, como irá reagir, pois as ilustrações desta obra contam a sua própria história, como um verdadeiro arco-íris de iridescente imaginação e celebração da vida e da felicidade de podermos ser amados por quem somos. Pois alguns de nós, tal como as sereias, somos seres híbridos ou pertencemos a dois mundos diferentes.
Esta obra venceu o prémio Opera Prima da Feira do Livro Infantil de Bolonha (BolognaRagazzi) em 2019.
Jessica Love cresceu no sul da Califórnia. Estudou Gravura e Ilustração na Universidade da Califórnia. Mais tarde, estudou Teatro na Juilliard School, em Nova Iorque. Vive e trabalha em Brooklyn. Ver artigo
Depois de História da Violência (recenseado no Cultura.Sul), narrativa de pendor autobiográfico em que Édouard Louis conta a violação e violência de que foi vítima, chega-nos agora, novamente pela Elsinore, Quem Matou o Meu Pai: uma breve narrativa sobre a complexa relação do autor/narrador com o pai, como uma carta em que pretende acertar contas com a memória dele, chegando a conclusões conforme escreve, falando sempre do pai no passado, porque no presente já não o conhece…
E ainda que esta autoficção contenha aspectos que já surgiam no seu livro anterior – onde o autor afirma, a dada altura, como os estudos superiores foram uma consequência da sua fuga, quando compreende que esse seria o único caminho possível que lhe permitiria afastar-se socialmente do seu passado familiar –, a relação intertextual que mais ressalta é com Regresso a Reims, de Didier Eribon (Dom Quixote), um ensaio onde a escrita autobiográfica também se entrelaça com a reflexão sociológica. Quando o filósofo francês perde o pai, que não via há décadas, ao ponto de não o reconhecer numa foto tirada poucos dias antes de morrer, não comparece ao seu funeral, nem faz qualquer tentativa para ver os irmãos, de quem se separou há 30 anos e provavelmente também já não seria capaz de reconhecer. Mas quando visita a sua mãe, no dia seguinte ao funeral, acaba por dar início a um reencontro com o eu que tanto procurou, sem sequer se aperceber, reprimir. Tendo saído de Reims pelos vinte anos para viver em Paris, fugindo a um pai violento e homofóbico, para poder começar a ser verdadeiramente ele, verdadeiramente livre, sem ter de se envergonhar da sua sexualidade, Didier Eribon percebe que afinal ao libertar a sua sexualidade acaba por reprimir o seu passado sócio-cultural enquanto prossegue numa ascensão social. Sai de um armário sexual para se meter num armário social. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016