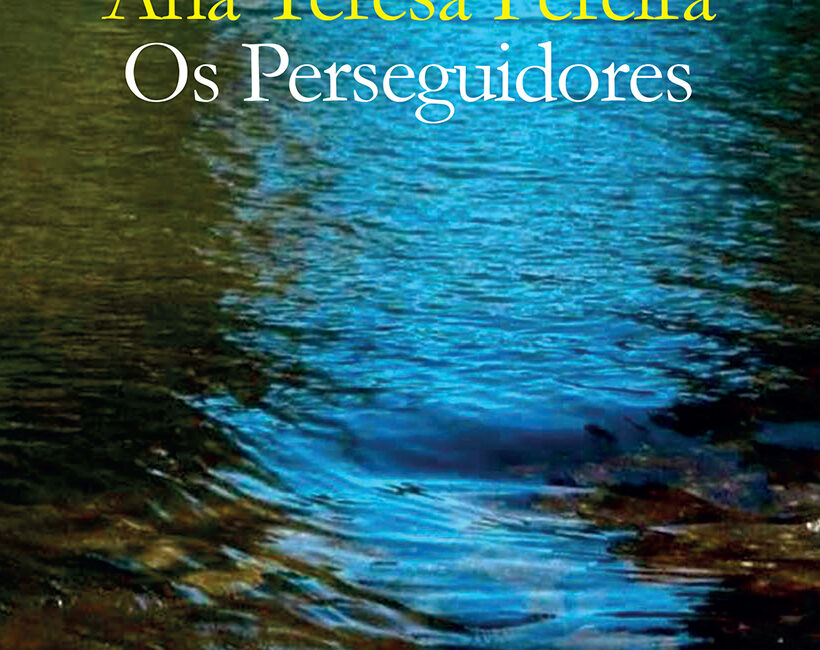Em vésperas de Natal, perguntei à Clarinha qual era o livro que queria ler (um sonho meu de longa data). Ela escolheu Como o Grinch roubou o Natal, de Dr. Seuss, publicado pela booksmile. Um belíssimo livro de capa dura, onde, rima após rima, como um poema cantado, se desfia a história de como Grinch, com «um coração bem mais pequeno do que o normal», odiava o Natal. Com ilustrações a preto e branco, apenas o vermelho natalício – a condizer com o fato de Pai Natal do Grinch – se vai destacando, ao longo das 64 páginas deste livro, enquanto a Clarinha tapava a boca com horror conforme ouvia a história de como o malvado Grinch, e o seu pobre cão Max, decidiu roubar embrulhos, prendas, fitas, o peru e até a árvore de Natal. Apenas, para descobrir, que talvez o Natal «seja mais do que uma prenda». Ver artigo
Depois da tetralogia encerrada em O Labirinto dos Espíritos, Carlos Ruiz Zafón tinha ainda a intenção de reunir num único volume contos dispersos por diversos formatos, como publicações periódicas ou separatas que acompanhavam as edições especiais dos seus romances. Com a doença do autor, a edição foi adiada, pelo que a sua publicação (pela Planeta Editora) após a morte do autor este ano, deve ser entendida como justa homenagem (e numa bela edição de capa dura com sobrecapa). O autor morreu aos 55 anos de cancro, na Califórnia.
Não só regressamos nestes contos à ambiência misteriosa própria das narrativas de Zafón (o vapor, a condizer com o nevoeiro, são presenças recorrentes), como reingressamos por várias portas de entradas no labirinto do Cemitério dos Livros Esquecidos, enquanto o autor distende um pouco mais o seu universo ficcional. Seja com a história (nunca acontecida?) de como o David Martín (O Jogo do Anjo) contou as suas primeiras histórias a uma menina chamada Blanca («Blanca e o Adeus»), com a lenda do que será provavelmente o plano arquitectónico desse grandioso labirinto que conhecemos primeiro em A Sombra do Vento, seja pelos vários Sempere, impressores antepassados de Daniel, que nos piores tempos da Inquisição salvaram livros da fogueira escondendo-os em caixões que enterraram (p. 128).
E o cenário sempre vivo que pulsa sob todas estas histórias, talvez verdadeiramente a principal personagem, é a cidade de Barcelona, no cuidado das descrições ora realistas ora fantasiadas. O livro é, aliás, enriquecido com uma série de fotografias, e não faltam cenários emblemáticos e personagens como Gaudí.
Fazendo nossas as palavras do autor, «se quisermos dar crédito à lenda e aceitar como boa a moeda da fantasia e da ilusão» (p. 129) no universo zafoniano tudo conflui, pelo que tão depressa lemos sobre homens cuja ambição os transforma em dragões devoradores de cidades («Rosa de Fogo»), como se reconstituem episódios menos conhecidos da vida de Miguel de Cervantes («O Príncipe do Parnaso»), quando quase vende a alma a Andreas Corelli (o mesmo de O Jogo do Anjo) para conseguir imortalizar o seu nome com a terceira e última parte (nunca escrita) de Dom Quixote.
O conto que encerra o presente volume é acertadamente simbólico, a marcar a despedida que este último livro do autor representa. Ver artigo
Publicado muito recentemente, há alguns dias, pela Relógio d’Água, Os Perseguidores, de Ana Teresa Pereira, reúne três breves narrativas aparentemente díspares. A uni-las, entre outros temas que trataremos adiante, temos a imagem do pássaro, animal quase sempre imbuído de algo sinistro.
A primeira história, «A Firefly Hour», conheceu duas versões anteriores publicadas em As Velas da Noite e A Cidade Fantasma.
A protagonista é uma jovem de 22 anos, que escreve histórias policiais, contos para revistas pulp, e em tempos publicou um romance que não vendeu muito mas adorado pela crítica.
«Para mim, era só mais um homem a destacarse do fundo prateado. Aceitei o bilhete azul e rasgueio em dois. Não olhei para o rosto dele; nunca olho para os rostos deles. Fato cinzento, camisa cinzenta. Camisa limpa.» (p. 11)
Assim inicia a história que, em espelho, reflecte as narrativas da autora, e simultaneamente executa uma mise en scène da sua prosa:
«Sentei-me na cama. Ele ajoelhou-se à minha frente.
És tão bonita. Como a rapariga das minhas histórias.
É sempre a mesma?
Tem sempre o mesmo nome.» (p. 19)
«A Lagoa», a segunda narrativa, conta a história de um triângulo amoroso, Tom, April e a narradora. April e ela eram «as meninas da velha casa» (p. 61), quase iguais. A primeira diferença que as pessoas notavam era o cabelo, mas a verdadeira diferença estava «nos olhos: os meus de um azul límpido, os de April mais escuros, quase cinzentos. E nas mãos: as minhas são bonitas e macias, as de April magras e arranhadas, como garras.» (p. 52)
Depois de desaparecida durante 7 anos, na véspera do seu casamento, quando tinha 19 anos, April regressa de súbito e ameaça usurpar o lugar da jovem que se parece com ela. Ver artigo
Publicado em Janeiro de 2020, pela Relógio d’Água (à semelhança da restante obra da autora), O Atelier de Noite reúne dois contos (ou breves novelas), a acrescentar ao universo muito próprio que tem vindo a construir ao longo das suas intrigantes narrativas.
«Talvez seja o que distingue as boas histórias: começam uma e outra vez, mesmo depois de já termos ido embora.» (p. 14)
O Atelier de Noite e Sete Rosas Vermelhas são as duas histórias que compõem o presente volume e que se interligam subtilmente. A de O Atelier de Noite é narrada por uma protagonista feminina um pouco diferente das vozes usuais, pois gradualmente perceberemos que nos é desvendado o que terá acontecido a Agatha durante os 11 dias em que terá permanecido desaparecida (situação factual). Espalha-se até o rumor de que teria sido assassinada, ou de que teria montado o cenário para que pensassem isso, e quando Agatha reaparece a melhor história a adoptar é a de que terá tido amnésia.
«Eu sonhava ser actriz, pianista profissional. Não escritora (…). E então surgiu a ideia de escrever um romance policial. E aquele horrível homenzinho entrou na minha vida.» (p. 25)
É mais ou menos neste passo da narrativa que o leitor confirma que Agatha é (pode ser?), afinal, a escritora de policiais Agatha Christie, até porque a narrativa por vezes oscila entre a primeira e a terceira pessoa. E da mesma forma que em tempos se tornou (dir-se-ia que involuntariamente) autora de Poirot, Agatha deseja agora recriar-se numa nova personagem: Teresa – ironicamente (ou não) o segundo nome da autora.
Sete Rosas Vermelhas, a segunda história, mais breve, traz ainda ecos da primeira narrativa. Uma jovem, que se casara com um professor mais velho, acalenta também, desde sempre, «o desejo de ir embora, de desaparecer» (p. 79) – e as duas histórias interligam-se de diversas outras formas, a começar pelas várias referências à autora tornada personagem da primeira história.
«Tinha vinte e poucos anos. Vivia num estúdio num sótão. Ia à faculdade de vez em quando. Embora tivesse desistido de ser dançarina, ainda praticava todos os dias.» (p. 70)
Quando começa a receber uns pacotes que a relembram da sua vida anterior, quando ainda pintava. Um livro, um CD, um quadro seu, fotos a preto-e-branco que revelam «um atelier de um pintor de noite» (p. 79), a jovem rende-se ao desejo e desaparece na noite. A vida convencional, sem cor, desta jovem mulher, uma escritora dispersa, que em tempos respondera pelo nome de Dylan, abre-se para um novo mundo: «sentia-se cada vez mais longe do mundo em que vivia, já nem vivia lá, era omo um outro estado de consciência» (p. 79).
Entre um conto e outro, há frases que parecem emitir um lampejo fugaz sobre a prosa da própria autora: «Era isso que queria fazer. Encontrar ligações. Escrever contos que se pareciam com ovos, fechados em si mesmo, que nem ela mesma compreendia.» (p. 90) Ver artigo
Manhã e Noite, de Jon Fosse, publicado pela Cavalo de Ferro, com tradução de Manuel Alberto Vieira, é um pequeno livro, ao jeito de um poema, em que o autor modela a linguagem poética ao sabor do fluxo da consciência, muitas vezes num ritmo binário, feito de dicotomias, como a própria estrutura do título indica.
A velha parteira Anna prepara-se para dar à luz uma criança, o segundo filho de Olai e Marta, depois de vários anos sem ela ter engravidado. Estavam já conformados com a ideia de que não voltariam a ter filhos e gratos pela bênção do nascimento de Magda, que os poupou a uma vida triste e solitária na ilha de Holmen onde vivem, na casa que o próprio Olai construiu.
Enquanto Anna tenta enxotar Olai, pois da mesma forma que o barco não é lugar para mulheres, a presença de um homem num parto traz má sorte, este diz à parteira que será um menino, desta vez, e chamar-se-á Johannes como o avô e será pescador como o pai…
«e agora ele virá, enquanto Marta a mãe grita de dor, ele virá ao mundo frio e aí ficará só, separado de Marta, separado de todos, aí ficará só sempre só e mais tarde, quando tudo terminar, quando a hora dele chegar , desvanecer-se-á e tornará a ser nada e regressará ao lugar de onde veio, do nada para o nada, é esse o trajecto da vida, das pessoas, dos animais, das aves, dos peixes, das casas, dos barcos, de tudo quanto existe, é, pensa Olai» (p. 14)
Manhã e Noite é um tratado sobre a fugacidade da vida humana, pois conforme Olai está apreensivo com o nascimento do filho, não evita, simultaneamente, a percepção de como o ciclo natural da vida é efémero, pontuado sobretudo por momentos próximos do divino, como o nascimento, na manhã da vida, e a morte, na noite do dia. Tanto que já na segunda parte do livro, logo na página 27, encontramos um Johannes, agora idoso e viúvo, que nos dá conta da sua vida em retrospectiva. E o leitor, mais depressa do que Johannes, conforme se sucedem alguns episódios surreais, aperceber-se-á de que o seu mundo quotidiano tem algo de diferente: «pensa em como de certo modo tudo mudou, como as coisas, a casa, parecem de certo modo diferentes, mais pesadas e mais leves, como se houvesse mais de terra e mais de céu nas casas» (p. 40)
Jon Fosse, autor multipremiado, com destaque para o Prémio Internacional Ibsen, o Prémio Europeu de Literatura e o Prémio de Literatura do Conselho Nórdico, é um dos mais importantes e celebrados autores vivos. Nasceu em 1959, em Strandebarm, no Oeste da Noruega, e vive atualmente numa residência honorária situada nas propriedades do Palácio Real de Oslo. A sua extensa obra, traduzida em mais de quarenta línguas, inclui romance, teatro, poesia, livros para crianças e ensaio. Ver artigo
A Dança da Água, publicado pela Cultura Editora, é o muito aguardado romance de estreia de Ta-Nehisi Coates, autor sobejamente conhecido, todavia, pelo seu Entre mim e o mundo, publicado em 2016 pela Editora Ítaca (com tradução de Isabel Castro Silva) e vencedor do National Book Award.
A Dança da Água é um romance excepcional, publicado no original o ano passado, mas estranhamente parece ter passado despercebido
Hiram Walker (Hi) nasceu escravo, numa plantação de tabaco na Virgínia. Mas o jovem Hi não é igual aos outros escravos negros, a começar pelo facto de ele não ser negro mas sim mestiço, filho de pai branco, que é também o seu dono. Quando a mãe de Hi foi vendida, porque inevitavelmente todos os negros serão vendidos e separados da sua família, Hiram perde qualquer memória dela. Contudo, paradoxalmente, Hi revela uma memória prodigiosa, dom que se revelará uma fonte de entretenimento para os brancos. Será depois educado pelo mesmo perceptor que o seu meio-irmão branco, Maynard, a quem o pai reconhece não ter as mesmas capacidades de Hiram, pelo que cedo compreende que deve prepará-lo para ser o mordomo (ou na verdade um mentor) de Maynard. E, num certo dia, é-lhe revelado um misterioso poder que lhe salva a vida ao quase afogar-se num rio. Esse encontro com a morte desperta-lhe ainda a vontade urgente de fugir e libertar-se da escravidão. Porque esse poder é, afinal, inseparável do desejo de liberdade: a condução das almas. Os seus dotes aliados ao conhecimento das letras que entretanto adquire, entre o perceptor e a biblioteca do pai, revelar-se-ão essenciais ao seu trabalho como condutor daqueles que desejam fugir e viverem como homens livres no Norte, onde a escravidão era já condenada. Entretanto, ao longo da narrativa, a terra de abundância que era o Sul vai perdendo, curiosamente, o fulgor da terra vermelha. Explorada e seca, até se tornar árida, as plantações da Virgínia vão morrendo e os patrões terão de ir vendendo os seus escravos, a única fonte de riqueza que lhes resta.
Um dos livros mais aclamados sobre o racismo e a luta pela liberdade de um autor reputado, que aborda uma temática já tocada por Colson Whitehead em A Estrada Subterrânea – onde se materializava a metáfora do Underground imaginando linhas férreas subterrâneas –, que vai ainda mais longe, numa narrativa prodigiosa e original a que não falta magia – magia essa que não nos compete desvelar antes que leia este belíssimo livro. Ver artigo
Os Tempos do Ódio, de Rosa Montero, publicado pela Porto Editora, é o último volume de uma trilogia (Lágrimas na Chuva e O Peso no Coração). É um romance intenso e certamente corajoso, no mínimo desconcertante para quem conhece Rosa Montero por A Louca da Casa em que a autora cria um futuro possível para o mundo em que vivemos. Trata-se de uma narrativa que ingressa nas potencialidades da ficção científica, e não o faz recorrendo a fantasia ou a indefinição acrónica, mas sim com base em todo um universo cuidadosamente imaginado pela autora, e que de alguma forma já tem sido premonitório de eventos entretanto ocorridos – após publicação dos primeiros 2 volumes da trilogia, conforme a própria autora nos explica na sua nota final: «Digo sempre que os romances de Bruna Husky são os mais realistas que já escrevi. De facto, são de um realismo um pouco inquietante, porque às vezes sinto que a atualidade vai confirmando as minhas invenções.» (p. 310)
Bruna Husky é uma rep tecno-humana de combate, isto é, uma andróide, um ser orgânico, mas hipermanipulado por engenheiros genéticos. Quase humana, são clones que amadurecem aceleradamente e que em 14 meses atingem os 25 anos de idade, mas com um prazo de validade curto, pois vivem apenas por 10 anos ao que depois “morrem” em agonia durante 2 semanas. Bruna Husky é independente, individualista, destemida, e tem uma intuição que raia o sobrenatural – uma espécie de sexto sentido hiperhumano. Contudo tem também um grande coração, ainda que o tente dissimular – e conforme nos embrenhamos na narrativa a nossa heroína híbrida tornar-se-á cada vez mais humana, capaz de experienciar ódio, ciúme e amor. Ou não fosse Bruna Husky proveniente do material genético de uma escritora e jornalista de há cem anos, chamada Rosa Montero…
O livro tanto lança uma ponte para um futuro possível, daqui a cem anos, como recupera factos históricos de um passado mais remoto, cheio de dados reais, das trivialidades à antiga paixão do homem pela criação de autómatos, passando pela Ordem de Rosa-Cruz.
Os Tempos do Ódio pode desencorajar aqueles que não apreciem particularmente ficção científica, mas este livro é também um thriller policial, num mundo em crise, à beira de uma guerra mundial interplanetária, onde tudo depende da tecnologia. É uma leitura intensa e emocionante (devorei-o num único dia), onde não deixam de estar presentes os principais temas da escrita de Rosa Montero: a efemeridade da vida, a passagem do tempo, a paixão como superação da morte, o amor ao próximo como caminho para uma vida plena, a luta contra o poder e a injustiça social.
A autora nasceu em Madrid, em 1951. Como jornalista, colabora em exclusivo com o jornal El País, tendo obtido, em 1980, o Prémio Nacional de Jornalismo e, em 2005, o Prémio da Associação da Imprensa de Madrid, por toda a sua vida profissional. Com A Louca da Casa recebeu o Prémio Grinzane Cavour de Literatura Estrangeira e o Prémio Qué Leer para o melhor livro espanhol, distinção que também foi atribuída, em 2006, a História do Rei Transparente. Recebeu, em 2017, o Prémio Nacional das Letras Espanholas pelo conjunto da sua obra. Ver artigo
Há 90 anos, na manhã deste exacto dia 8 de dezembro, no ano de 1930, Florbela Espanca suicidou-se. Era o dia do seu aniversário e foi a data do seu primeiro casamento. Faria 36 anos.
Ana Cristina Silva, no romance biográfico Bela, publicado pela Bertrand Editora, reconstitui a vida da poeta (Florbela não gostaria que lhe chamemos poetisa) que não viveu para saber que o seu nome entraria no cânone literário português e que ainda hoje se lêem os seus poemas. A primeira edição deste romance tem quinze anos e foi profundamente reescrita. Bela não é, contudo, a elegia que se esperaria.
A narrativa é construída numa dicotomia irreconciliável, entre os interlúdios que dão conta das memórias de Bela narradas além-túmulo, e os vários capítulos, sem nome, mas sempre com indicação de local e data, em que um narrador omnisciente dá conta das emoções e sentimentos das várias personagens cujas vidas foram tocadas por Bela, a quem raramente perspectivam a uma luz favorecedora. Cabe ao leitor discernir e escolher o retrato que deseja compor de Florbela, força da natureza capaz de provocar grandes ódios e intensas paixões. Na primeira parte, conforme se narra os momentos precedentes do seu suicídio, o tom é mais soturno, quase melodramático, como convém ao esquisso de uma vida incompreendida e apaixonada ao ponto de perseguir paixões, mesmo quando sabe que são quimeras – Bela casou-se três vezes, foi sempre infeliz com os seus maridos, e dir-nos-á que apenas conheceu verdadeiramente o amor na figura de Apeles, irmão que, quase certamente, também se suicidou. É a partir do terceiro capítulo que Ana Cristina Silva se expande na sua pujança narrativa, onde a partir de fragmentos e de meias-verdades constrói uma história arrebatadora: a de um triângulo amoroso entre João Espanca que além de trair a mulher, Mariana, com a sua amante Antónia, tem a desfaçatez de lhe pedir que crie a sua filha. Note-se que a história dos amores e desamores de Espanca-Pai dura da página 25 à 88 (quando ele literalmente sai e bate com a porta), correspondendo a quase metade do romance.
A história da infância sofrida de Bela, dos maus tratos de uma mãe (que nunca compreende se é madrinha ou madrasta) à inconstância amorosa do pai que nunca a legitimou, pode aliás ser a chave da compreensão para o comportamento de Bela. Muito pouco convencional, ousada ao ponto de sair à rua vestida de homem e não só se divorcia duas vezes, como casa ainda uma terceira vez. Faz dos seus excessos (e os da sua poesia) uma revolta contra a rejeição (p. 74), sem se deixar regrar pelos moralismos próprios de um Portugal na viragem do século XX, num tempo em que a poesia escrita por mulheres era uma ocupação ao nível dos bordados. Um dos seus maridos, médico, recomenda-lhe, aliás, «descansar a cabeça das neuroses» e «não escrever tanto, de modo a não ser vítima de perturbações nervosas» (p. 156).
«Onde é que alguma vez se vira uma mulher ir estudar para a universidade? Ainda por cima, Letras! Era suposto, acrescentou, que a poesia fosse um passatempo tão assisado como bordar ou tocar piano e não dar origem a disparates que comportavam despesas. Era obrigação de um marido enfiar algum juízo na cabecinha de vento de sua mulher em vez de alimentar os seus caprichos. (p. 115)
Ana Cristina Silva é professora no Instituto Superior de Psicologia Aplicada na área de Aquisições Precoces da Linguagem Escrita, Ortografia e Produção Textual. Autora de 15 romances e de um livro de contos, venceu o Prémio Fernando Namora em 2017 com o romance A Noite Não é Eterna. Recebeu o prémio Urbano Tavares Rodrigues pelo romance O Rei do Monte Brasil. Ver artigo
Rapariga, Mulher, Outra, de Bernardine Evaristo, publicado pela Elsinore, concretiza verdadeiramente o significado de romance polifónico. As 12 personagens deste romance a várias vozes apenas têm em comum serem mulheres (excepto Mogan que se definirá como não-binária), quase todas negras, a viver no Reino Unido, geralmente lésbicas. Poder-se-ia até procurar eleger como protagonista Amma, a dramaturga cujo trabalho artístico frequentemente explora a sua identidade lésbica negra, até porque é em torno da noite de estreia da sua peça que muitas destas histórias se interligam, quando algumas destas 12 mulheres se reencontram.
Cada capítulo subdivide-se, em torno de um eixo que congrega várias vozes que ressoam entre si (por exemplo, no Capítulo Um, temos 3 partes constituídas pela voz de Amma, a sua filha Yazz, e Dominique, a melhor amiga). A voz narrativa está na 3.ª pessoa, todavia consegue fazer o leitor beber da perspectiva de cada uma das personagens, que representam mulheres muito díspares entre si, do mais convencional ao mais rebelde, da típica dona de casa branca de subúrbio à empregada de limpeza nigeriana que não esquece as suas raízes.
E ao contar a história de cada uma delas, a autora dá vida a uma voz credível, onde conflui o dialecto (Bummi), o sociolecto (LaTisha), e a linguagem tecnológica dos dias que correm, coloridamente plasmados nas redes sociais (Megan/Morgan). Ao que acresce, nesta vasta tapeçaria, a forma como a história das personagens atravessa, por vezes, todo o século XX, dando conta, muito particularmente, do longo e sofrido percurso do que significa ser uma mulher de cor num mundo que silencia a diferença. A pujança da narrativa conduz a uma leitura vertiginosa, sem que o leitor se perca na torrente de histórias, magistralmente fluída, capaz de uma total identificação com cada uma destas mulheres, mesmo quando páginas depois lemos com que olhos é que as outras mulheres, que em torno dela gravitam, a vêem. Um retrato que se pensaria impossível do principal legado do império colonial britânico… Uma realidade multicultural e multifacetada, muito actual e vívida, fortemente assente no colonialismo, na imigração e na diáspora, em que todas as categorias e tentativas de compartimentação são sempre fluídas – um pouco ao jeito da sexualidade destas mulheres que se redescobrem, muitas vezes, ao amar uma mulher amiga.
Um romance imperdível, impossível de pousar, que repensa com humor e quase imperceptível ironia todas as noções possíveis de identidade, género e classe. Como quando uma das poucas mulheres brancas com voz neste romance descobre que afinal tem África no seu ADN: «deitada na cama, imaginou os seus antepassados de panos a cobrir-lhes as partes, a correr pelas savanas de África e a caçar leões com lanças – mas a fazê-lo de quipá na cabeça, depois a comer “sanduíches à dinamarquesa” e paelha e a recusarem-se a caçar no sabbat» (p. 465)
Bernardine Evaristo nasceu no sudeste de Londres, em 1959, filha de mãe britânica e pai nigeriano. Autora de uma obra que versa os mais diversos géneros – romance, poesia, contos, teatro e crítica literária –, a sua escrita é caracterizada pela experimentação, ousadia e subversão. Rapariga, Mulher, Outra foi, ex-aequo com Os Testamentos (Bertrand Editora), de Margaret Atwood, o vencedor do Booker Prize 2019, recebeu a distinção de Livro do Ano e Autor do Ano do British Book Awards 2020. Foi ainda finalista do Women’s Prize de ficção 2020 e do Orwell Prize de ficção política 2020. Ver artigo
Madeline Miller regressa aos mitos clássicos em Circe, publicado pela Minotauro. Não fosse o anterior sucesso de O Canto de Aquiles (publicado pela Bertrand Editora e vencedor do Orange Prize) e ter sabido deste livro numa entrevista a Juliet Marillier (publicada no Cultura.Sul), provavelmente também me teria passado despercebido.
Circe é filha de uma ninfa e do Deus-Sol Hélio, o mais poderoso dos titãs, capaz de destronar Zeus. Não possui a beleza da mãe nem o brilho do pai, e sente-se deslocada mesmo entre os seus irmãos. Considerada feia, com os seus olhos amarelos e a sua voz incómoda, «guinchenta como a de um mocho» (p. 15), porque é afinal a voz dos mortais, procura calor junto do pai e cedo sente atracção pela fragilidade dos humanos.
«Pensei que era assim que os mortais encontravam a fama. Através da prática e da diligência, tratando das suas competências como de jardins até florescerem sob o sol. Mas os deuses nasceram para o icor e o néctar, pois as excelências irrompiam sem esforço das pontas dos seus dedos. Assim, encontravam a fama provando que conseguiam causar danos: destruindo cidades, começando guerras, criando pragas e monstros. Todo aquele fumo e sacrifícios delicadamente oferecidos nos nossos altares. Só deixam cinzas atrás de si.» (p. 152)
Conforme descobre acidentalmente possuir capacidades fantásticas, capaz de transformar um comum mortal num Deus, ou a ninfa Cila num monstro marinho temível, Circe torna-se receada pelos próprios deuses, e é confinada na ilha de Ea, onde irá apurando os seus dotes.
«Deixem que diga o que a feitiçaria não é: não é um poder divino que se exerce com um pensamento e um piscar de olhos. A feitiçaria tem de ser feita e trabalhada, planeada e procurada, desenterrada, secada, partida e moída, cozinhada, falada e cantada. E mesmo depois de tudo isso pode falhar, ao contrário dos deuses. Se as minhas ervas não forem suficientemente frescas, se a minha atenção se dispersar, se a minha vontade for fraca, as poções ficam estragadas e rançosas nas minhas mãos.» (p. 95 – 96)
Madeline Miller narra prodigiosamente esta efabulação cheia da maravilha dos mitos ao mesmo tempo que humaniza as personagens, capaz de prender o leitor da primeira à última página, especialmente quando por elas vão desfilando personagens da mitologia sobejamente conhecidas, mas aqui recriadas e relacionadas de modo inédito. Sabemos que Circe transformava marinheiros de Ulisses em porcos, que se envolveu amorosamente com Ulisses, mas é-nos ainda revelado como Circe conhece o inventivo Dédalo e o seu filho Ícaro, como ajudou Medeia e Jasão do velo de ouro, como assiste ao parto do abominável Minotauro, no mesmo dia em que conhece Ariadne ainda criança, e como depois da morte de Ulisses acolhe Telémaco e Penélope.
«Raiva e dor, desejo perverso, luxúria, autocomiseração: estas são emoções que os deuses conhecem bem. Mas culpa, vergonha, remorso e ambivalência são territórios estranhos à nossa espécie, que têm de ser cartografados pedra a pedra.» (p. 176 – 177)
Circe nasce neste livro despida do mal e da perfídia, imbuída de uma natureza profundamente feminina (e feminista), revelando-se sobretudo como uma mulher perdida no limbo que medeia a humanidade e a imortalidade, terrivelmente consciente de todos os seus actos, enquanto sente os séculos se escoarem como dias, e os seus dotes mágicos de metamorfose são-nos revelados, afinal, como um acto de autodefesa – não é, afinal, por mero acaso, que esta feiticeira transformará os homens que chegam à sua ilha, cobiçosos e violentos, justamente em porcos.
«Chamava-se noivas às ninfas, mas não era verdadeiramente assim que o mundo nos via. Éramos um banquete infinito posto na mesa, belo e sempre a renovar-se. E tão más a fugir.» (p. 220)
Madeline Miller cresceu em Nova Iorque e em Filadélfia. Frequentou a Brown University, onde obteve o grau de Master of Arts em Estudos Clássicos. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016