
Civilizações, de Laurent Binet, publicado pela Quetzal, com tradução de Cristina Rodriguez...
Leia Mais
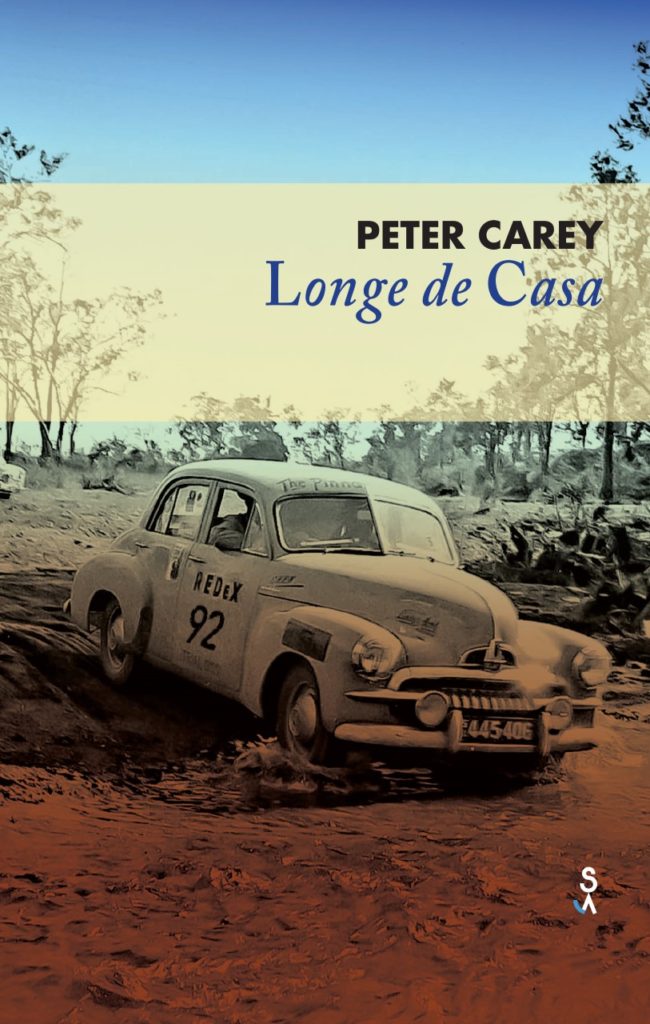
Em 1768 uma expedição deixou a Inglaterra sob o comando do capitão...
Leia Mais

Ungulani Ba Ka Khosa é dos escritores moçambicanos mais reconhecidos da sua...
Leia Mais

Vamos dar conta das novidades em trânsito. Acaba de ser lançada uma...
Leia Mais
