Apneia, o mais recente romance de Tânia Ganho foi publicado o ano passado pela Casa das Letras e é agora um dos nomeados na categoria Melhor Livro de Ficção Lusófona do Prémio Bertrand Livreiros.
Obra de ficção literária que assenta em casos verídicos e experiências reais vividas no Tribunal de Família e Menores de Lisboa e junto do Ministério Público, da Polícia de Segurança Pública, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Departamento de Investigação e Acção Penal.
Através de Adriana e Alessandro, um casal luso-italiano, e do seu filho Edoardo, Tânia Ganho dá voz às vítimas de violência doméstica e de abusos sexuais, sobretudo às crianças que se tornam, muitas vezes, arma de arremesso entre os pais. Numa trama tão densa e asfixiante quanto sóbria, a autora desfia o fio da história de Adriana, conforme ela desce a um labirinto negro em que a sua sanidade se torna cada vez mais ténue (e a arte pode ser a única salvação), enredando o leitor numa teia psicológica de manipulação e medo, em que nem Adriana nem nós conseguimos enxergar a realidade e reconhecer o inimigo.
Tânia Ganho nasceu em 1973, em Coimbra. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, trabalhou durante vários anos em legendagem para televisão e cinema. Foi assistente convidada na Universidade de Coimbra, onde leccionou tradução literária, área a que se dedica há mais de 20 anos. Traduziu autores como Hervé Le Tellier, Angela Davis, Siri Hustvedt, Maya Angelou, Leila Slimani, Chimamanda Adichie, Amor Towles, David Lodge e Alan Hollinghurst, entre muitos outros. É autora dos romances A Vida sem Ti (2005), Cuba Libre (2007), A Lucidez do Amor (2010) e A Mulher-Casa (2012) e tem vários contos publicados na revista Egoísta.
P – Este é um livro denso, pesado. Diria mesmo que pode custar ao leitor lê-lo. Talvez tanto como lhe custou escrevê-lo?
R – Custou-me muito escrever Apneia, não só por abordar questões tão delicadas e complexas como a violência psicológica e o abuso de menores, mas também por sentir que tinha de encontrar o tom certo, o tom justo. Não queria que o livro parecesse um manifesto contra a guarda partilhada, nem um texto sensacionalista sobre o sofrimento de uma criança e de uma mulher. Queria que a narrativa fosse sóbria, sem cair no melodrama. Creio que tinha em mente livros como Os Níveis da Vida do Julian Barnes e O Ano do Pensamento Mágico e Noites Azuis da Joan Didion, que se destacam pela contenção. A Didion consegue comover-nos sem nunca ser histriónica, e eu tinha esse objectivo em mente.
P – O processo de escrita levou anos? Quase tantos como os do tempo durante o qual o processo de Adriana se arrasta?
R – Demorei cerca de sete anos a concluir o livro, porque levei muito tempo a decidir como é que ia contar a história, de que ponto de vista. Cheguei a pensar escrever da perspectiva do Alessandro, ou do Edoardo, mas foi a voz da Adriana que acabou por se impor e, a partir daí, o processo tornou-se mais fluido. O tema era tão avassalador, que precisei de anos para processar o material que tinha recolhido e as emoções que me havia suscitado.
P – Até porque que o livro denota muita pesquisa, inclusivamente no trabalho artístico de Adriana, assim como nas constantes citações de autoras-mulheres.
R – A pesquisa ocupou-me mais tempo do que a escrita. Só escrevo quando consigo pôr-me na pele das minhas personagens, ter a certeza do que pensam, sentem, fazem… Para criar a personagem do Alessandro e conseguir compreendê-lo, tive de ler muito sobre perversos-narcisistas e manipuladores, queria que ele fosse plausível e não a caricatura de um monstro. E a Adriana só ganhou realmente forma quando mergulhei a fundo na pintura da Cristina Troufa e na obra de outras artistas, como Cindy Sherman, Frida Kahlo, Marina Abramovic, Helena Almeida, Francesca Woodman… Li a poesia completa de Anne Sexton, li biografias de Sexton e Plath.
P – Dessas autoras, foca-se, sobretudo na obra de Sexton que cita recorrentemente.
R – Os versos de Anne Sexton que vou citando ao longo de Apneia dão voz aos sentimentos que, por vezes, Adriana não consegue exprimir. E na sua poesia confessional, Sexton faz exactamente o mesmo que Adriana pretende fazer na pintura: diluir as fronteiras entre o público e o privado, virar a intimidade do avesso e expô-la, contar histórias pessoais dando-lhes um carácter universal. Os poemas de Sexton são janelas que se abrem para o interior de Adriana e nos mostram o que ela sente: “Estou a afundar-me um pouco, mas sempre nadando.” Ilustram o desespero e, ao mesmo tempo, a tenacidade desta mulher. Além de que Sexton dá o mote para o tema da doença mental que começa a cercar Adriana, durante o processo litigioso. Sexton e Plath escreveram e viveram no limiar entre a sanidade e a loucura, e toda a história de Adriana é um aproximar constante da beira do precipício. Julgo que o leitor sente, muitas vezes, que basta um empurrão para que Adriana caia e se afogue. Nestes processos judiciais tão longos, que se arrastam durante anos, é preciso uma enorme resistência física e mental para não baixar os braços e desistir de lutar.
P – Ao ler Apneia fica a sensação de que a autora se esconde atrás de um narrador frio, objetivo, distante até. No entanto (e não sei se queres responder a esta pergunta), o sentimento é de tal forma opressivo, conforme entramos na pele de Adriana, que as duas se parecem confundir mais do que aparenta…
R – Quando escrevo, vivo dentro das personagens e as personagens habitam-me, é natural que as fronteiras se esbatam. Criei a personagem da Mara, de A Mulher-Casa, enquanto vivia em Paris e, a dada altura, já dava por mim a ver tudo através dos olhos dela. Ia a exposições que achava que ela gostaria de ver, visitava lojas de tecidos e chapelarias, porque era isso que ela faria. O meu trabalho de construção das personagens é muito semelhante ao de um actor que se prepara para um papel num filme. Cheguei a ir a uma loja Dior, em Paris, provar vestidos que a Mara adorava. Para dar vida à Adriana de Apneia, passei horas a olhar para os quadros da Cristina Troufa, fui ao Porto visitar o atelier dela, estudei a sua tese de mestrado que dá uma série de pistas para outras artistas, li muitos acórdãos e textos sobre guarda partilhada, alienação parental…
P – Falando em objetividade e imparcialidade, a própria Adriana consegue muitas vezes ser estóica, como forma de proteger Edoardo, o filho. Porque, como a Tânia já teve oportunidade de manifestar, numa luta de custódia parental a criança é sempre vítima. A força da protagonista chega a ser impressionante.
R – Como escreveu a Maggie O’Farrell, «nunca subestimem uma mãe em guerra». O’Farrell usa esta expressão em Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva, referindo-se à sua luta, enquanto mãe, contra a doença da filha. Adriana não está em guerra com Alessandro, está numa espécie de missão para proteger o filho da maldade do pai e da inépcia do tribunal. Tem de ser forte (estóica, como dizes), senão fica sem o filho, ou porque o tribunal lho tira, ou porque Alessandro o rapta, ou simplesmente porque o próprio Edoardo se vira contra ela. Acima de tudo, tem de ser lúcida, para não ferir ainda mais o filho. Ela não quer ser igual a Alessandro, ela faz ponto de honra em ser verdadeira e correcta, caso contrário Edoardo enlouqueceria debaixo de fogo cruzado.
P – Contudo, o mais desconcertante, e aflitivo do livro, é assistir a momentos-chave em que Adriana perde a capacidade de expressão. Foi intencional fazer a protagonista ficar quase sempre sem palavras quando a acusam de coisas inconcebíveis?
R – Foi, foi intencional. Estamos habituados a ver séries e filmes com cenas de tribunal, em que nos julgamentos os advogados são sempre brilhantes e toda a gente faz discursos longos e comoventes. Eu quis mostrar precisamente o oposto: no tribunal de família e menores, quando a nossa vida e a dos nossos filhos está nas mãos de desconhecidos, o sentimento de impotência é avassalador, sobretudo para as vítimas de violência doméstica. Foram «programadas» durante toda a relação para serem submissas, acatarem ordens, calarem os seus sentimentos, não protestarem sob pena de sofrerem as consequências; portanto, terem de se exprimir perante os magistrados, na presença do agressor, e de se defender de acusações horríveis, sabendo que podem perder os filhos, é de uma violência brutal. São poucas as pessoas que, nestas circunstâncias, conseguem manter o dom da palavra. Adriana balbucia, mete os pés pelas mãos, repete o que a advogada lhe disse… é incapaz de um discurso coerente, firme, porque está desfeita. Ela vê a sua própria vida como que através de um vidro, como se estivesse dentro de um aquário, e as palavras têm dificuldade em atravessar a barreira da água.
P – Curiosamente o livro dá a sensação, por vezes, de poder ser tomado como um guia. Como se revelasse estratégias relativas a casos deste género, de violência doméstica e abusos sexuais.
R – Cada caso é um caso, mas há conselhos que se repetem nos consultórios dos bons psicólogos e psiquiatras: nunca dizer mal do outro progenitor aos filhos, nunca lhes mentir deliberadamente, nunca manipular as crianças, nunca comprar afectos e lealdades com prendas, nunca escrever e-mails a quente… O livro não pretende ser um guia, mas as situações que descrevo são muito comuns e se o que descrevo em Apneia ajudar algumas pessoas a não entrarem em guerra e a não magoarem os filhos, óptimo. Mas é um romance e pode ser lido só pelas peripécias do enredo e não nessa óptica mais «pedagógica».
P – Ainda acerca da violência, foi uma opção deliberada focar-se num casal cuja relação é pautada não pela agressão física mas pela violência psicológica? Esta é aliás tão subtil que nem Adriana se parece aperceber, apenas em relances desconexos do passado que parecem quase inocentes.
R – Quis explorar a violência psicológica, porque é subtil e insidiosa, infiltra-se nas nossas vidas e quando damos por ela, por vezes já ela nos tirou a auto-estima e despojou da força suficiente para a enfrentarmos. É uma violência ministrada a conta-gotas, é um constante jogo de dominação. O agressor avança e recua, sabe perfeitamente como dar com uma mão e tirar com a outra. Por isso vemos pessoas que nos pareciam fortes e luminosas tornarem-se apagadas e fracas sob o domínio de alguém: porque é um processo lento e discreto. A violência física, pelo contrário, é óbvia, não há nada de ambíguo num estalo ou num pontapé.
P – A cronologia aparenta ser um pouco desordenada na primeira parte do livro. Há avanços e recuos na idade da criança.
R – A cronologia só se torna «ordenada» quando Adriana perde o medo e recupera o controlo sobre a sua vida. Até aí, a narrativa acompanha o estado tumultuoso e toldado de Adriana, que não tem uma noção muito clara do que lhe está a acontecer, ela tem dificuldade em raciocinar com clareza. Os pensamentos de Adriana são como legos espalhados pelo chão e ela tropeça neles, magoa-se, apanha alguns, esquece outros.
P – Como já falámos, este livro leva-nos a uma apneia, deixando-nos quase sem respiração em certos momentos. O único instante de acalmia é quando somos transportados para a Ilha, onde até o tom narrativo se altera, a combinar com o cenário idílico. Ilha essa, algures a 6 milhas de distância da cidade, mas nunca nomeada…
R – Os momentos na ilha são bolhas de oxigénio. A ilha é o espaço onde o tempo se suspende e onde Adriana consegue respirar, deixar para trás a violência da sua relação com Alessandro. Gosto muito de ilhas, sempre foram sinónimo, para mim, de serenidade e lentidão. Correspondem a uma imagem idealizada (e ingénua) de refúgio. Quando visitei a Berlenga pela primeira vez, percebi que era o cenário ideal para encarnar essa ideia de porto seguro, mas queria que fosse uma espécie de lugar mítico e não uma referência específica no mapa, por isso nunca lhe dou nome.
P – Num projeto com este fôlego, e com o desfecho imprevisto da história, esse horizonte já estava previsto quando começou a escrever? Ou os sinais presentes ao longo do livro (a misoginia de Alessandro, a multitude de crianças, …), que tão subtilmente desconcertam o leitor, ao mesmo tempo que nunca o deixam deter-se por muito tempo a reflectir, foram depois interligados e originaram um desfecho imprevisto?
R – Quando comecei a escrever o livro sabia que queria falar sobre violência psicológica em contexto familiar, mas não fazia ideia de que acabaria por abordar um tema tão doloroso como o do abuso de menores. As pistas estão lá todas, desde as primeiras páginas, e há um crescendo que só podia desembocar neste desfecho, mas eu própria demorei a perceber que estava tudo interligado. A partir do momento em que tomei consciência disso, voltei ao princípio e só depois de confirmar que havia ali um fio condutor e coerente é que escrevi os dois últimos capítulos. Quase que por imposição das próprias personagens.
P – O comportamento de Edoardo, que nos primeiros dois terços do livro, é dual, quase bipolar, com a mãe, só se torna estável quando dirige toda a raiva contra uma só pessoa. Testemunhou ou ouviu casos similares?
R – O comportamento de Edoardo torna-se estável quando ele pára de ser submetido a uma lavagem cerebral regular. Era esse constante ouvir dizer mal da mãe que suscitava tanta violência nele; Edoardo era uma criança esgaçada, forçada a escolher entre o pai e a mãe, como se não pudesse amar ambos, ser leal a ambos. Alessandro obrigou-o a «matar» a mãe dentro de si. As crianças que sofrem este tipo de pressão por parte de um progenitor sentem-se destroçadas e, quando ainda não têm capacidade de se exprimir com maturidade, reagem de maneira visceral, por vezes violenta. Li muito sobre este tema e ouvi vários relatos de casos semelhantes, em que as crianças se tornam «órfãs» de pais vivos («pais» no sentido de pai ou mãe).
P – Hoje, à luz das várias leituras e conversas em torno do livro, mudaria o final de Apneia?
R – Não, não mudava. Cheguei a delinear dois finais diferentes, ambos de um realismo que deixaria os leitores desfeitos e, depois, deixei-os de molho e não pensei nisso durante uns tempos. No fim, foram as personagens que elegeram o seu destino, foram elas que exigiram justiça poética. Por vezes, a literatura oferece-nos o final que a realidade não nos dá. Creio que todas as personagens precisavam de paz, até Alessandro.







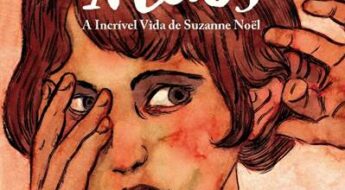

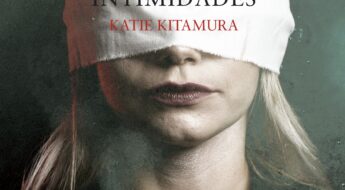
Leave a Comment