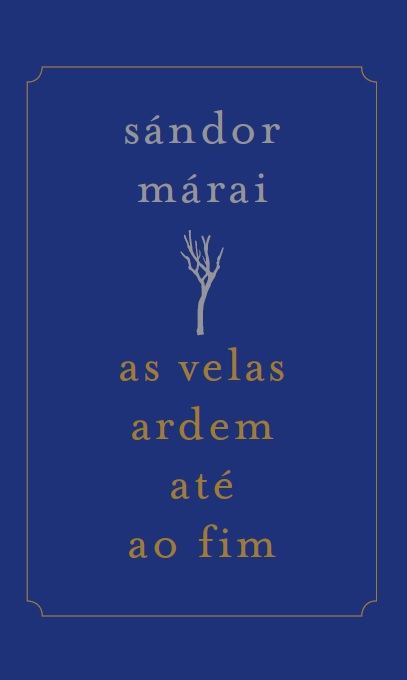Este último romance a ser traduzido pela D. Quixote do autor húngaro Sándor Márai é uma história mais complexa do que aquilo que se pode julgar quando o iniciamos. Um alto funcionário ministerial, de quarenta e cinco anos, encontra-se no seu gabinete a reflectir no comunicado que acabou de escrever e que será emitido, sem que seja dito claramente de que se trata, ainda que haja diversas referências muito claras a uma guerra que pode terminar quando ele já for velho, quando uma bela mulher o procura, exigindo falar com o «senhor conselheiro». O homem fica perplexo quando vê a jovem de vinte anos que é uma cópia de alguém que morreu há cinco anos, como que o doppelgänger de uma outra mulher que há cinco anos entrou naquele mesmo gabinete pedindo-lhe que ele morresse com ela. Claro que Aino Laine não pode (?) suspeitar da confusão do seu interlocutor que tenta disfarçar a surpresa, num diálogo que se por um lado começa por assumir que esta jovem é apenas a outra que voltou, ou alguém que lhe tenta pregar uma partida, acaba depois por dar mais credibilidade à veracidade e unicidade desta jovem, apesar do seu nome retirado de uma obra épica e mítica, a Kalevala. Por outro lado, apesar de ser a sua corrente de consciência que nos conduz pelo romance, onde a terceira pessoa do narrador muitas vezes se confunde com os pensamentos da personagem, este alto funcionário nunca aparece designado pelo nome, da mesma forma que ele «Realmente não conhece o seu verdadeiro rosto. Atrás da mímica facial disciplinada e oficial do senhor com cabelo grisalho imagina uma cara infantil. Ele apenas conhece, vagamente, a cara desse miúdo, da mesma forma como recordamos o rosto macio de uma criança já falecida.» (pág. 13).
Aino Laine é finlandesa, nórdica, mas mais parece sueca, alta ossuda e loira, talvez por ser filha de uma mãe sueca, e assim que entra em cena é descrita como uma ave pois «Anda de forma tão leve, como se saltasse de um degrau para o outro, como os pássaros» (pág. 13), tal como, páginas à frente, se estabelece uma relação entre Aino e as gaivotas que vêm da sua pátria, isto é, da pátria da sua mãe.
Sendo uma leitura que oferece alguma resistência, porém magistralmente escrito e envolvente, até porque o leitor tem ir pacientemente deslindando os enigmas com que se vai confrontando, nomeadamente qual a verdadeira identidade da jovem Aino Laine e até que ponto sabe ela que é uma cópia da anterior paixão do funcionário, A Gaivota foi publicado pela primeira vez em 1943, plena Segunda Guerra Mundial, e afigura-se a um ensaio filosófico por vezes, sobre a natureza do amor e da guerra, da verosimilhança na vida e do fantástico na literatura, do verdadeiro significado da existência humana, dos erros que o Homem insiste em cometer face à irrepetibilidade (ou não?) de uma vida, nomeadamente em tempos de guerra quando a nossa identidade se vê reduzida a números e estatísticas. Destaque-se o momento em que os dois dialogam sobre as identidades e quando ele mostra compaixão perante o pouco sentido das vidas das gaivotas, Aino Laine retorquiu: «- Pouco sentido? (…) Elas estão cheias de energia, veja a intensidade com que vivem…/De facto, as gaivotas vivem de uma maneira intensa e não colocam a pergunta se a sua vida tem sentido ou não. Chegaram durante a noite vindas dos países frios, sobrevoando o inverno e a guerra com silenciosa energia, procurando, no infinito do céu azul, o caminho que as conduzirá em direção às temperaturas um pouco mais baixas do sul e aos rios onde flutuam blocos de gelo menos compactos.» (pág. 31).
Afinal os homens são como as gaivotas, mas enquanto estas são empurradas por um instinto insondável os homens são impelidos por simples ordens vindas de cima que não ponderam contestar, mesmo quando a realidade em que viviam foi virada do avesso e foram convocados para uma guerra inimaginável que representa o momento em que qualquer verosimilhança na vida real se perdeu e tudo o que possa haver de mais fantástico e irreal se parece tornar possível.