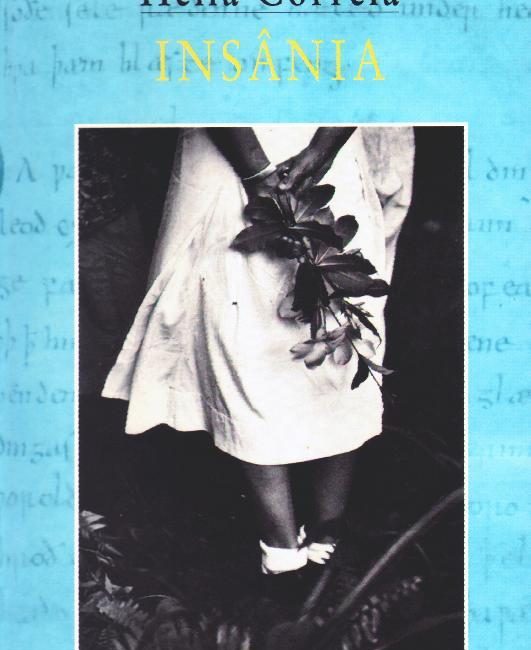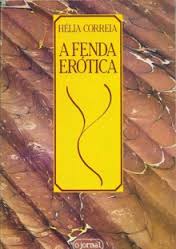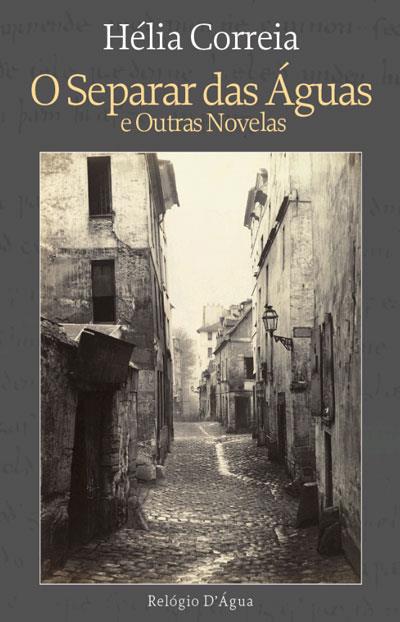Publicado na Colóquio Letras, n.º 190, Set. 2015, p. 229-231. Ver artigo
É quase com receio, ou pelo menos com imenso respeito, que nos aventuramos a indagar de um sentido subjacente a este magnífico e desafiador livro de um dos grandes autores da literatura portuguesa (cuja obra está publicada pela Dom Quixote), sobretudo quando nos deparamos com uma passagem que ironiza acerca das teses que hoje se possam conjecturar: «aparecia-me aquele desconchavo como uma metáfora da cultura contemporânea, um labirinto de citações de citações, projectado no espaço virtual, expediente que de resto não deixa de seduzir gente tão desejadamente articulada como o autor desta prosa» (pág. 58). E é esta voz narratorial que se assume como sendo o próprio autor («indaguei de mim próprio em que espécie de salgalhada me deixava envolver, aquele novelo de vidas ligadas a vidas» (pág. 39) que se institui como um dos grandes trunfos deste autor de biografias ficcionalizadas e de sagas familiares com fundo histórico que permitem, dessa forma, ficcionalizar a História. E de modo a reescrever a História, ou aquilo que se toma como certo sobre Luís de Camões, este romance está tripartido de forma sequencialmente regressiva, como só podia ser, de modo a nos deslumbrar no fim com a confirmação de que mesmo as teses mais polémicas e desconchavadas podem esconder um fundo de verdade.
A primeira parte tem lugar na altura em que o autor escreve Tiago Veiga, e dá a conhecer a correspondência encetada por Timothy Rassmunsen, o neto de Tiago Veiga (em que o autor numa estratégia bem pósmodernista recorre a um empréstimo homoautoral, mantendo vivas as suas personagens e fazendo-as transitar de um livro para outro), mas à qual o autor/narrador não considera sequer responder, dada a insólita tese que Timothy vai alimentando de que Camões nunca teria sobrevivido ao naufrágio no delta do Mekong, onde teria afinal perdido não só a sua amada Dinamene mas também a vida. Contudo esta «abstrusa teoria», ainda que apoiada nos escritos do explorador britânico Richard Burton, que é tida como produto de uma mente que caminha na corda bamba entre a crise de meia-idade e a loucura, consegue provocar no autor «o apetite de o converter em protagonista de um livro como este» (pág. 27).
Na segunda parte, situada por volta de 1830-90, o autor ao esbarrar num contratempo que encerra a parte precedente, vê-se forçado a recorrer à figura do camonista e tradutor de Os Lusíadas, passando a narrar algumas das peripécias vividas por este explorador que na «truculência de Luís de Camões, evidenciada pelo registo que ficou do brigão de rua, do soldado destemido, e do rebelde a burocracias, detectaria Richard Burton o traço de uma personalidade afim da sua.» (pág. 92). Será curioso notar como tanto Richard Burton como o neto de Tiago Veiga parecem idolatrar Camões tanto mais quanto se identificarão com ele, ao ponto de começar a declamar os versos da sua obra como se fossem fruto do seu engenho.
Finalmente, a terceira parte recua até ao cenário das conjecturas dos protagonistas das partes anteriores, e Ruy (nome que não é inocente…), o escrivão de bordo, narra o percurso de São Lourenço, a nau anual da China, que parte de Macau com Camões agrilhoado, e Dinamene a seus pés, o que não o impedia de ir escrevendo a sua obra durante a travessia até que, numa passagem que lembra fortemente a do Adamastor, se dá o fatídico naufrágio.
De um fino sentido de humor que perpassa a primeira parte, e em que lemos como se de um diário se tratasse as peripécias do autor/narrador, até à forte crítica social que perpassa na terceira parte, acusando a vida de um Portugal que parece não ter mudado muito nos últimos 500 anos, este é um romance com o seu quê de polémico e que confirma Mário Cláudio como um escritor dos que ficarão na História. Ver artigo
A construção do vazio, de Patrícia Reis (autora já aqui apresentada) chega às livrarias no dia 21 de Março e fecha um tríptico iniciado com Por Este Mundo Acima (2011) (um magnífico livro que foi recenseado para o Cultura.Sul – cujo texto podem consultar no blog). A obra da autora, jornalista e directora da Revista Egoísta, tem sido publicada pela Dom Quixote. Ver artigo
Fragmentos de uma análise:
Insânia (Relógio d’Água, 1996) é possivelmente o romance mais enigmático de Hélia Correia. O livro está dividido em duas partes e percebemos logo no início da segunda parte que se aproxima o Natal e que o primeiro livro corresponde ao período de um ano e do que se sucede na Levada desde o estranho aparecimento de uma menina sem nome que passam a chamar de Natalina. No início do segundo capítulo refere-se aliás que o freixo sob o qual Francisco Amor encontra a menina numa «dobra do caminho» «dantes, pelos fins de Dezembro, ofereceria já rebentos de folhagem» (pág. 11). Nunca se percebe bem quem dá nome à menina mas haverá certamente uma correlação entre o período em que aparece e o nome que lhe é atribuído. Também não parece inocente que quem a acolhe sejam Francisco e a esposa Mercês, de seu apelido Amor – Amor de pai, de mãe, de espírito natalício que os leva a acolher a menina por uma noite enquanto alguém não aparece para a reclamar. A associação entre o título do livro e a menina sem nome pode parecer demasiado simplista, mas a isso alia-se a estranheza em torno da menina. A descrição física de Natalina, considerada «atrasada», recorrentemente comparada a um animal («como se fosse o animal da aldeia») pela sua mudez e jeito arisco, é insólita: «olhar de água», «a sua mudez», a sua «ausência de alma», «os seus grandes olhos tão claros que podia disfarçar-se de cega e pôr-se a mendigar», «bonita como um anjo», «o quanto era suspeita a sua luz, a sua palidez» (Mas lembremo-nos de que Lillias Fraser será também descrita como uma estranha criatura).
Insânia é o ambiente que se vive na aldeia da Levada, afigurando-se esta narrativa de Hélia Correia como uma distopia em que se vive, como noutros textos da autora, um prenúncio de fim dos tempos. João Barrento escreveu que a autora cria aqui «um entre-mundo meio mágico, meio absurdo, perpassado apenas por uma ténue vontade racional, onde as personagens vagueiam entre a permanência de forças atávicas e fenómenos inexplicáveis e um processo civilizacional descaracterizado que ameaça sufocar e erradicar o velho mundo.» (pág. 73) .
Mais uma vez sem indicações temporais precisas, delineia-se um tempo de desordem, assinalado por «transtornos da terra e da humanidade» (pág. 11), que antecipa o «termo do milénio» (pág. 13), e é ominosa, através das notícias que passam nos ecrãs televisivos, a presença de uma «guerra que se via progredir à distância» mas que podia, segundo os rumores, encontrar-se já «ali a cem quilómetros», enquanto que as linhas telefónicas parecem praticamente inoperacionais, exitem «estados inteiros a arder» e a Levada vive apartada do mundo, o que pode aliás ser a razão da sobrevivência desta comunidade. Este tempo de fim do mundo (referir-se-á mesmo a palavra «apocalipse») tem também, no entanto, uma dimensão mítica de princípio dos tempos, não faltando no texto referências bíblicas: «E o vento transportava, sem fronteiras, aquela nova cólera de Deus. Qualquer coisa, chegada do princípio dos tempos, qualquer coisa sem forma e sem ideia, ia encobrindo a luz em todo o lado.» (pág. 22). Respira-se o medo, vapores tóxicos e a alimentação parece toda ela artificial, feita de cápsulas – Tito Lívio, considerado o louco da aldeia por andar livremente pelos campos, chega mesmo a arriscar comer os frutos de uma macieira que encontra e cujo sabor já esquecera…
O contacto que há com o mundo é aliás quase sempre passivo, através da televisão ou dos jogos de computador a que a juventude se dedica, claramente interrompido o ritmo normal dos dias, pois ninguém parece trabalhar, nem os jovens vão à escola, nem o Café funciona: «Sabiam, pois, que estavam esquecidos pelo mundo, apesar das cinquenta e tais maneiras com que o mundo lhes ia diariamente a casa» (pág. 129). O tempo que se vive na Levada é aliás um tempo morto e regressivo, como acontece noutras narrativas do segundo quarto do século XX (O Dia dos Prodígios, por ex.): «Parecia-lhes que ouviam escoar-se o próprio tempo, tão vagaroso que ganhara peso e assentava nas coisas como um pó.» (pág. 41); «dir-se-ia dar o tempo gigantescas passadas para trás» (pág. 56). Mas «ninguém esquecia o tempo e o som do seu pulsar» (pág. 57) referindo-se mesmo, páginas adiante, um «tédio português» (pág. 59).
Quanto ao espaço, sabemos que a acção é localizada em Portugal, designado como «País», o que lembra essa indeterminação temporal e espacial que assiste às narrativas do realismo mágico. Refere-se ainda a cidade de Lisboa e os dois outros grandes pólos são Canadá e França, o que configura no romance a temática de uma diáspora portuguesa, da emigração que desertificou certas zonas do país e reforça um sentimento de isolamento da Levada, de lugar abandonado: «À medida que os cérebros concebiam melhor a noção de estrangeiro, limpando-a do fascínio que ainda se lhe agarrava, restos das eras de ouro do turismo, mais se firmavam na intransigência, apaladada ainda pelo facto de se sentirem levemente atraiçoados, eles, que permaneceram fiéis ao seu torrão e agora entendiam que o fizeram por razões merecedoras de elogio» (pág. 64).
A afirmação da diferença através da marginalidade ou da loucura, como temos visto, são dois grandes temas dos romances de Hélia Correia, mas a insânia pode estar ainda associada ao acto da escrita. Primeiramente, ressalve-se que pela primeira vez a voz autoral se impõe como uma narradora mulher: «por isso é que eu falo de harmonia»; «estou»; «Confesso»; «Por mim, direi»; «palavra que aqui avanço como narradora» (pág. 178).
A propósito da linguagem, Agustina Bessa-Luís e José Saramago, mais uma vez, surgem como figuras tutelares da escrita da autora. Tal como José Saramago, a narradora fala com o leitor, ou consigo mesma, enquanto procura as palavras certas e se debate com o desenrolar do fio da história, usando de expressões populares, e brincando com a língua (uso de forma abusiva a expressão cratilismo da linguagem em José Saramago) de que darei apenas dois exemplos que parecem justos: «vestíbulo, palavra que aqui avanço como narradora para já a retirar, chamando hall à zona que antecede as divisões» (pág. 178); ou quando fala na família de apelido Valadios, «Como bem se imagina, convidava a que a pronúncia se economizasse para melhor proveito da língua maliciosa. E não era ali caso de ter a sugestão e a praga da palavra conseguido atraír a vítima para si, transformando-a naquilo que dela se dissesse. Pois nada tinha de vadia aquela gente, só de excessivamente confiada e indulgente com todos, até consigo própria.» (pág. 206). Há depois as frases lapidares que respiram um tom agustiniano: «E o seu sangue ganhava velocidade, tocado por aqueles sentimentos de tribo que facilmente se confundem com princípios.» (pág. 64); «É plausível que andasse ali essa mistura de susto e de ócio de onde comummente saem as mais potentes convicções» (pág. 160); «Há coisas mais potentes que a curiosidade, mesmo na alma feminil que, com a felina, reparte essa lendária acusação.» (pág. 180). Ver artigo
Entrevista a Richard Zimler realizada para o Cultura.Sul de Março de 2017
O Evangelho segundo Lázaro, de Richard Zimler, é o mais recente romance histórico deste autor (publicado pela Porto Editora) com dupla nacionalidade, portuguesa e americana, a residir no Porto desde 1990. Este romance histórico, de escrita elaborada e aturada pesquisa, leva-nos pelo lirismo da sua prosa a entrar no domínio do mítico e a conhecer a vida de Lázaro, o amigo mais amado de Cristo, tão amado que foi por si ressuscitado. Apesar de ainda escrever em inglês, Zimler é certamente um romancista querido aos leitores portugueses e incontornável no panorama cultural nacional e da cultura judaica. Ver artigo
A Fenda Erótica (1988) deve antes de mais ser lido como a publicação em livro de um folhetim folicial, publicado na revista de O Jornal (onde a autora assinara antes uma crónica ilustrada) entre 6 de Fevereiro a 18 de Setembro de 1987. A autora procurava mais liberdade na criação, conforme proferiu em entrevista, face aos preceitos que a crónica lhe exigia, mas entre uma redacção que requeria prazos quase semanais, e o ter de ceder à vontade de certos leitores, resulta um folhetim em que apenas os três primeiros capítulos são exclusivamente da sua livre autoria, cuja ideia inicial de constituir uma trilogia (com outro de ficção científica e um gótico) fica gorada, com capítulos curtos e intitulados de forma sugestiva, com um final que deixa o leitor quase sempre em suspenso, intriga rápida, e uma linguagem pouco trabalhada comparativamente às suas outras obras. Resulta deste folhetim um livro contra a vontade da própria autora, ainda que o tenha intitulado, numa brincadeira maliciosa, a partir de uma citação em epígrafe de Roland Barthes: «Nem a cultura nem a sua destruição são eróticas; a fenda entre ambas é que se torna erótica.». Contudo, a obra tem a sua originalidade criativa, assume-se como jogo literário num «diálogo intertextual com o universo dos livros de aventura» , e possui traços comuns com as outras obras da autora, em particular Soma, publicada no ano anterior.
Se em Soma, era António Eliseu a desaparecer do mundo para se perder num mundo apartado do real quotidiano, aqui é Carlos B. quem parte em busca da sua mulher Ana, arquitecta com um atelier, que desapareceu pela segunda vez, e em virtude da ajuda da sua amiga de infância, a Maruja, uma mulher misteriosa e influente sobre quem ele afinal percebe saber muito pouco, vê-se arrastado numa sequência de peripécias em que não tem grande mão nas suas decisões. Deste modo, Carlos B. revela-se mais como um anti-herói do que como um herói, mas os motivos dos romances de aventura estão todos lá, mesmo que por vezes de forma paródica ou desconstruída, como uma iniciação, a viagem, o deserto, estranhos misteriosos, adjuvantes e opositores, mouros, portas secretas, labirintos e túneis em bares nocturnos, aneis com poderes, barbas e bigodes postiços, uma bruxa, um Buda, e bebidas que parecem quase sempre resultar num sono profundo e involuntário – como em Soma. Ana partilha com outras personagens de Hélia Correia essa natureza de Bovary, como em O Número dos Vivos, optando por abandonar esse marido que representa o tédio de um convencionalismo “burguês”, que também é, no entanto, descrito de forma irónica: «A vida chata da senhora casada com o seu par de filhos que um dia hão-de crescer e deixá-la sozinha, com o seu maridinho tão bom, tão regular, que não levanta a voz e já não tem mistério. Sente-se de algum modo emparedada vida.» (pág. 126). Esta questão da imagem que é quase imposta à mulher (lembremos que em O Número dos Vivos a protagonista inventa um amante para desafiar e provocar o marido) parece encontrar a sua expressão na seguinte passagem: «Fui demorando as mãos nas roupas interiores, no seu toque de seda, nas meias arrendadas, nos corpinhos, nas cintas, nos porta-ligas que a moda copiara de há cem anos para tentar tornar uma mulher casada picante e ordinária, sem perder o seu chique.» (pág. 43).
Tal como em Soma, a fuga ao real impõe-se como forma de sobreviver à monotonia: «Era uma história como existem aos milhares, uma história de gente com mais de trinta anos, um curso superior, empregos superiores, mulheres a dias, um belo apartamento que fora alcatifado e agora tinha mantas e os tacos protegidos por banhos de verniz. Dois filhos – por acaso um lindo casalinho (…). Uma casa de férias a dois passos do mar» (pág. 12). Essa fenda erótica por onde Ana se deixa cair, em fuga ao «quotidiano cinzento e repetido» (pág. 127), leva-a precisamente, através de um amante belo e perverso, ao submundo do crime, em «busca de violência, sabe-se lá, talvez, de sentimentos fortes, da experiência do perigo. De qualquer coisa que lhe apimentasse a vida, lhe avivasse os contornos e lhe desse relevo, lhe conferisse cor e sobressalto.» (pág. 126). Denota-se nesta passagem algum artifício literário, mas é justamente o tom coloquial que irá vigorar ao longo da narrativa e, pela primeira vez, na obra literária da autora encontramos um narrador na primeira pessoa, talvez como forma de melhor chegar a um público mais vasto, a par da linguagem oralizante, dada a natureza da publicação onde se enquadra o folhetim. Talvez por isso mesmo, por estar penosa ou profundamente consciente da natureza literária deste folhetim, a autora deixa-nos diversas referências, não isentas de ironia, ao seu carácter («parece um folhetim de cordel» (pág. 127), «isto está a precisar de acção. Exotismo, aventura, essas coisas assim. Se não, não tem piada. (pág. 57); «Sentia-me o herói de um folhetim qualquer» (pág. 41). Ou sucedem-se claras alusões e constantes comparações com o cinema «Nem há suspense para mudar de cena» (pág. 108); «parecia-me ridículo como um mau filme mudo» (pág. 43); «vestido como um herói de filme americano (…) com ar de Clark Gable» (pág. 93). Há, desta forma, uma metaficcionalidade claramente assumida: «as coisas começaram a suceder-se com uma velocidade difícil de narrar» (pág. 57); «as asas do perigo, como usa dizer-se neste género literário» (pág. 105). É particularmente relevante a seguinte passagem a propósito do Citröen em que Carlos B. viajará pelo deserto marroquino: «Diferentemente de outro Dois-Cavalos que, pela mão de excepcional autor, ganhou letra maiúscula e estatuto de personagem, com os seus sentimentos e trajecto vital» (pág. 105). Alude-se claramente, para um leitor informado, ao Citröen em que viajam as personagens de A Jangada de Pedra, de José Saramago, o mesmo autor que, cerca de 14 anos depois, autorizará que Hélia Correia tome emprestada a personagem de Blimunda em Lillias Fraser.
E, mais uma vez em jeito irónico, o trigésimo-terceiro e último capítulo intitulado de «Happy-end» não é o desfecho que o leitor podia esperar, pois a mulher de Carlos B. voltará a desaparecer. Consuma-se deste modo «a ironia e o distanciamento face a um certo tipo de cultura, através da construção e desconstrução de imagens míticas e de estruturas simbólicas» . Ver artigo
A acção de Montedemo (1983), novela que integra a edição de Obras Escolhidas da autora da Relógio d’Água (e adaptada ao teatro em 1987 pelo grupo «O Bando»), é situada num meio rural rico em superstições e mitos populares, e subjaz à narrativa um realismo etnográfico ou etno-fantástico, como se apelidou na altura, que lembra o das suas primeiras novelas, mas aqui mais vincado, e encontra ressonância em autores como João de Melo ou Lídia Jorge nas suas obras de estreia.
O próprio título Montedemo remete logo pela sua estranheza para o folclore e para o paganismo de uma comunidade marginal, na periferia do urbanismo ou que remonta a um tempo remoto. Este cenário eleito como espaço da acção não é rural, mas sim marítimo, pois trata-se de uma pequena comunidade piscatória, onde se joga com todo um imaginário popular de uma nação profundamente cristã. Pode-se destacar, como primeiro ponto de contacto, a importância desta montanha que surge como um símbolo de ascensão ao dívino, como o monte Olimpo, por exemplo. Relembre-se como a dada altura o povo do Rozário, em pânico, foge para a montanha e não para a igreja, a não ser quando o padre Governo tenta reprimir e desviar esse assomo de paganismo. Essa montanha denominada Montedemo, à semelhança de outros espaços cristãos que vão depois ser reconvertidos pelo cristianismo como forma de manter a adesão das pessoas que procuram certos espaços, como mesquitas que foram reconstruídas como igrejas e santuários criados em locais pagãos, acaba por ser cristianizada de igual modo. Porque já se celebrava nessa comunidade as festas de S. Jorge, esse será o nome adoptado pelo frade para baptizar o monte, para «que as festas, danças e promessas, rebeldes a qualquer proibição, fossem encaminhadas para Deus através do seu santo mais guerreiro, matador de dragões, castigo dos infernos» , mas aparentemente sem grande sucesso pois esse lugarejo continua a usar a antiga designação. O imaginário cristão ressente-se ainda através dos prodígios que ocorrem, onde se centra o mágico existente nesta narrativa, bem como na importância da simbologia dos números três e sete. É no sétimo dia, um domingo, que a terra tremeu, assinalando uma cisão temporal e anunciando a novidade que se procurará narrar, são sete as noites em que aparecem estranhos fogos e são sete as noites em que a tia Ercília espia Milena, a jovem que irá aparecer grávida. A temática da marginalidade sempre presente na obra da autora desdobra-se nas figuras de Milena e de Irene, a louca. Irene vive já isolada da comunidade enquanto a primeira, sendo uma jovem, a quem não se conhece namorado nem amante, será ostracizada em consequência da sua gravidez. Mas mesmo na figura do louco perpassa sempre, enquanto símbolo das forças obscuras do inconsciente uma certa capacidade de comunicar com o invisível e de pressentir o porvir: «Estava a população cansada de prodígios e ninguém deu ouvidos a Irene que, de joelhos sobre o areal, invocou sem parar deuses e astros, pressentindo maiores assombrações.» . Os acontecimentos ocorrem às três horas da tarde e ocorrem ainda, por três vezes consecutivas, outros eventos como o tremor da terra e as ondas imóveis no mar, como um manto de cor púrpura, fazendo-se mesmo uma comparação do «brilho gorduroso» dessas águas com a «túnica de Cristo da Procissão dos Passos» . A própria gravidez de Milena será imbuída de toda uma aura de sobrenaturalidade, além de a fazer renascer, pois torna-se investida de uma sensualidade que nunca antes possuiu e de uma «beleza indecifrável» . Mas há depois uma inversão irónica, pois a criança que nasce é negra, negra como uma criatura do demónio. O povo podia até perdoar uma gravidez fora do casamento sem a bênção do padre, mas «agora tudo isso e um filho mulato… é de mais. Só por obra do Diabo.» . Por outro lado, a intriga decorre numa circularidade, ocorrendo o acontecimento-chave aqui na altura do Carnaval, aqui transmutado ou associado às festas de S. Jorge que sucedem justamente no segundo domingo de Fevereiro. O carnavalesco ou esse ambiente próprio das saturninas romanas concretiza-se no facto de os pares de noivos prestes a casar irem até às encostas desse monte, a coberto da noite e contra as leis da igreja, onde «encostavam à terra a boca e a barriga, pedindo para os corpos prazer e harmonia e para o sangue filhos sãos e machos» . O romance termina com um final em que ressoam certos romances góticos ou mesmo cenas próprias de um filme de terror em que a populaça converge numa massa assassina para atacar Milena e erradicar essa mácula que sentiam ser fruto de desgraça. Surge assim um antagonismo invertido entre o paganismo, concretizado na gravidez de Milena, e o cristianismo, concretizado na populaça, mas enquanto Milena permanece cristãmente serena, a população que se aproxima age movida pelo desejo de sangue. E quando Irene avista essa turba irada é sintomático que esta seja descrita e percebida como uma enorme serpente: «Eram órgãos, tecidos, de um enorme animal, uma serpente. (…) um réptil gigantesco, eis o que Irene viu quando espreitou porque sentira gente» . É graças a esse grito desmesurado de Irene que Milena se salva, desaparecendo misteriosa e definitivamente. Uma serpente que luta contra um filho das ervas, como outrora esses noivos que se deitavam na erva e pediam fertilidade, fruto de uma mãe a quem não se conhece um pai e cuja gravidez poderia passar por uma imaculada concepção, como quando se descreve o ventre de Milena: «redondo, tenso e resplandecente como uma madrepérola» , uma serpente que não é pisada por Santa Irene pois limita-se a evadir-se do mundo. Esse prodígio, de que depois se fala como um enigma a decifrar, é, aliás, um presságio de novos tempos, em que as festas pagãs de S. Jorge terminaram e o padre reclama «que se está a dar início a coisas perigosas, a bruxedos, como se não bastasse o desarranjo em que andam as repúblicas do mundo» . Cláudia Pazos Alonso considera, de forma assaz curiosa, que Milena pode representar o culminar de uma «síntese de diferenças anteriormente irreconciliáveis (…), cujo nome funde os dois aspectos do feminino que o patriarcado há muito separara em duas imagens incompatíveis: o anjo e a tentadora. Pois Milena é, muito provavelmente, um diminutivo de Maria Helena: Maria, a Virgem e Helena, a sedutora de Tróia.» . Ver artigo
Chega às livrarias a 27ª. EDIÇÃO (com data de Fevereiro de 2017) do quarto romance de João de Melo, Gente Feliz com Lágrimas, que a par de O Meu Mundo não é deste Reino pode ser entendido como um díptico sobre os Açores, visto que os outros dois livros (Memória de ver matar e morrer e Autópsia de um Mar em Ruínas) se referem a memórias da guerra colonial, onde encontramos referências explícitas a esse modo de vida das ilhas em passagens como: «o pasmo dum arquipélago que encalhara na mística religiosa do século XVI.» . Ou note-se ainda a alusão que é feita intratextualmente ao seu anterior romance: «em que todos viram (…) a caricatura de um país mitológico e intemporal…» , pois o narrador assume-se, ainda que num logro intencional e ilusório, como sendo uno com a voz autoral. Contudo, se Gente Feliz com Lágrimas pode parecer, num primeiro impacto, uma continuação de O Meu Mundo Não É Deste Reino, em que se retoma esse povo do Rozário quando, num tempo mais actual, se atreve finalmente a partir além desse mar branco que envolve as ilhas, a ambiência mágica que antes perpassava na Ilha vai desaparecer, associada à própria partida do protagonista para Lisboa. Além disso, a opressão aqui retratada prende-se com um menino que vive num medo constante de um pai violento e que materializa na paisagem da sua infância esses fantasmas, puramente internos, que o assombram:
Tudo irreal e oculto, como o próprio sol o era na sua esfera parda e oblíqua. Envolvendo as mães dos pêssegos e dos outros frutos, as matas de criptoméria eram presenças fulvas, cor de estanho, postas ali de propósito pelos antepassados só para captarem o tempo parado dos mortos. O ninho esdrúxulo do Grande Medo abria-se para receber o frio de meu corpo. Passavam então, como num desfile, por cima das copas das árvores, os mortos da família (…). Ver artigo
Villa Celeste (publicada em 1985 pela Ulmeiro e agora integrada em O Separar das Águas e outras novelas da Relógio d’Água) traz o subtítulo de «Novela Ingénua». Porque se trata de uma narrativa com cerca de 50 páginas? Porque a sua protagonista, Teresinha – e note-se o diminutivo carinhoso -, é ela própria ingénua, capaz de encontrar felicidade nas coisas mais simples, como uma criança? Porque se trata de um conto alegórico, com uma certa moral social, narrado como quem conta uma história, com um certo jeito oralizante? Ou, como apontou alguma crítica na altura, porque consiste numa novela de «simplicidade ideológica, homóloga aliás da singeleza do estilo e da linearidade da efabulação narrativa» ?
A autora foca-se aqui noutro tipo de pobreza, a de espírito, mas sem se desviar do tema da cisão social que se prefigurava em O separar das águas. A narrativa começa pelo fim, a anunciar o clímax que se seguirá – «Teresinha Rosa já passava dos sessenta quando a vida lhe armou um campo de batalha e ela tomou o gosto ao pelejar.» (pág. 85) – para depois recuar até aos vinte anos da personagem, momento em que «os pais, a braços com seis filhas para casar, a colocaram como costureira portas adentro» (pág. 85).
Mantém-se, ainda que de forma mais secundária, a questão da classe social, ou de como os ricos usam os pobres, inclusive sexualmente, e a representação da mulher em traços menos positivos. Teresinha quando é acolhida na casa de um ramo da fidalga família dos Lebrões, onde começa por trabalhar por costureira, passa portanto a viver no sótão (imagem recorrente na escrita da autora e que nos remete para esse livro…) e será visitada por mais de vinte anos pelo patrão, Manuel Lebrão (note-se o aumentativo pejorativo), que era conhecido como um libertino rapidamente rejeita a mulher mas mantém-se fiel à empregada. A mulher aliás encara essa situação muito tranquilamente: «Fora com muito alívio que a mulher, criaturinha anémica, de gestos empastados, se vira rejeitada dos nojos conjugais. Cumprira o seu dever parindo um rapazinho muito louro, enfermiço, que Teresinha acolheu no peito generoso. Uma vez garantida a permanência dos bens familiares em legítima herança, a senhora Lebrão passou a dedicar-se aos seus vários achaques e ao jornal da paróquia.» (pág. 86) (itálicos nossos). Só nesta passagem podemos logo relevar três aspectos centrais às primeiras obras de Hélia Correia: a camponesa, isto é, a mulher pobre, é mais forte e enérgica; as mulheres de uma certa burguesia ou velha aristocracia é descrita de forma débil e uma vez cumprido o seu papel de garante da sobrevivência da linhagem facilmente se desliga do marido, ou é por este rejeitado, que preferirá encontrar prazer em mulheres de classe social mais baixa; o sexo entre marido e mulher é muitas vezes descrito como algo grotesco e bestial.
A narrativa carece de precisão temporal ou espacial, mas acabaremos por perceber, quando Villa Celeste se vê rodeada de prédios em construção que estamos na periferia de uma cidade, onde não faltará um bairro pobre, e, através da referência aos cabo-verdianos e pedreiros, sempre descritos com simpatia e compaixão, que podemos situar a narrativa na altura da descolonização, quando retornados e emigrados procuram trabalho e casa perto das grandes cidades. A Revolução de Abril será também referida perto do final da narrativa, se bem que com uma certa ironia: «estava o país inteiro de grãozito na asa», «ali para milagres já bastava ver os polícias acariciar as criancinhas» (pág. 115). Teresinha Rosa que é ao início vista como uma bruxa ou uma velha louca (a andar pelo campo a apanhar ervas e a falar sozinha) acaba por ser depois percebida como alguém cuja principal vocação é ajudar e confortar, cada vez mais angustiada pelo urbanismo que grassa em redor da sua Villa Celeste: «Com aquela cidade nascida à sua volta, começou a sentir os males da solidão. (…) O que profundamente a perturbava era ver aqueles prédios a transbordar assim de criaturas a quem não conseguia falar ou ser prestável» (pág. 104). Ver artigo
O separar das águas (1981) foi a primeira novela de Hélia Correia (as suas primeiras três novelas foram publicadas na obra abaixo ilustrada pela Relógio d’Água, em 2015) recebida pela crítica como «invulgarmente bem construída, entre o burlesco e o dramático», com «linguagem sóbria, segura» e cuja concisão narrativa revela «qualidade literária».
Sem qualquer indicação temporal específica no corpo do texto, podemos situar o início da narrativa no ano de 1917, pois proliferam referências históricas nacionais, nomeadamente a aparição de Fátima, e estende-se por dois anos incertos em que a sucessão de eventos políticos referidos mais parecem condensar mais de metade do século XX. A acção localiza-se num lugar atópico, intitulado Vilerma – certamente uma contracção de Vila Erma –, nome que convém a um espaço perdido e isolado, marcado pelo obscurantismo e pela crendice popular: «Como todas as vilas recolhidas, afastadas das grandes capitais, as notícias chegavam a Vilerma tardiamente e muito acrescentadas. A Revolução Russa e o milagre de Fátima vieram a um tempo, entrelaçados, como formas visíveis do tremendo combate de Deus e do Diabo, que arrastava consigo a perdição do mundo.» (pág. 13).
Proliferam as personagens mas ao longo da narrativa percebemos que a personagem central é o soldado José Sebastião que passa a tenente e a senhor presidente, pois os títulos alternam-se sem grande distinção. Prefiguram-se nesta novela questões centrais às narrativas da autora que se lhe seguirão: a luta de classes; relações conflituosas entre homem e mulher; um certo realismo mágico, termo que era comummente aplicado na altura da publicação das primeiras novelas da autora pela crítica, mas que se definiria melhor como um ambiente fantástico; um realismo ainda próximo do neorealismo.
O casamento entre José Sebastião e Maria do Patrocínio, oriundos de classes sociais distintas, surge como uma forma de ascensão social e não causa o escândalo próprio a uma certa aristocracia de épocas passadas, permitindo ao soldado assumir inclusivamente o papel de liderança antes ocupado pelo sogro, coronel Pimenta de Albuquerque, como se um título militar fosse transmissível com o dote. Esta ascensão social de José Sebastião, a quem o sogro chama por «guardador de porcos» e acusa de não conhecer o próprio avô, acarreta o próprio renegar das suas origens e, por conseguinte, da sua família com quem corta qualquer contacto depois do casamento. O casamento é assim reduzido a uma convenção social hipócrita e que tem, quase sempre, desfechos trágicos (como veremos depois em O número dos vivos) em particular a loucura das mulheres, situação clínica que se afigurava uma boa desculpa para a trancar nalgum quarto esquecido ou relegar para um lugar distante, de modo a prosseguir a vida com uma amante publicamente reconhecida ou um segundo casamento. As mulheres são representadas quase sempre de forma débil, beata ou demente: «Ao lado do enorme coronel, a esposa parecia uma pomba assustada. Punha no chão os olhos cor de cinza e ninguém conseguiu, na sua curta vida, arrancar-lhe da boca mais do que um «boa tarde» fatigado e confuso.» (pág. 23). A autora procurará, desta forma, romper com certos convencionalismos da tradição clássica literária, ao reforçá-los, se bem que de forma paródica. Na localidade de Vilerma o poder reparte-se em duas polaridades, o militar e o clerical, enquanto que o padre teme já os operários, que acabarão por se instalar definitivamente com a instalação de fábricas de conserva e que significam justamente o progresso do local. A ameaça pendente ao longo da narrativa será, justamente, o comunismo, referido logo no início, e que leva a pensar no ambiente fantástico que se respira na novela como uma exalação dessa ameaça invisível provinda das terras de leste: «- Às vezes dá-me a ideia – suspirou o tenente – de que eles não existem. De que alguém os inventa, se mascara, para nos encher de medo». (pág. 82). Reina ainda em Vilerma um certo misticismo primitivo arreigado entre o temor imposto pelo cristianismo, da mesma forma que na escrita da autora se delineia já uma tendência para o fantasmático ou irreal, a magia (temos uma bruxa), a loucura ou as ruínas a invocar o romantismo, e um certo humor e ironia, com frases que invocam um estilo próprio de Agustina. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016
Etiquetas
Akiara
Alfaguara
Annie Ernaux
Antígona
ASA
Bertrand Editora
Booker Prize
Bruno Vieira Amaral
Caminho
casa das Letras
Cavalo de Ferro
Companhia das Letras
Dom Quixote
Editorial Presença
Edições Tinta-da-china
Elena Ferrante
Elsinore
Fábula
Gradiva
Hélia Correia
Isabel Rio Novo
João de Melo
Juliet Marillier
Leya
Lilliput
Livros do Brasil
Lídia Jorge
Margaret Atwood
New York Times
Nobel da Literatura
Nuvem de Letras
Patrícia Reis
Pergaminho
Planeta
Porto Editora
Prémio Renaudot
Quetzal
Relógio d'Água
Relógio d’Água
Salman Rushdie
Série
Temas e Debates
Trilogia
Tânia Ganho
Um Lugar ao Sol