
Casa de Dia, Casa de Noite, de Olga Tokarczuk, autora publicada pela...
Leia Mais

A outra metade, de Brit Bennett, publicado pela Alfaguara, com tradução de...
Leia Mais
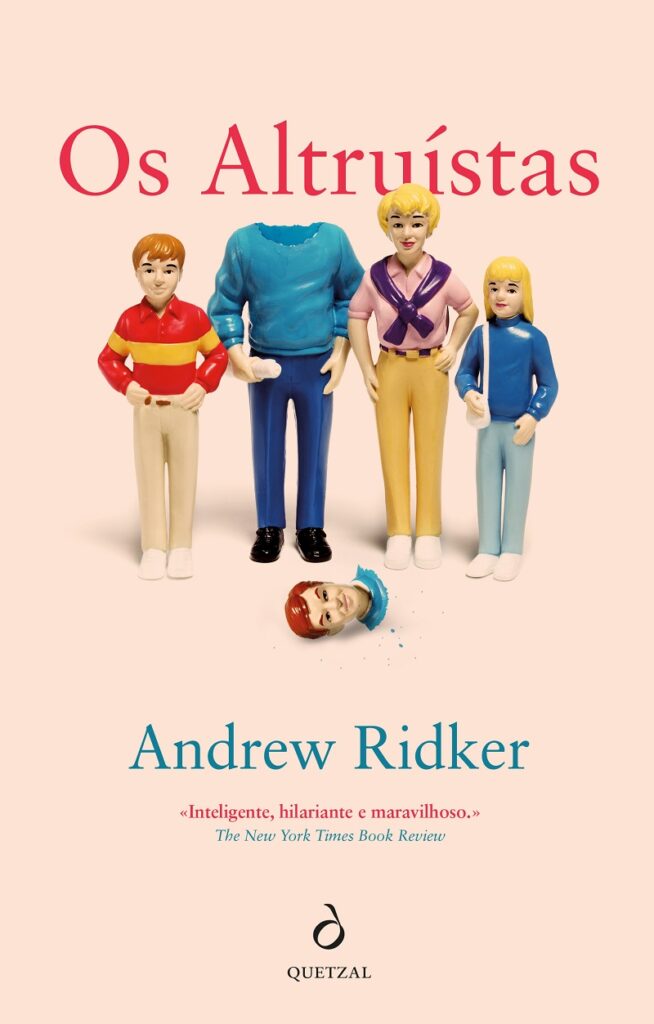
Os Altruístas é o aclamado romance de estreia de Andrew Ridker, publicado...
Leia Mais

O Reino, de Emmanuel Carrère, publicado pelas Edições Tinta-da-china, «conta a história...
Leia Mais
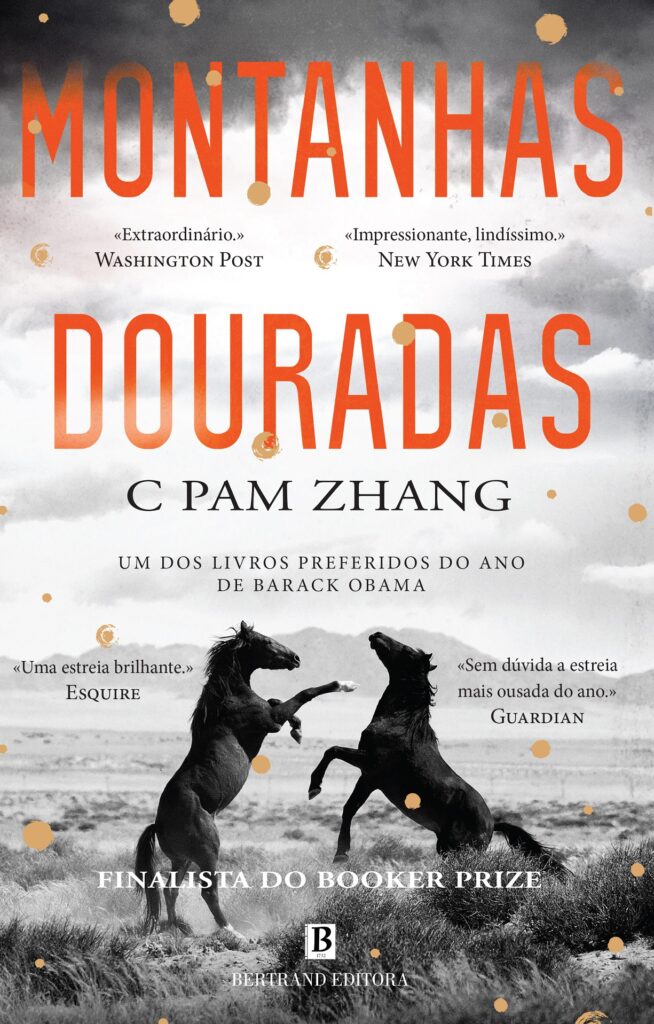
Montanhas Douradas, finalista do Booker Prize, é o romance de estreia de...
Leia Mais

Fundação, de Isaac Asimov, é o primeiro livro da trilogia Fundação, relançado...
Leia Mais
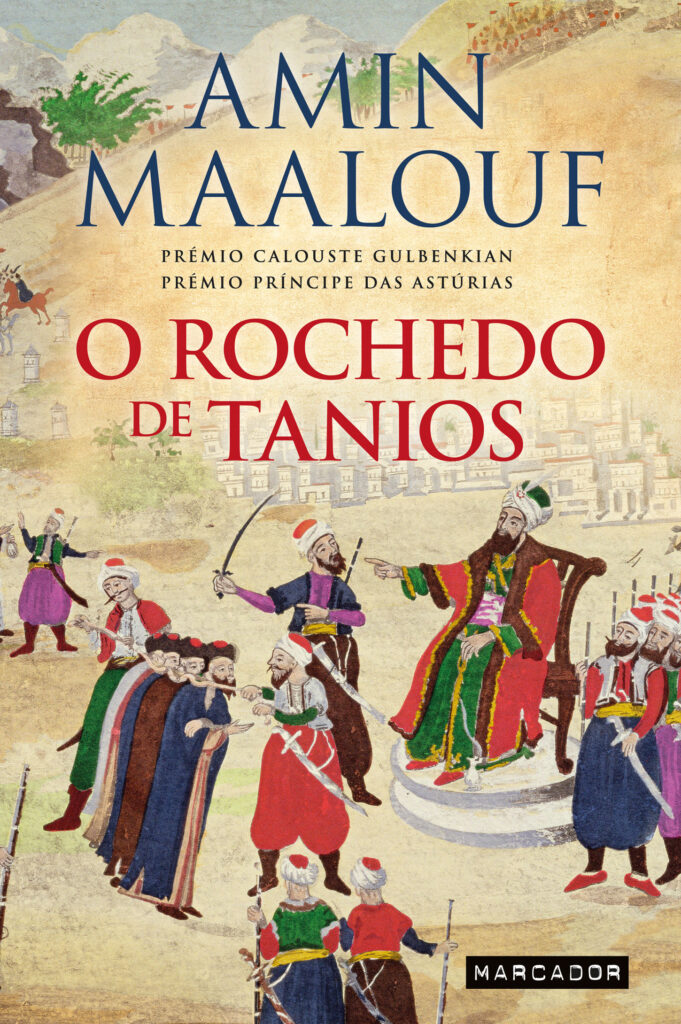
O Rochedo de Tanios, de Amin Maalouf, publicado pela Marcador, leva-nos ao...
Leia Mais

A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, publicado pela TopSeller, tem arrecadado...
Leia Mais

O Espelho e a Luz, de Hilary Mantel, encerra a trilogia que...
Leia Mais

Verão, de Ali Smith, encerra o ciclo das quatro estações que tem...
Leia Mais
