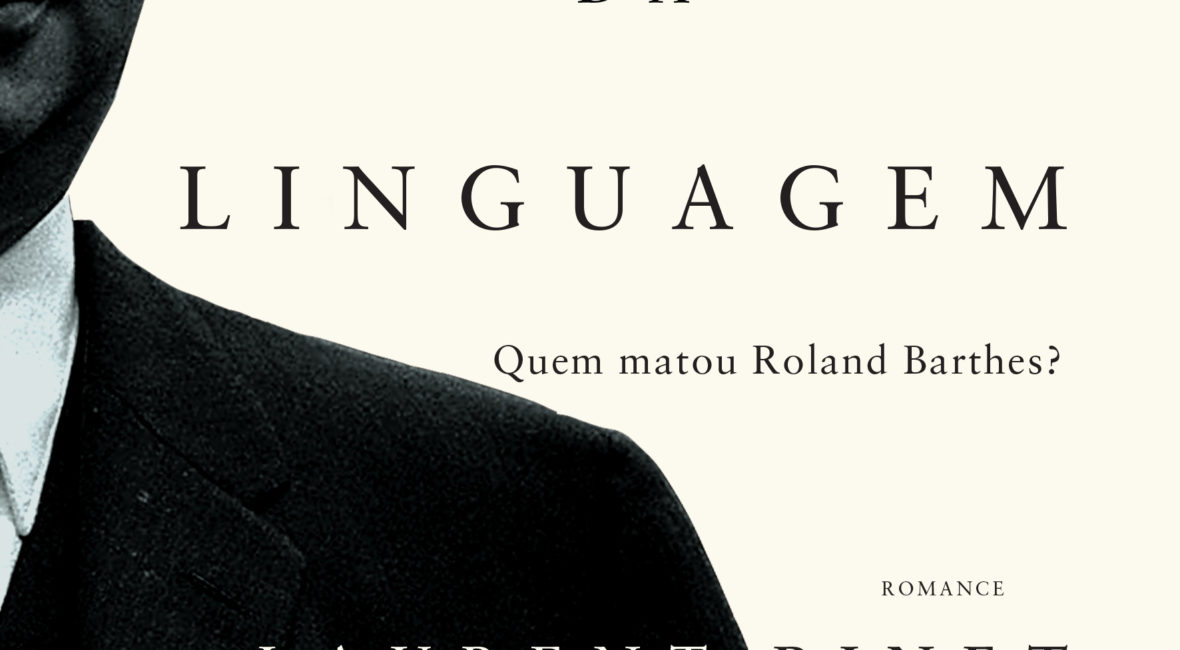Chegam boas notícias da Porto Editora de que partilhamos a nota de imprensa: Ver artigo
William Faulkner, um dos maiores e mais inovadores romancistas norte-americanos do século XX, terá escrito este livro pouco depois da publicação do seu primeiro romance, A Recompensa do Soldado (1926).
A 5 de fevereiro de 1927, Faulkner ofereceu um exemplar de A Árvore dos Desejos, dactilografado e encadernado por si, à pequena Victoria Franklin, no seu oitavo aniversário, onde narra as aventuras de Dulcie no dia em que também acorda para o seu aniversário. Victoria era filha de Estelle Oldham, uma antiga namorada de adolescência e sempiterna paixão do escritor que não desistiu enquanto não conseguiu casar-se com ela em 1929. A história nunca foi publicada senão dois anos depois da morte do autor, em 1964, com ilustrações de Don Bolognese, tal como se reproduz nesta bonita edição de capa dura da Ponto de Fuga.
William Faulkner nasceu no Mississípi, no Sul dos Estados Unidos, a 25 de setembro de 1897, e foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Literatura em 1949.
O único livro infantil do autor cruza o imaginário de Alice no País das Maravilhas, com pessoas e animais que encolhem e aumentam de tamanho, com o da sua ficção adulta, situando a história de forma vaga no contexto norte-americano dos tempos da guerra e da escravatura, através das personagens de Alice e do marido, soldado morto ou desaparecido que magicamente regressa, e antecipa recursos narrativos e estilísticos do seu romance mais célebre, O Som e a Fúria (1929). Aquilo que pode parecer do reino do sonho ou do absurdo revela-se afinal como uma preciosa lição de vida, onde as personagens muitas vezes desperdiçam desejos em coisas inúteis, sem sequer se aperceber que afinal já encontraram a Árvore dos Desejos que buscavam, essa entidade mítica que continuam a procurar numa saga quixotesca cheia de peripécias e mal-entendidos.
A editora Ponto de Fuga inaugurou com este título uma colecção infanto-juvenil composta por escritores que não são usualmente autores de livros infantis, como Gertrude Stein, Ted Hughes ou E.E. Cummings. No Plano Nacional de Leitura para 2017 este livro surge como recomendação para o 9.º ano. Ver artigo
Publicado na Forma de Vida: Ver artigo
Kate Atkinson, nascida em York (Grã-Bretanha) em 1951, conseguiu a proeza de ganhar o Prémio Costa pela terceira vez com esta obra que é um complemento, não uma sequela, segundo palavras da própria autora, de Vida após Vida, o seu romance anterior, igualmente premiado com o Costa e publicado pela Relógio d’Água.
A autora teve ainda duas outras obras publicadas em Portugal. Retratos de Família, o seu romance de estreia e vencedor do Costa, com o título original de Behind the Scenes at the Museum, data de 1995 e foi publicado uns anos depois pela Planeta Editora, que também traduziu e publicou Croquete Humano.
Vida após Vida, publicado pela Relógio d’Água em 2014, assenta numa ideia original. Na contracapa do livro pode ler-se: «Em 1910, durante uma tempestade de neve em Inglaterra, um bebé nasce e morre sem que tenha tempo de respirar. Em 1910, durante uma tempestade de neve em Inglaterra, o mesmo bebé nasce e vive para poder contar a aventura.». Ou, dito de outra forma, para poder contar a História. A história de Vida após Vida, como o título indica, é uma sucessão de desfechos alternativos, mas se ao início esses desfechos alternativos parecem cingir-se àquilo que aconteceria se Ursula sobrevivesse às várias mortes por que passa, depois começam a estar mais amplamente relacionados com o próprio livre arbítrio da personagem e das decisões que toma. A vida de Ursula desdobra-se numa míriade de vidas possíveis, até que, no fecho do primeiro capítulo, localizado temporalmente em Novembro de 1930, quando Ursula entra num café e dispara sobre Hitler, se pressente que a ideia central ao romance é não só a eterna questão de “E se eu tivesse decidido assim ou optado por ali” mas sim a de “E se fosse possível prever o futuro e reescrever a História?”. Nas palavras da própria heroína: «Uma vez ouvi alguém dizer que a presciência era uma coisa maravilhosa, que com ela não haveria história.» (pág. 428). Ver artigo
Hubert Selby Jr. viveu entre 1928 e 2004 e nasceu em Brooklyn, cenário do seu romance Última Saída para Brooklyn, também publicado pela Antígona em 2006, que se tornou um livro de culto e instituiu o autor como um ícone da contracultura.
Passado no Bronx nos anos 70, Requiem por um Sonho, obra publicada pela Antígona, é uma descida aos infernos do vício e da mente. Harry, Tirone, Marion e Sara são as quatro personagens entre as quais a narrativa oscila, dando conta num registo torrentoso em que os diálogos e a corrente de consciência das personagens se enovela. No início da narrativa todas as personagens possuem um sonho: Harry e Tirone procuram dinheiro fácil, Marion gostaria de abrir um café-teatro e ter fama como artista, enquanto Sara sonha aparecer na televisão. Sara, a mãe de Harry, é a única personagem que não é viciada em heroína, mas depois de passar os dias inteiros agarrada à televisão, tornando-se perita em deitar um olho sobre aquilo que vai fazendo enquanto o outro olho absorve as imagens em technicolor, muitas vezes de anúncios publicitários, deixa-se levar pelo engano de vir a ser convidada a participar num concurso televisivo, o que a leva a querer emagrecer e a ficar involuntária e ingenuamente viciada em anfetaminas. Seja pela heroína, pela televisão, pela publicidade que tudo promete, pelos comprimidos coloridos que se engolem sem culpa, gradualmente, estes sonhos perdem-se e são destruídos por uma necessidade instintiva de encontrar a próxima dose de esperança através da droga que lhes corre nas veias.
O narrador procura ocultar-se por trás das suas personagens, sem tecer juízos de valor, enquanto constrói este seu quadro dantesco de uma «avassaladora viagem ao lado negro do sonho americano e ao universo junkie».
Leitura densa, pesada, que não deve ser feita de ânimo leve, numa espiral descendente de destruição e aniquilamento de qualquer esperança de sonho, este romance foi adaptado ao cinema em 2000 pelo premiado realizador Darren Aronofsky. Ver artigo
Um livro ideal para ser lido numa tarde de outono sobre uma história de amor no crepúsculo da vida. É uma história breve mas com uma nota de esperança sobre a amizade, o amor e as oportunidades que não são agarradas na altura certa por medo ou convencionalismos.
Em Holt, uma pequena cidade do Colorado (de onde o autor é oriundo, partindo sempre desse espaço e das suas comunidades para os seus livros), Addie Moore surpreende o seu vizinho Louis Waters com uma proposta irreverente: «Estou a falar de passarmos a noite juntos. E de nos deitarmos quentinhos na cama, de fazermos companhia um ao outro. De nos deitarmos e de tu passares lá a noite. As noites custam muito a passar.» (p. 11).
Ambos viúvos, a viver vidas vazias em casas vazias, porque não partilharem a cama visto que é na noite que a solidão mais se sente? Note-se que mesmo com o neto de 6 anos de Addie, é também na noite que ele se ressente da incerteza e da reviravolta que a sua vida levou, sentindo-se abandonado pelos pais.
Escrito numa linguagem clara, concisa, numa prosa muitas vezes puramente descritiva, simples, mas nunca banal, e alternando com diálogos que vão revelando as personagens conforme estas despem a alma nas suas conversas na noite. Uma história de amor na terceira idade, sem lugares-comuns ou lamechices, onde uma comunidade se revolta contra uma relação que é mais de companheirismo do que física: é sintomático que seja essencialmente quando expostos em público que Addie e Louis mais arriscam nas manifestações físicas de afecto, «caminhando ao longo das montras falsas à moda antiga» (p. 62).
Este livro, eleito o melhor do ano por jornais como Boston Globe, Denver Post e St Louis Dispatch, foi o último romance do autor, escrito quando os médicos lhe diagnosticaram uma doença grave, e tendo falecido dias depois de o ter concluído, em Novembro de 2014. Publicado pela Alfaguara, estreia na próxima semana a sua adaptação em filme no canal Netflix, com interpretações de Jane Fonda e Robert Redford. Ver artigo
Esperei quase dois anos para ler a tradução deste livro e para perceber como é que a autora conseguiu a proeza de ganhar o Prémio Costa pela terceira vez com esta obra que é um complemento, não uma sequela, segundo palavras da própria, a Vida após Vida. Nesse romance anterior igualmente premiado com o Costa e publicado pela Relógio d’Água, Ursula, numa das suas várias vidas (para quem leu o romance anterior percebe) é uma presença constante, até porque é a irmã preferida, e provavelmente a amizade mais sólida, de Teddy, Edward Todd, um piloto do Comando de Bombardeiros. Apresentei em tempos um livro de Sebald, História Natural da Destruição, em que o autor comenta justamente a pouca literatura que há em torno da guerra aérea que pulverizou a Alemanha. Pois neste romance Kate Atkinson centra-se justamente no Blitz de Londres e na campanha de bombardeamentos estratégicos contra a Alemanha. Há uma aturada pesquisa histórica, que aliás se sente, nunca de forma enfadonha, nas descrições pormenorizadas dos voos e dos pormenores associados à guerra, sendo que os episódios narrados são sempre baseados em factos reais. Existem momentos em que podemos mesmo visualizar vividamente as cenas, como se estivéssemos a ver um filme como Dunkirk.
Mas este não é apenas um romance sobre a guerra. É sobretudo um romance sobre a vida e as várias guerras que combatemos ao longo dela, como a doença, a velhice, as relações familiares, ou tão simplesmente o esquecimento.
Não é um romance em que se entre de ânimo leve. Penso que só perto da página 100 é que comecei a embrenhar-me na história verdadeiramente.
E se tivesse de arriscar um motivo pelo qual este livro arrecadou o Costa seria pelo tratamento do tempo. Não me refiro a prolepses ou analepses, que são constantes, nem ao facto de os capítulos, todos eles datados com um ano (entre 1925 e 2012), serem desordenados cronologicamente. Em poucas linhas os planos temporais enovelam-se e quase perdemos o fio à meada, não fosse a perícia com que a autora tece o fio do tempo.
Usar a metáfora de que ler este romance é como nos perdermos num labirinto seria incorrecto. Aqui andamos numa sala de espelhos, em que o passado faz luz sobre o futuro e o futuro se projecta no passado, à medida que um homem, num século que não é mais o seu, se apercebe de como a vida vai ruíndo apesar da sua bondade e da sua integridade. Ver artigo
Este romance publicado pela Gradiva de Ayelet Gundar-Goshen, autora israelita nascida em 1982 – psicóloga, docente universitária, argumentista, e que já trabalhou como jornalista e editora – corre o risco de passar despercebido. Talvez porque não cheira a laranjas ou a pêssegos, como as suas personagens. Mas exalam destas páginas uma exuberância e um encanto, inclusivamente na criatividade e na poesia da linguagem, que lembram a pujança do realismo mágico.
Nas vésperas da Segunda Guerra, Markovitch e o seu amigo Feinberg partem de Israel num barco com 20 homens, rumo à Europa, onde casarão 20 jovens mulheres judias, de forma a lhes conseguir um salvo-conduto e emigrar para Israel.
É um romance fundamentado na História com a força mítica da alegoria, onde se narra a história de Israel através do seu povo, com personagens quase sempre isoladas na sua diferença e no seu amor assolapado por alguma causa ou por alguém. Realismo mágico? Nem por isso. Mas disso falarei depois melhor. Ver artigo
Será finalmente publicada em Portugal no próximo dia 22 de Setembro a obra autobiográfica de Maya Angelou, com tradução de Tânia Ganho e posfácio de Diana V. Almeida Ver artigo
Um retrato cruel da fundação da América, nos anos 50 do século XIX, que recebeu o Prémio Costa para Melhor Livro do Ano (sendo a segunda vez que o autor vence este prémio). Publicado pela Bertrand.
A linguagem é singular, num registo muito próximo da oralidade e de um certo falar da época, com um humor bem doseado, conforme Thomas McNulty recorda na primeira pessoa, por volta dos seus cinquenta anos, os acontecimentos que viveu enquanto soldado, depois de ter começado como dançarina (sim, dançarina) por volta dos seus quinze anos de idade, sempre na companhia do seu amante e depois companheiro de armas John Cole.
«Não pensávamos no tempo como algo que pudesse ter um fim, era como se fosse continuar para sempre, tudo repousava e se interrompia naquele momento. É difícil explicar o que quero dizer com isto. Olhamos para trás, para todos os anos intermináveis em que nunca tivemos essa ideia. É o que faço agora, ao escrever estas palavras no Tennessee. Penso nos dias sem fim da minha vida. E agora não é assim. Pergunto-me que palavras dissemos tão descuidadamente naquela noite, que tolices vigorosas proferimos, que gritos bêbedos soltámos, que estúpida alegria havia em tudo aquilo. E o John Cole, como era jovem e mais bonito do que qualquer pessoa que alguma vez pisou a Terra. Jovem, e isso nunca mudaria. O coração cheio, a alma a cantar. Plenamente vivo na vida e feliz como as andorinhas sob os beirais da casa.» (p. 43)
Os autores irlandeses estão efectivamente na moda, e os livros de Sebastian Barry (nascido em Dublin em 1955) estão invariavelmente nas listas de prémios anglófonos como vencedor ou finalista.
Não li outros livros do autor (ainda) mas a linguagem, bela sem ser pretensiosa, alia-se a uma magnífica história. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016
Etiquetas
Akiara
Alfaguara
Annie Ernaux
Antígona
ASA
Bertrand Editora
Booker Prize
Bruno Vieira Amaral
Caminho
casa das Letras
Cavalo de Ferro
Companhia das Letras
Dom Quixote
Editorial Presença
Edições Tinta-da-china
Elena Ferrante
Elsinore
Fábula
Gradiva
Hélia Correia
Isabel Rio Novo
João de Melo
Juliet Marillier
Leya
Lilliput
Livros do Brasil
Lídia Jorge
Margaret Atwood
New York Times
Nobel da Literatura
Nuvem de Letras
Patrícia Reis
Pergaminho
Planeta
Porto Editora
Prémio Renaudot
Quetzal
Relógio d'Água
Relógio d’Água
Salman Rushdie
Série
Temas e Debates
Trilogia
Tânia Ganho
Um Lugar ao Sol