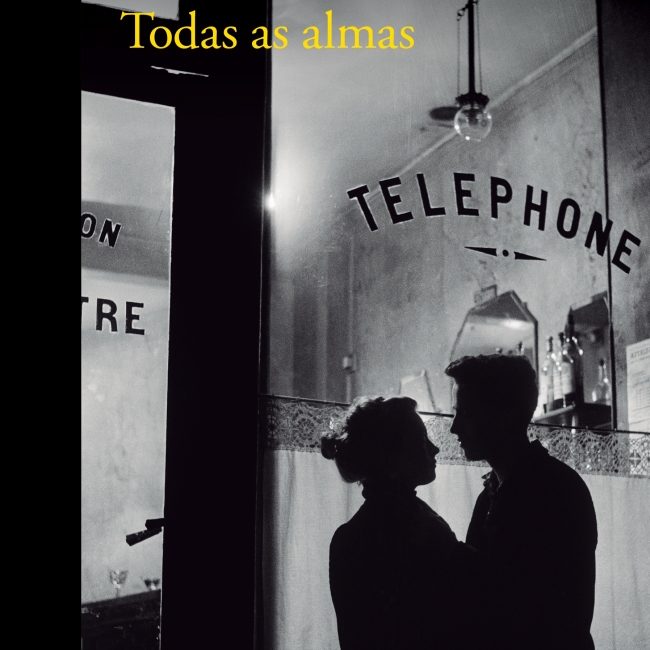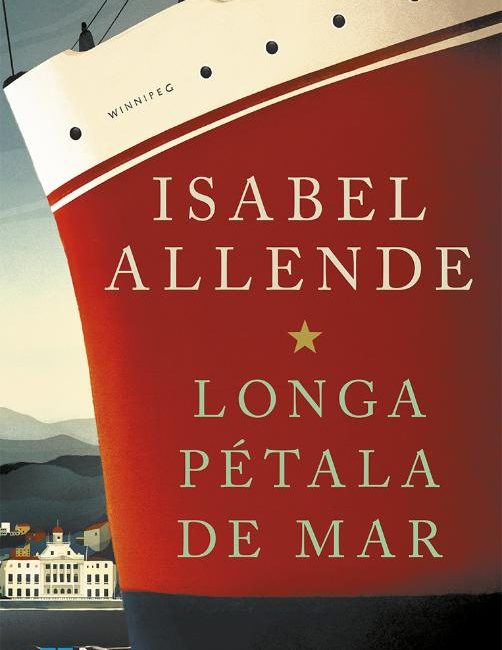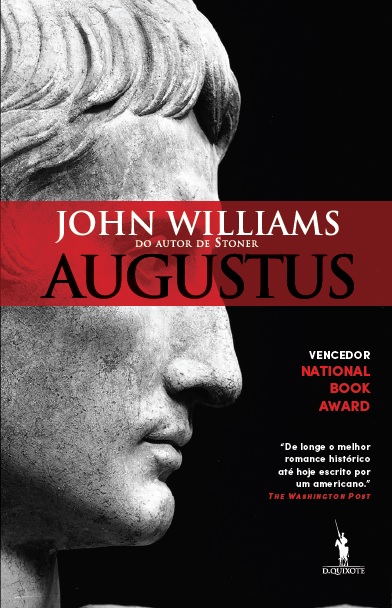Todas as Almas, de Javier Marías, o mais recente livro de um dos mais destacados escritores espanhóis da actualidade, cuja obra tem vindo a ser publicada pela Alfaguara, é um canto melancólico de amor, de solidão, da sensação de ser estrangeiro.
O narrador sem nome, por vezes apelidado de «o espanhol», é professor de Tradução na universidade de Oxford e, dois anos depois, casado e pai de um menino, descreve-nos os dois anos que lá viveu, à semelhança do autor – pois aqui funde-se, ainda que apenas ligeiramente, autobiografia e ficção. Além de que mesmo enquanto divaga e relembra, a própria memória do narrador parece iludi-lo, como quando descreve um possível reencontro com uma jovem: «acho que me cruzei», «apercebi-me de que era ela – ou julguei aperceber-me», «não tenho a certeza se era ela» (p. 124).
Ainda que este romance evoque o ambiente de campus de outros romances académicos, onde se retratam figuras académicas com os seus tiques e idiossincrasias, Marías pinta um cenário onde todas as almas se cruzam e desencontram, como acontece, por exemplo, com a jovem da estação de comboio de Didcot, onde todos os encontros se revestem de uma aura de mistérios, pois em Inglaterra os desconhecidos não falam entre si. O narrador é um dos solteiros que predominam em Oxford, «outro perpetuador da velha tradição secular clerical daquele lugar imutável e inóspito e conservado em calda» (p. 156), e vive uma relação fugaz com Clare Bayes (uma das poucas mulheres professoras na universidade), medida a toques de sino e despertadores, por vezes uma «turbulenta e rápida meia hora entre duas aulas» (p. 97), nem sequer o suficiente para se despirem.
Esta não é uma história de amor, mas de desejo e solidão, pois este estrangeiro vive mais intensamente a lembrança e a expectativa de um encontro fugaz com a sua amante do que a relação amorosa que estabeleceu com ela. Um amante é sobretudo um ouvinte da nossa história, o reconhecimento de um eu num tu, contudo «os amantes são parcimoniosos, voluntariosos e entusiasmados, mas não durante muito tempo, e é assim que deve ser. Essa é a vossa função e também a vossa graça. (…) A nossa missão não é durarmos muito, não persistirmos, não permanecermos, porque se durarmos um pouco mais do que é suposto então lá se vai a graça e começam os sofrimentos e acontecem tragédias.» (p. 188) Ver artigo
À Mesa com os Filósofos é um fascinante tratado de Normand Baillargeon, filósofo canadiano, sobre a aparentemente improvável relação entre a comida e a filosofia, publicado pela Temas e Debates.
Na Grécia Antiga, um banquete ou simpósio reunia amigos para uma «reunião de bebedores», onde o mestre de cerimónias, além das libações, assegurava o encadeamento das conversas. Para o demonstrar, o autor serve-se de um diálogo platónico, em que Platão (428 a.C.) convive com Kant (1724), Khayyãm (1048), poeta persa apreciador de vinho, e Veblen (1857), economista e sociólogo americano. Menos de mil anos mais tarde, Tomás de Aquino disserta sobre a gula como pecado capital, num ambiente monástico em que à mesa não se fala e se faz do jejum um acto virtuoso. Kant, mais tarde, advoga que não se pode celebrar a cozinha como uma experiência estética, pois depende do gosto subjectivo de cada um, enquanto Brillat-Savarin explana que apesar de o prazer de comer satisfazer uma necessidade básica existe uma arte de comer e de degustar. Afinal, «o prazer da mesa é convivial e, como qualquer experiência estética, convida à partilha, à troca e à conversa, nomeadamente sobre os méritos dos pratos» (p. 203).
Este livro, que se pode degustar como um vinho leve, vai encorpando até se tornar adstringente, pois o que começa como uma evocação dos primórdios clássicos da filosofia, em que a comida e especialmente o vinho tiveram um papel central, rapidamente se actualiza numa arguta reflexão sobre a sociedade de hoje… dominada pela ilusória noção de que a enologia é uma ciência, quando as suas conclusões são subjectivas e manipuláveis; em que os supermercados estão concebidos para incitar a comprar tudo aquilo de que não precisamos ou nos é nocivo, pelo que se recomenda ao leitor exercitar o cepticismo e o estoicismo nas compras; em que proliferam programas de culinária e concursos a chef que advogam a cozinha como arte; onde as redes sociais inundadas por fotos de comida disputam protagonismo com corpos secos, cujo músculo, nos homens, ou magreza, nas mulheres, raiam a anorexia atlética; por discussões em torno dos benefícios de ser vegetariano ou vegan; por artigos que se contradizem em torno das propriedades milagrosas ou dietéticas de tal alimento; quais as vantagens e consequências de numa lógica económica se optar entre o locavorismo ou o libertarismo, ou seja, comprar produtos locais e da época num mercado local ou recorrer ao hipermercado onde as estações do ano se suspendem e o mundo inteiro está ao alcance da nossa barriga? Ver artigo
Um pequeno e poderoso romance de Martin Amis, cuja obra é publicada pela Quetzal, onde explora o potencial negro do policial. Bastante diferente dos seus outros romances, pode não agradar aos seus habituais leitores. Este romance nada tem de ligeiro nem de gratuito, caso se queira julgar esta narrativa como a singela tentativa de incorrer num género popular. A narrativa pode até seguir a receita clássica das histórias de detectives, mas com deturpações subtis e pistas que apontam para a tragédia de um buraco negro de uma existência, à semelhança das noites insones de Mike. O título do livro parte de uma música referida duas vezes, um blues, também usado como metáfora: «O suicídio é o comboio da noite, a correr para as trevas. Por meios naturais, não se chega lá tão depressa.» (p. 77)
Mike Hoolihan é uma mulher detective que se move num mundo quase exclusivamente masculino, e que parece ela própria um homem, sendo confundida como tal mais que uma vez. O seu nome é masculino, a sua aparência é masculina, a sua admiração pela beleza de Jennifer é quase homoerótica, e até as suas relações sentimentais são pautadas por extrema violência, como se tentasse provar a sua superioridade física em relação aos parceiros. Os seus próprios métodos de interrogamento são muito pouco convencionais, como acontece em diversos momentos do romance.
Ainda que de início o autor pareça fomentar no leitor um distanciamento crítico face à narrativa, como acontece em geral nas suas obras, e até mesmo uma antipatia pela protagonista, rapidamente sentimos que a nossa perspectiva é toldada pela da mulher polícia face ao crime com que se depara, ao que acresce que Mike conhecia bem a vítima, filha do seu superior e mentor. E gradualmente sentiremos empatia por Mike, ao mesmo tempo que ela própria, num curioso reverso do homicida que pretende identificar-se com as suas vítimas ou criar uma afinidade forçada, dá por si a querer vestir a pele da vítima, ao ponto de começar a desenvolver sentimentos pelo seu namorado e a derramar lágrimas pela vítima.
Ao lutar pela sobriedade e lucidez num mundo negro, pautado por insónias provocadas ou prenunciadas pela passagem do comboio da noite às 4h da madrugada, Mike vê-se primeiro impelida pelo pai de Jennifer, seu antigo chefe, e depois compelida pelo mistério da morte dessa jovem que tinha tudo para ser feliz e aparentava estar sempre radiante. Homicídio ou suicídio pouco encenado? Como é que uma suicida pode ter 3 balas alojadas no cérebro, sobrevivendo ao primeiro auto-disparo da arma que segurava? O que pode levar uma jovem muito bela, de silhueta perfeita, recatada, e inteligente ao ponto de sondar os mistérios do universo, a decidir pôr termo à vida? Ver artigo
O Amante Japonês era já um prenúncio do retorno aos grandes romances desta autora chilena, dos que nos puxam de súbito para dentro da sua escrita fluída, onde vigora um universo meio histórico meio intemporal povoado por personagens carismáticas de paixões intensas. Longa Pétala de Mar é um poderoso romance que resgata a inventiva e original voz de Isabel Allende, a sua ironia e humor muito próprios, e um sentido da vida que daria para escrever alguns livros motivacionais, sem cair jamais no delicodoce daquilo que se pode entender como chic literature. Este livro foi lançado primeiro pelo Círculo de Leitores (numa edição de capa dura), com a revista distribuída aos sócios em Outubro, e depois publicado pela Porto Editora.
Mesmo com livros anteriores da autora, bastante sofríveis (O Jogo de Ripper), em que a história se arrasta sem qualquer chama, ler Isabel Allende sempre foi um dos meus prazeres íntimos. E Depois das várias tentativas mais ou menos bem sucedidas de romance histórico em que a autora tem intentado, a história deste livro está perfeitamente doseada entre o encanto mágico das primeiras obras da autora e um contexto histórico concreto, no caso a Guerra Civil de Espanha, sob a sombra do regime de Franco e a iminência da Segunda Guerra, que servem apenas de intróito ao verdadeiro tema a tratar.
Em 1938, encontramos Victor Dalmau, um jovem estudante de medicina que dá por si incorporado na frente de combate como auxiliar de medicina; Roser Bruguera, uma jovem humilde que de pastora de cabras se converte numa pianista exímia; Ofelia, uma jovem chilena de boas famílias com casamento arranjado; Pablo Neruda, um poeta que ousa fretar um navio onde embarca mais de dois mil espanhóis rumo a Valparaíso, em fuga a uma Espanha em ruínas.
Allende aposta em diversas frentes para conseguir, capítulos depois, entretecer de forma exímia todas as histórias, sem que o fio da narrativa e a sua prosa torrentosa se quebre, envolvendo plenamente o leitor, sem lhe dar tempo para sequer pensar em parar.
Enquanto o Velho Mundo mergulha numa confusão sem precedentes, e a Espanha se dilacera numa guerra durante novecentos e oitenta e oito dias e que culmina com o reconhecimento da legitimidade do governo de Franco, o Chile surge como «um paraíso atrasado e distante» (p. 100) onde os espanhóis procuram uma segunda oportunidade.
Temos, desde as primeiras linhas, frases que demarcam o estilo próprio de Allende, como «Era uma enfermeira suiça de vinte e quatro anos, com um rosto de virgem renascentista e a coragem de um guerreiro empedernido.» (p. 18). Também bastante recorrente na escrita de Allende é a forma como muitas vezes o seu romance antecipa o futuro: «- Nem morta te direi – e essa seria a única resposta que sairia da sua boca durante os cinquenta anos seguintes.» (p. 203)
O maravilhoso ainda dá algumas mostras de vida, recuperando a figura mítica do fantasma, que tão bem define o próprio realismo mágico latino-americano, como símbolo de fusão entre o real e o irreal: «Não havia memória de ter jamais habitado uma criança naquela sombria mansão de pedra, por onde deambulavam gatos semisselvagens e uma prole de fantasmas de outras épocas.» (p. 31) Ou no exagero que acentua o horror da guerra: «Tanto sangue corria que, no ano seguinte, os camponeses trejuravam que as cebolas eram vermelhas e que por vezes se encontravam dentes humanos no interior das batatas.» (p. 58)
Mas o mágico é uma corrente de escrita definitivamente preterida pela autora, sem que isso quebre o encanto da leitura. E a páginas tantas podemos até encontrar uma breve, indirecta, referência a Clara: «- É uma mulher muito extravagante. Dizem que fala com os mortos!» (p. 95). Clara, claríssima, clarividente… Uma personagem que de tal forma me apaixonou em A Casa dos Espíritos que, mais de 20 anos depois, fiz questão de baptizar a minha sobrinha com esse nome (por sorte, não foi preciso convencer muito os pais).
Se em A Casa dos Espíritos, onde também encontrávamos Salvador Allende (o Presidente) e Pablo Neruda (o Poeta) como personagens de ficção, o mágico concentrado em torno dos dons de Clara vai recuando, conforme a política se impõe, num regime ditatorial de terror, em Longa Pétala de Mar (título retirado a um poema de Neruda) o caminho é inverso, transpondo o umbral entre um mundo que soçobra, onde não faltam alusões aos horrores de Guernica e à batalha do Ebro, e um paraíso a descobrir, num Chile sinuoso e remoto, onde as paixões são violentas e os temperamentos são bruscos mas honestos e leais. Ver artigo
Há livros que inexplicavelmente nos atraem, ou pela capa ou pela ressonância do título. O Evangelho das Enguias, de Patrik Svensson, publicado pela Objectiva, combina o simbolismo da capa com o misticismo do título, onde conflui ainda o próprio mistério que aqui se narra, sobre um animal que se tornou, em si, uma metáfora. Tal como este tratado sobre a vida da enguia, com mais perguntas do que respostas, é também um tratado sobre a vida humana.
Em capítulos onde a história pessoal do autor, nomeadamente os momentos da sua infância em que o pai o ensinava a pescar enguias, com a própria história da enguia, de Aristóteles a Freud, com especial destaque para Johannes Schmidt, um biólogo marinho que seguiu o percurso migratório das enguias até ao Mar dos Sargaços, a narrativa serpenteia num crescendo subtil, cruzando as mais diversas áreas: da sexualidade à filosofia, da economia à culinária, da religião à ciência, e da literatura ao ambientalismo.
Da mesma forma que se esquiva, escorregadia, quando a procuramos agarrar, a enguia permanece ainda hoje, depois de séculos de observação e especulação, um mistério. Na zoologia, aliás, costuma designar-se algo insondável como «a questão da enguia». Sabe-se que faz uma longa viagem desde o Mar dos Sargaços e que a ele regressa para se reproduzir, mas não se sabe como se orienta ou como percorre 7 a 8 mil quilómetros em poucos meses, nem nunca alguém observou a sua reprodução. Hermafrodita, quando finalmente se descobriu os órgãos reprodutivos numa enguia a questão da sua reprodução tornou-se o centro do interesse científico do Iluminismo. O próprio Freud viveu dias a observar e dissecar enguias, mas foi incapaz de descobrir o seu sexo, o que pode muito bem explicar a sua desistência das ciências naturais e a sua crescente obsessão pela sexualidade do ser humano. A enguia passa por diversas metamorfoses, e prefere as águas mais profundas, vivendo pacientemente na escuridão, diz-se até que mais de cem anos, e morre provavelmente assim que se reproduz. Permanece viva a saracotear-se mesmo sem cabeça, anda no mar e na terra, e parece capaz de ressuscitar, mas recusa-se a viver em cativeiro. A sua carne tem um sabor gorduroso e «ligeiramente selvagem» capaz de deixar o narrador nauseado – e muitos de nós, eu inclusive – mas é um pilar da culinária sueca, onde se celebra até a festa da enguia tradicional, e de outros países, além de um dos alimentos mais procurados na cozinha japonesa. Uma comida caseira simples que movia a classe trabalhadora, rica em proteína e mais barata do que a carne, era procurada pelos pobres e desprezada pelos ricos. A pesca da enguia na costa sueca é uma tradição que persiste desde a Idade Média, cujo segredo é transmitido oralmente, e se tornou em património cultural. Como uma pescadinha de rabo na boca, à medida que a sua extinção parece iminente, o interesse científico pela enguia aumenta, podendo implicar a proibição total da sua pesca na Europa, o que significa, por arrastamento, que se perde parte da cultura de uma comunidade. E o mistério que sempre envolveu a enguia pode agora implicar o desaparecimento da espécie, porque tal como a sexta extinção é provocada pelo ser humano, é apenas ele quem pode encontrar respostas, se a conseguir atrair do oculto em que se esconde.
Patrik Svensson nasceu em 1972 na Suécia e é jornalista de artes e cultura no jornal Sydsvenskan. Escreveu este seu primeiro livro como uma homenagem ao pai e a um dos animais mais enigmáticos do mundo. Ver artigo
Depois de O Nervo Ótico, o seu romance de estreia, a Dom Quixote publica agora Hotel Melancólico, de María Gainza, onde, à semelhança da obra anterior, esta autora argentina faz luz sobre a memória e a recriação fictícia da memória, a ficção e a realidade, com a arte e a literatura como ponto de referência.
A narradora que dá entrada no Hotel Étoile foi em tempos uma crítica de arte com carreira e prestígio e conta-nos como, aos 25 anos, começou a trabalhar com uma avaliadora de obras de arte. Enriqueta, com o seu «olho de falcão», rapidamente a perfilha, ensinando-lhe tudo o que sabe sobre falsificações e transmitindo-lhe histórias da sua própria vida como a do Hotel Melancólico, onde viviam artistas que copiavam quadros para ganhar a vida, em particular a Negra, que mais do que copiar “pinta à maneira dos artistas”, e se torna a figura central deste romance, o ponto de fuga onde converge a própria história da narradora.
O título original do romance é La Luz Negra, o que aliás ilumina melhor a arquitectura da narrativa, quando começamos a conhecer Enriqueta, «rejeitava completamente qualquer avanço tecnológico em matéria de autenticação de uma obra, confiando apenas numa lanterna que emitia uma ténue radiação azul e lhe cabia na palma da mão – «a luz negra», como lhe chamavam no meio forense.» (p. 15)
Como símbolos secretos num quadro, esta narrativa é pontuada por diversos pormenores, como a personagem esquiva de Negra, a luz negra que revela o oculto nas várias camadas de um artefacto, o ensino da arte que fomenta a cópia como imitação do passado, a falsificação de uma obra de arte poder ser superior a um original, a vida assente numa história bem contada que passa por verdade, as lacunas de uma biografia como espaços negros que enriquecem a narrativa dessa vida, a palavra «negra» designar em espanhol um «escritor fantasma», a memória como uma Negra…
«Há quem acredite que a memória é um telescópio capaz de captar o passado com a mesma precisão com que o Hubble captou os Pilares da Criação; exige apenas um esforço sustentado de concentração e vontade. A memória deve ter um bom assessor de imprensa porque na realidade, como instrumento de precisão ótica, me parece pouco mais do que um caleidoscópio de feira. Reconstruir uma experiência através de imagens armazenadas no nosso cérebro é um ato que, por vezes, confina com a alucinação.» (p. 100)
Jonah Lehrer fala justamente de como a memória se reinventa e pinta um quadro no seu ensaio Proust era um neurocientista – Como a arte antecipa a ciência.
O humor que aqui perpassa é, também ele, negro, à semelhança do sorriso torto e enviesado da protagonista, tal como a própria voz narrativa é irreverente e original, num registo que anda entre a ficção e o ensaio, com laivos de subtil perspicácia sobre a vida e a arte, e de como a arte se reflecte na vida (e não o inverso): «havia dias em que, se o céu ao entardecer fosse límpido, uma rara combinação de radiação solar, poluição e anúncios de néon banhava todo o espaço à nossa volta de uma luz cor de maçã assada, a mesma dos quadros do pré-rafaelita Burne-Jones.» (p. 17) Ver artigo
(não, não é um livro…) Depois de um silêncio considerável, particularmente com a morte do marido em 2016, e de andar nas bocas do mundo, pela sua acentuada magreza, esta Fénix reergue-se das cinzas. As baladas a que já nos habituou alternam com músicas mais experimentalistas (mas nem por isso muito convincentes) onde adopta estilos para audiências mais jovens.
Lying down, por exemplo, uma das músicas mais sonantes do álbum, tem mais de Sia ou David Guetta do que de Celine. O luto alterna assim com músicas de discoteca… Este álbum surge como uma espécie de compósito, em que as suas incursões em novos estilos, aliadas a uma voz mais grave, mas sempre potente e vibrante, quase a tornam irreconhecível. Mas para quem a segue há mais de 20 anos, em inglês e em francês, Celine é sempre um regresso a casa. Ver artigo
John Williams, tendo vivido entre 1922 e 1994, foi professor de língua inglesa e de escrita criativa durante 30 anos na Universidade de Denver. Escreveu 4 romances, dois deles já publicados pela Dom Quixote e apresentados aqui (Stoner e Butcher’s Crossing), e Nothing But the Night (1948), o seu romance de estreia, ainda por traduzir. Augustus foi o seu último romance (sem contar com o seu quinto trabalho que ficou inacabado) e o único que lhe trouxe notoriedade em vida: vencedor do National Book Award; considerado a sua obra-prima; possivelmente o melhor romance histórico escrito por um autor norte-americano. Enquanto que em Stoner e Butcher’s Crossing, John Williams escreve sobre realidades mais próximas – não será por acaso que ambos os protagonistas destes romances têm William no nome –, o autor muda aqui completamente a trajectória da sua temática e debruça-se sobre o primeiro imperador de Roma e que deu origem a uma era augusta e à Pax Romana.
Ano de 44 a.C., nos idos de Março. Uma tarde de sol brilhante, quente. Um emissário de Roma traz a notícia do assassinato de Júlio César. Este dia fatídico, em que Octávio, o sobrinho frágil e enfermiço de César, abandona em definitivo a sua juventude e inocência aos 19 anos, é narrado no diário de um seu amigo.
A história do império de Augustus é contada em fragmentos, de modo polifónico, como quem junta dezenas de tesselas, as pequenas peças cúbicas que formam um mosaico. Entretecendo cartas, biografias, memórias, apontamentos de diários, ou até éditos de personagens como Marco António, Cleópatra, Cícero ou Estrabão, e onde se evocam ainda outros como Virgílio, Ovídio e Horácio, o herdeiro contestado de César é sempre perspectivado pelos outros, os seus poucos amigos e os muitos inimigos: «Peço-vos que fiqueis ciente de que compreendo a dificuldade da vossa tarefa no governo desta extraordinária nação que amo e odeio, e deste extraordinário Império que me horroriza e me enche de orgulho. Sei, melhor do que a maioria, até que ponto trocastes a vossa felicidade pela sobrevivência do nosso país; e sei do desprezo que tendes pelo poder que vos foi imposto – só alguém com desprezo pelo poder poderia tê-lo usado tão bem.» (p. 242)
O romance dá conta da ascensão de Octávio a Primeiro Homem de Roma e da sua transformação em Augustus, o mais formidável imperador de Roma, com a sua fria eficácia e que tentou mesmo legislar contra as paixões do coração humano por serem perturbadoras da ordem (p. 243). Com a mesma surpresa crescente com que os seus inimigos o conheceram (e dão por eles a admirá-lo e a respeitá-lo), o leitor assiste à criação do mito, conforme constata igualmente que até um imperador pode ser um mero peão face aos caprichos do devir histórico. E ao mito segue-se, a caminho do fim, o retirar da máscara, conforme o imperador se torna novamente homem, quando nas últimas (quase) 40 páginas ganha a sua própria voz.
Um dos aspectos mais curiosos do romance, onde predominarão gradualmente excertos do seu diário, escrito em 4 d.C., consiste no destaque conferido a Júlia, filha do Imperador Octávio César que, ao contrário do pai, parece inebriar-se com o poder que Roma lhe atribui, quando aos 27 anos, grávida do quinto filho, duas vezes viúva, se auto-intitula de deusa e segunda mulher de Roma. Ver artigo
A Civilização do Peixe-Vermelho – Como peixes vermelhos presos aos ecrãs dos nossos smartphones, de Bruno Patino, publicado pela Gradiva, é um breve tratado sobre o mercado da atenção que se lê no equivalente a duas horas de deriva pelas redes sociais. Da autoria do director do canal Arte France e da escola de jornalismo do Instituto de Estudos Políticos de Paris, condensa em 117 páginas alguns dados assustadores que nos ajudam a tomar consciência da nossa relação com os smartphones. Os peixes que em criança colocávamos num aquário têm uma curta memória, cuja atenção dura 8 segundos. Depois disso, o seu «universo mental reinicia-se» e a repetição transforma-se em novidade. No caso do homem, o attention span resume-se a 9 segundos.
«Vivemos no mundo dos drogados da conexão estroboscópica.» (p. 14)
Estima-se que 30 minutos é o tempo máximo adequado de exposição às redes sociais, e à Internet em geral, sem que a nossa saúde mental fique comprometida.
«O nosso inferno diário somos nós mesmos. Sem descanso possível, repletos de dopamina, mantemo-nos constantemente despertos.» (p. 30)
A Universidade de Oxford tentou fazer um cálculo entre o tempo livre disponível para cada indíviduo e o acesso à informação, cultura e entretenimento, mas a oferta é hoje infinita. E contudo, com um sentimento crescente de culpa, conforme sentimos o tempo a esvair-se, numa era em que temos tudo para ganhar mais tempo de vida e mais tempo na vida, o nosso cérebro funciona num círculo vicioso, enquanto passamos em revista todas as notificações do nosso telefone, quase sempre assim que acordamos: «De dois em dois minutos, 30 vezes por hora de vigília, uma vez a cada três horas de sono, 542 vezes por dia, 198 mil vezes por ano» (p. 18). Nos Estados Unidos, um jovem passa 5 horas e meia ligado a algum dispositivo digital e mais de 8 horas frente a um ecrã de computador; 22 % dos jovens (entre os 22 e os 30 anos) não têm qualquer actividade académica ou profissional.
«A vertigem provocada pela nossa separação das ferramentas conectadas e respectivas aplicações é um objecto de laboratório, tal como a necessidade compulsiva de responder às solicitações digitais que nos invadem os ecrãs.» (p. 24)
Vivemos numa era de reflexos e condicionamentos, em que o nosso tempo e os nossos dados são espiados, controlados e manipulados pelos GAFAM (os gigantes da Web: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Se renunciarmos durante algum tempo ao Facebook, este automaticamente lança um alerta de que há já algum tempo que não publicamos nada e os nossos amigos querem saber de nós… Se bem que, pelo menos no caso do iphone, já somos notificados todos os domingos, mediante um relatório semanal, da média de horas que dispendemos nas redes sociais durante essa semana. Se assistimos a uma série na Netflix, nem sequer precisamos de decidir se veremos um episódio mais, pois esta plataforma automaticamente passa ao capítulo seguinte, deixando-nos num transe de dependência e de «frustração associada à visualização incompleta» (p. 29). Quando uma criança é confrontada desde tenra idade com estímulos visuais e auditivos (como quando lhes colocamos um ecrã em frente para que ela se silencie a ver os desenhos animados enquanto come), instalar-se-á depois uma «fadiga decisória» e «abandona a luta contra o prazer imediato originada pela reacção a um estímulo eléctrico» (p. 27), por isso é perfeitamente natural que nos anos vindouros não pegue num livro…
«Dependência dos ecrãs, extremismo do debate público, polarização do espaço público, reflexos que se sobrepõem à reflexão, a ágora transformada em arena: assim é a nossa época. É o melhor e o pior dos tempos.» (p. 38) Ver artigo
Ao entrarmos nas primeiras páginas de Milkman, de Anna Burns, publicado pela Porto Editora, deparamo-nos com alguma dificuldade, um certo estranhamento face a uma escrita torrentosa, feita de frases distendidas, num registo muito próximo da oralidade, onde as palavras se repetem em eco, num mundo onde nada é mencionado pelo nome, nem mesmo a protagonista e as irmãs e cunhados.
A irmã do meio tem dezoito anos e vive numa cidade, num país, onde a violência explodia à mínima coisa, onde apesar de haver tiroteios, bombas, protestos, confrontos, esta jovem gosta de caminhar enquanto lê, e sempre um romance do século XIX.
E, subitamente, somos agarrados por uma frase como esta, que pode definir toda a narrativa, e é igualmente tão próxima da nossa própria realidade (considerando alguns dos mais recentes eventos no país):
«Ele acabava de trazer à conversa a questão da bandeira, a questão das bandeiras e dos símbolos, que era instintiva e emocional porque as bandeiras se inventaram para serem instintivas e emocionais (amiúde patológica e narcisicamente emocionais), ele estava a referir-se à bandeira do país «do outro lado do canal», que era também a bandeira da comunidade «da ponta de lá da estrada». E essa não era uma bandeira que a nossa comunidade acolhesse de braços abertos. Não era uma bandeira que a nossa comunidade acolhesse de todo.» (p. 33)
A voz deste romance é tão original que nos custa a entrar mas, conforme nos apercebemos de que a narradora estabelece um longo solilóquio com o leitor, onde as mais variadas questões da actualidade são tratadas com ironia e ambiguidade, rapidamente nos leva na sua corrente, na sua prosa-palco de uma dialéctica, de natureza alegórica, de um país sem nome que existe por oposição ao que está “do outro lado” (e pode remeter para o conflito entre as duas Irlandas), numa comunidade fechada, onde o rumor e o boato impera, uma sociedade patriarcal onde o cunhado três é aliás conhecido por não regular bem, com aquela sua «atípica estima em que tinha tudo quanto se reportasse ao feminino» (p. 18).
Anna Burns nasceu em Belfast em 1962, vive em Inglaterra e este seu romance foi vencedor do Man Booker Prize 2018, National Book Critics Circle e Orwell para ficção política. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016