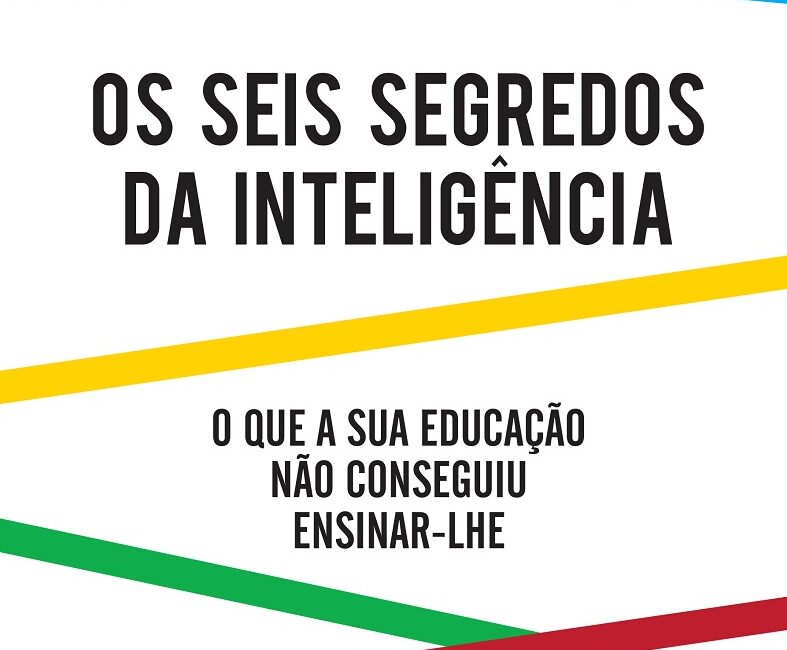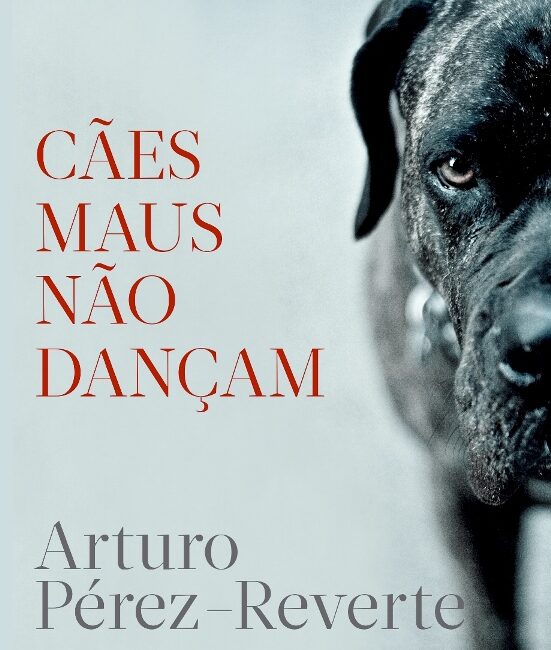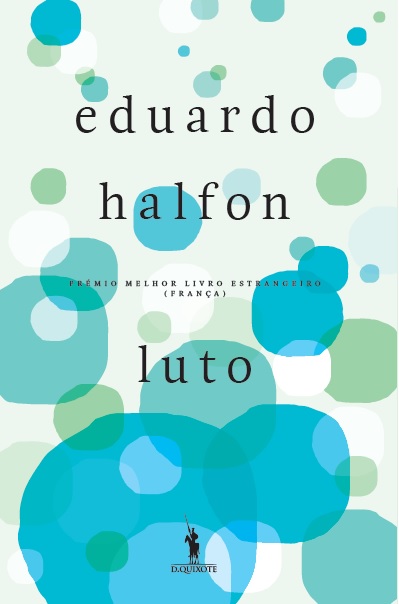Os Seis Segredos da Inteligência: o que a sua educação não conseguiu ensinar-lhe, de Craig Adams, agora publicado pela Temas e Debates, é um livro fundamental para qualquer pensador ou pedagogo. O autor parte da premissa controversa de que, quando se fala dos nossos tempos como a era da pós-verdade, o problema assenta sobretudo numa educação moderna que não nos ensina a pensar por nós próprios. Por conseguinte, a inteligência, ou a falta dela, isto é, a forma como pensamos, é o resultado daquilo que nos foi incutido, e tem como reflexo a aceitação passiva da desinformação, das fake news, dos debates polémicos e vazios nas redes sociais, em que são debitados argumentos tão ocos quanto veementes, das mentiras descaradas de um político nas suas declarações, ou das estatísticas apresentadas de forma tendenciosa (nestes últimos dois casos, o autor apresenta e desmonta exemplos concretos). Ver artigo