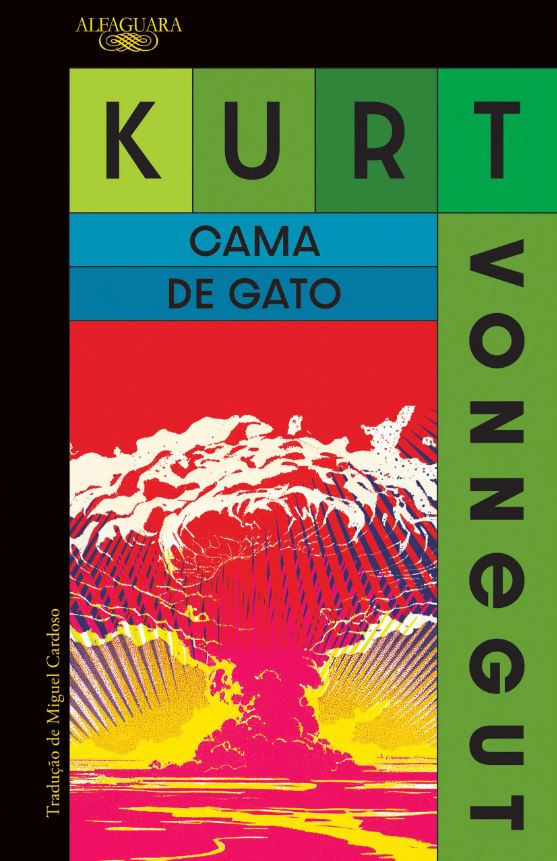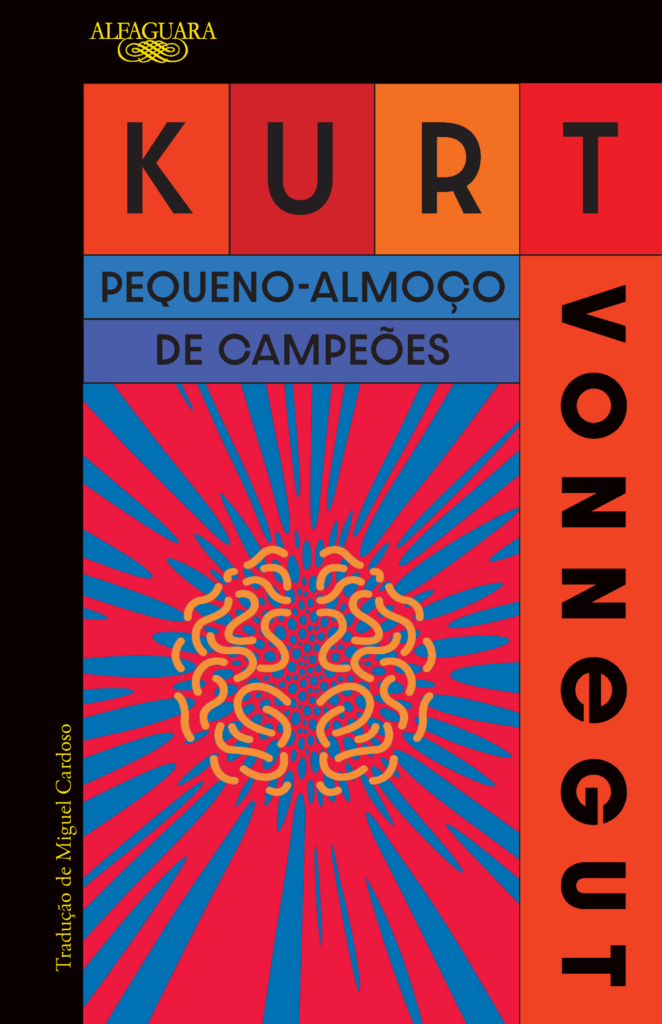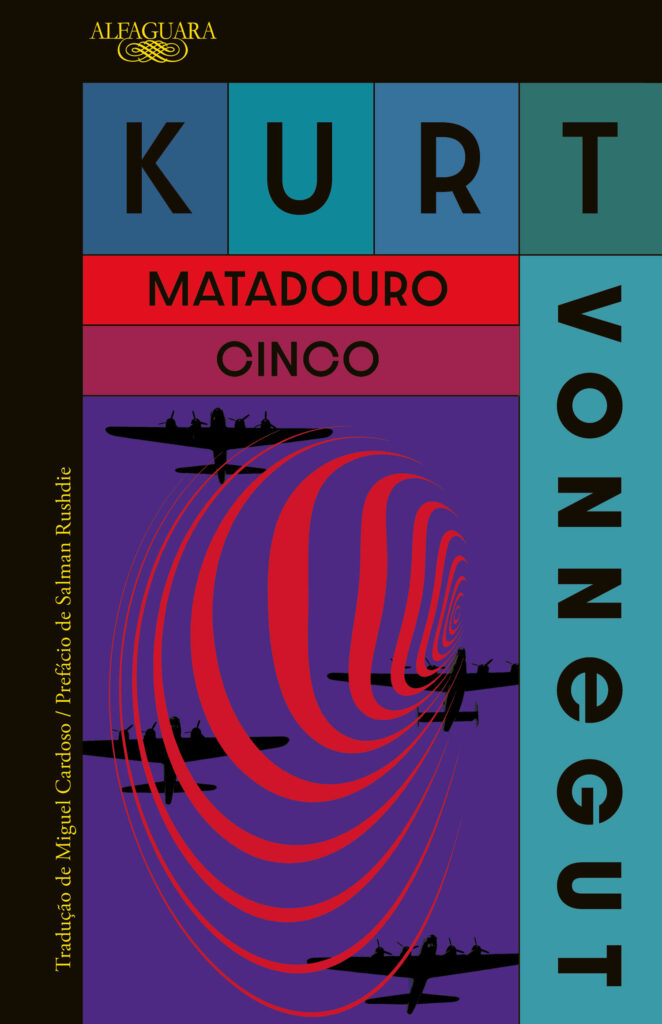Dois anos, oito meses e vinte e oito noites é o novo livro de Salman Rushdie e, sendo o primeiro livro que publica a seguir à sua autobiografia Joseph Anton, este livro parece constituir um agradável jogo literário em que o autor volta a incorrer na polémica de contestar as crenças e mitologias. Esta história inicia com o grande filósofo, Ibn Rushd, físico pessoal do califa na cidade de Córdova, no ano de 1195, que recebe em sua casa sem desconfiar uma criatura sobrenatural, Dunia, uma jinnia, isto é, um génio da tribo dos jinn femininos, e da união dos dois resultam três gravidezes em que Dunia dará à luz, de cada vez, uma multiplicidade de filhos, em que num único parto chegam a nascer sete crianças e noutro onze ou até mesmo, possivelmente, dezanove filhos. E é a essa estirpe, cujo traço distintivo comum é nascerem sem os lóbulos das orelhas, além de possuírem capacidades sobrenaturais, que Dunia irá recorrer nos tempos modernos para salvar o mundo quando a fronteira entre o mundo dos humanos e dos deuses ou de divindades em muito semelhantes a deuses.
Dois anos, oito meses e vinte e oito noites remete, feitas as devidas contas, para o número hiperbólico de mil e uma noites e, por conseguinte, para as histórias fabulosas de As Mil e Uma Noites. Apesar de se referir que o livro é inspirado nas tradicionais lendas fabulosas do Oriente, esta obra parece jogar muito mais com toda a cultura pós-moderna. De Andy Warhol a Gandalf, passando pelo Rato Mickey, Merlim, Morgana e a matéria da Bretanha, Mystique dos X-Men, as referências são imensas e contribuem para situar o livro, ainda que erroneamente, no campo da ficção fantástica ou mesmo ficção científica. Esta obra lembra que muitas vezes a nossa memória, mais do que uma súmula de vivências e experiências pessoais, é um conjunto colectivo de leituras, de cinema, programas televisivos, banda desenhada, etc., filtrado mais ao menos ao gosto e segundo as preferências de cada um. O livro está ainda imbuído do mesmo realismo mágico que permeou as primeiras obras de Salman Rushdie, se bem que, conforme, evoluímos na leitura, se afigure muito mais justo situar o livro como parte integrante de uma cultura pósmoderna em que impera o poder da imagem, com episódios que lembram cenas saídas de filmes de fim do mundo ou de séries televisivas sobre superheróis, como acontece no momento em que uma serpente gigante invade a cidade, acontecimento este que é devidamente registado por pelo menos sete telemóveis. Ou quando Zumurrud, o Grande, surge «no átrio do Lincoln Center a berrar Vocês são todos meus escravos, mas até mesmo naqueles tempos de histeria havia alguns inocentes que julgavam que ele estava a publicitar uma nova ópera no Met» ou quando voa até ao topo do One World Trade Center e solta um grito tremendo capaz de ensurdecer todos os transeuntes que, entretanto, menosprezam a cena, achando tratar-se de uma mera «manobra publicitária para promover uma nova versão de mau gosto do velho filme do gorila» (pág. 155). Ou quando se fala do espectáculo que Yasmeen, que não se chama realmente Yasmeen e tem cabelo cor de laranja, está a pensar desenvolver: espectáculo esse que «poderia (esperava ela) tornar-se também um livro, e (esperava realmente) um filme e (se tudo corresse mesmo, mesmo bem) um musical» (pág. 129).
Nesta obra de ficção assiste-se a um debate filosófico-teológico entre dois sábios, a partir da campa de cada um. Ghazali de Tus, autor persa de «A Incoerência dos Filósofos», ataca os gregos e a filosofia em geral, afirmando a sua incapacidade de provar a existência de Deus ou de provar a impossibilidade de haver mais do que um Deus, além de defender que o medo é essencial à religião para aproximar o homem pecador de Deus, enquanto o filósofo Ibn Rushd, em 1195, a uma «distância de cem anos e de mil milhas», publica um livro intitulado «A Incoerência da Incoerência», como forma de refutar as teorias de Ghazali e tentar conciliar as noções de razão, lógica e ciência, «palavras chocantes para os seus contemporâneos», com os conceitos de Deus, fé e Corão, o que resulta tão somente no facto de cair em desgraça e ver o seu livro ser queimado (pág. 21).
Rushdie constrói uma história que descola do extraordinário para entrar no reino do altamente improvável, com passagens cuja intenção metaficcional pode ser vista de forma bastante clara, onde o autor parece reflectir sobre a própria natureza da sua escrita: «Embora a normalidade da cidade tivesse sido perturbada, talvez para sempre, pela eclosão da grande guerra, a maior parte das pessoas não tinha conseguido compreendê-lo e continuava ainda perplexa com a irrupção do fantástico no quotidiano» (pág. 132, itálicos nossos). Recorde-se que a definição mais simples de realismo mágico é quando se dá a irrupção do fantástico no quotidiano mas, ao contrário da literatura fantástica, sem criar perplexidade nas personagens. Ressalve-se ainda que o realismo mágico foi muitas vezes considerado como histórias de tapetes voadores, objecto mágico saído das Mil e Uma Noites que também não falta a esta história (se bem que com um sistema de posicionamente que se avaria constantemente e por isso a sua passageira erra os andares a que pretendia dirigir-se). Outro exemplo em que se pode perceber como a ficção é posta em causa nesta obra dá-se quando Yasmeen divaga sobre o facto de todos nós estarmos presos em histórias: «O que eu estou a pensar é que todas estas histórias são ficções, dizia ela, mesmo as que insistem em serem factos, como quem estava onde primeiro e que Deus de quem teve precedência sobre os outros, é tudo a fazer de conta, fantasias, as fantasias realistas e as fantasias fantásticas são ambas inventadas, e a primeira coisa a saber sobre histórias inventadas é que são todas falsas da mesma maneira, Madame Bovary e as histórias zaragateiras de libánonima são ficcionais da mesma maneira que tapetes voadores e génios» (pág. 130). E apesar de já antes ter corrido perigo de vida, quando pôs em causa a religião do seu país, com Os Versículos Satânicos, Salman Rushdie volta a demonstrar isso mesmo, que não só todos nós vivemos presos dentro de histórias mesmo quando essas «ficções estão a matar-nos, mas se não tivéssemos essas ficções talvez isso também nos matasse» (pág. 130). Porque o realismo mágico também é isto, mostrar que todos vivemos imbuídos de crenças e mitologias talvez tão fantásticas como génios que vivem em lâmpadas mágicas.
Recordada a partir de um tempo distante no futuro, dez séculos depois (novamente o número mil) em que os factos desta história se encontram ainda registados em fotografia ou filme, conhecidos como a Guerra dos Mundos, esta narrativa pretende ilustrar a forma como teve início a «morte dos deuses» (pág. 293), em que a fé em crenças cegas é posta em causa, e livros como este serão vistos como relíquias ou como mitos fundadores ao nível da Odisseia ou da Bíblia.