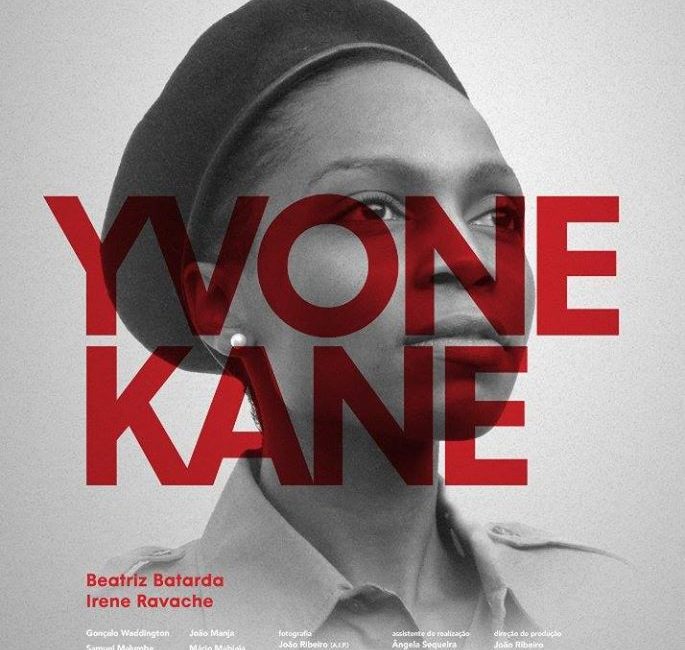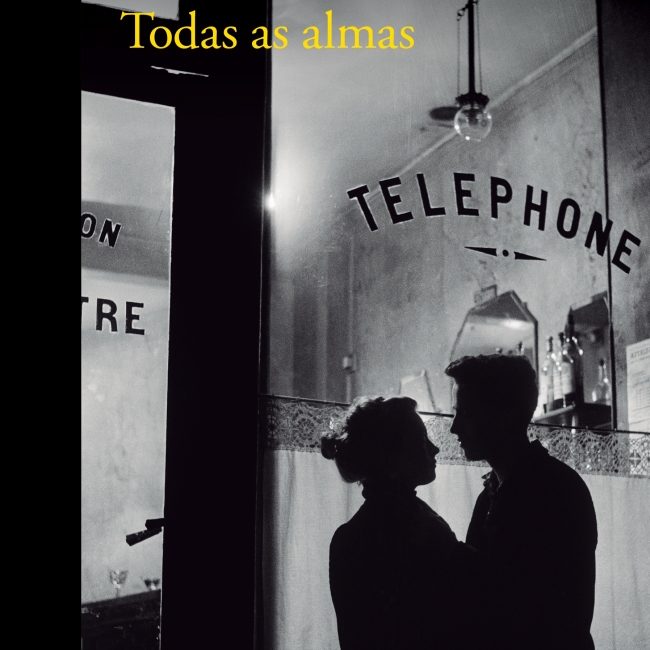Quando acabámos de ver o filme Yvone Kane, os meus alunos saíram com a sensação de que o filme de facto é baseado numa história verídica. Penso que é sempre assim, por muito avisados que estejamos de que aquele é o domínio do faz-de-conta, há sempre uma réstia de esperança de que a ficção explique a vida. Reforço a ideia de que é um óptimo filme e que, depois do poderoso A Costa dos Murmúrios, baseado claro no livro de Lídia Jorge, esta é outra história poderosa sobre África – Moçambique não é nomeado e o filme foi filmado em diversos locais – em que 3 mulheres se cruzam em tempos e histórias distintas. Não é tão claro assim que Rita (fabulosa Beatriz Batarda com aquela dor no olhar) tenha perdido a filha, mas é óbvio que procura uma parte de si, a sua identidade, ao querer remexer no passado.
É especialmente forte aquilo que Margarida Cardoso consegue fazer no filme – e que só resulta no cinema – que é a forma como a imagem, geralmente através do reflexo, está sempre presente, simbolizando a busca do eu. Muitas vezes vemos o reflexo da personagem ainda antes de a vermos a ela. Os reflexos no espelho estão muitas vezes presentes, no canto do ecrã, as imagens através da janela, a televisão ligada, os reflexos no vidro de uma montra, na água, etc., além das imagens das fotografias de arquivo, dos documentários,…
Mas há tanto a dizer: a presença dos brancos, muitas vezes indesejada; a confusão de línguas e pronúncias a marcar um território de povos diversos; mães que perdem filhos e mães que adoptam filhos perdidos por outras; o papel das mulheres como guerrilheiras na independência das ex-colónias.
A cena dos homens a atirar garrafas à piscina num acto estúpido de violência gratuita lembra o disparar dos dois militares sobre os flamingos em A Costa dos Murmúrios.
E, no fim, o acto de enterrar a piscina marca claramente o enterrar dos mortos e o enterrar do passado. Quem sabe, o fecho de um ciclo na obra da realizadora. Ver artigo
«Chamo-me Sofia. Tenho onze anos e meio, e quando for grande quero ser inútil.»
Esta frase supostamente inocente valeu a esta jovem uma risada geral da turma, a fúria da professora e um encontro com a Directora da escola e os pais na semana seguinte, além de um sermão do pai. Nesse intervalo de tempo, Sofia resolve pôr por palavras escritas o porquê de semelhante desejo. Esta é a história de como o ingénuo desejo de uma criança inocente pode parecer ofensivo aos adultos e de como estes precisam somente de colocar a sua vida em perspectiva através dos olhos e da chamada de atenção de uma criança. Escrito em frases curtas, como convém a uma criança, profundas, cheias de sabedoria e maravilhamento (note-se o nome da personagem, que vem do grego para «sabedoria»), o diário de Sofia conta-nos como a sua vida mudou quando os pais se mudam da cidade para uma pequena aldeia junto do mar, no fim do Sol-posto. Mas esta decisão não trouxe afinal nenhuma da tranquilidade prometida, pois o pai apesar de trabalhar a partir de casa, como profissional liberal, vive sob pressão e impõe essa lógica a uma criança que ganhou os céus infinitos e a praia. Por isso, o pai não lhe perdoa o seu desinteresse pela matemática, e ao gosto de Sofia pela arte contrapõe a necessidade de escolher uma profissão utilitarista num mundo regido pelo consumismo e o imediatismo: «O Papá ouviu a palavra Kandinsky e suspirou. Ouviu guitarra e suspirou. Ouviu minhocas e suspirou ainda mais. Os suspiros não eram os de um poeta diante de uma paisagem, eram de cansaço. Entendi que tinha sido convidada para um monólogo e não para um diálogo.» (p. 33)
As cativantes personagens com que Sofia e os amigos se deparam na praia, como o homem que reúne paus, uma bióloga que estuda estrelas-do-mar, os violinistas celtas, a velhinha que segue a luz nos seus quadros, são «boa gente, mas não servem para esta sociedade em que te calhou viver» (p. 69). E assim esta menina, com um olhar avisado onde a inocência e a ironia se conjugam, vai ensinar aos pais a redescobrirem como são as coisas inúteis que mais sentido fazem.
Este livrinho delicioso, da autoria de Alex Nogués, nascido em Barcelona em 1976, com ilustrações de Bea Enriquez e tradução de Maria João Moreno, é um dos primeiros títulos da colecção AKINARRA, da editora AKIARA, uma colecção de breves romances ilustrados, com capa dura, para meninos e meninas a partir dos 9 anos. Com sede em Barcelona, esta editora foi criada por Inês Castel-Branco, portuguesa que vive em Espanha há quase 20 anos, e voltaremos ainda a esta editora numa próxima semana. Ver artigo
Jonathan Coe nasceu em Birmingham, em 1961. Em 2004, foi nomeado Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras de França. O Coração de Inglaterra, agora publicado pela Porto Editora, regressa ao díptico Rotter’s Club (2001) e O Círculo Fechado (2004), onde, curiosamente, já se prenunciavam alguns dos temas aqui explorados, 18 a 15 anos antes, naquele que é considerado o primeiro romance pós-Brexit (a par de A Barata, de Ian McEwan, que apresentarei em breve). Iniciado em 2016, logo após o referendo que conduziu à retirada do Reino Unido da União Europeia, este livro é uma inteligente sátira, onde não falta humor, que não se aparta muito da realidade – apenas a disseca aos olhos de múltiplas personagens de diferentes gerações. Começa com o funeral da mãe de Benjamim, o que simboliza em si a morte de uma velha Inglaterra – não é mera coincidência que a música que Benjamim ouve nessa noite tenha por mote «Adeus, antiga Inglaterra». De entre as várias personagens do romance, destacar-se-á Benjamim, um escritor de meia-idade, cuja geração é a do autor, e que tal como ele é um escritor, embora o seu romance seja um projecto inacabado de há décadas e com uma envergadura intimidante…
A expressão que dá origem ao título original do romance, Middle England, é referida várias vezes. Primeiramente, como alusão à Terra Média de Tolkien, como se a Inglaterra do livro fosse uma realidade alternativa, quando está, afinal, muito próxima da realidade, explorando de forma irónica e acutilante diversos temas que ajudam a reconhecer a complexa trama social e política que resultou no Brexit: «- As pessoas da Inglaterra Média (…) votaram em David Cameron por não terem verdadeira escolha. A alternativa era impensável.» (p. 230) Em segundo lugar, a expressão Inglaterra Média designa as pessoas da classe média que tendem ao conservadorismo e vivem fora de Londres – um pouco como Benjamim que vive num moinho junto ao rio, um verdadeiro cenário idílico campestre –, ou seja os eleitores que, supõe-se, terão votado a favor do Brexit, pois constatou-se que em Londres a maioria votou contra.
O romance analisa, de forma audaz, a nova Inglaterra, politicamente correcta, onde a caçada à raposa é agora proibida, não tanto pela violência deste “desporto” mas por uma questão de luta de classes, e centra-se num país multicultural – ainda que personagens como Sohan e Aneeha sejam secundárias – onde até na literatura se reflecte como «o tempo do grande escritor britânico branco e de meia-idade acabou finalmente» (sim, Coe também cabe nesta categoria), pois agora há «mais mulheres, mais escritores negros, asiáticos e de outras minorias étnicas» (p. 237). Ver artigo
Começou de forma muito suave e com qualquer coisa de Hillary Clinton, quando o adultério do marido, figura pública, é notícia. Desde então ao longo de 7 temporadas, e numa luta constante de avanços e retrocessos, onde também perdeu muito, Alicia Florrick torna-se numa excelente advogada, quando antes era uma dona de casa que abdicou do seu trabalho e dos seus sonhos logo no início em nome da carreira ascendente do marido e dos dois filhos. No último episódio transmitido a série está de regresso em força, depois de claramente se ter arrastado num passo mais lento e sem tantos cliffhangers como nas temporadas anteriores. Apesar de constantes jogos verbais e diálogos e discussões que mais parecem o Falstaff com várias vozes em ponto e contraponto, uma das coisas mais fascinantes em The Good Wife é a forma como a essência reside no não dito. Como acontece em especial com Alicia. Muitas vezes sentimo-la como um autómato, uma mulher a lutar pela vida e por uma carreira e por uma família – pois nunca abandona o emplastro do marido que depois irá concorrer às presidenciais -, mas imbuída de um forte código de moral que não a torna disposta a tudo para ser bem sucedida. E é tão simplesmente pelo olhar que tentamos perceber o que se passa realmente naquela cabeça. Neste último episódio, onde o passado regressa em força de várias formas, a personagem finalmente rebenta em lágrimas – penso que pela primeira vez, depois de tudo o que lhe tem acontecido, nomeadamente a reputação do marido e a sua vida como tema de telejornal até ter perdido o amante numa das mortes mais inesperadas dos últimos anos de séries televisivas – pois isto não é propriamente o Game of Thrones onde morre sempre alguém a cada final de temporada. Aqui o jogo de cadeiras é outro e sempre bem conseguido com casos jurídicos que retratam bem os dilemas da América e que perspectivam claramente opiniões em conflito mas que são muitas vezes igualmente válidas. Finalmente também sentimos como Alicia Florrick se volta a aproximar de Agos e Lockhart, pois até agora o malabarismo para tentar conseguir juntar estas duas histórias paralelas tem sido cada vez menos bem sucedido. E depois de nos últimos episódios se ter comportado como uma adolescente amuada, com o facto de a perda que sofreu se ter agravado por uma revelação inesperada e que coloca tudo em causa, há um segundo beijo (e um terceiro), porque afinal Alicia também é uma mulher, não tão autómata ou perfeita como as Stepford Wives, ou a Bree de Desperate Housewives, que continua a procurar uma segunda oportunidade no amor. Esta será pelos vistos a última temporada de uma série que sabe não arrastar – ainda que ultimamente tenha andado a pé coxinho – mas parece que se avizinha um final em grande onde tudo encaixará no seu devido lugar. Ver artigo
Fecha-se hoje para mim o círculo iniciado em 2014 com a estreia da série The Affair.
Cheio de pistas sobre a sua própria trama, como o facto de o seu romance de maior sucesso se designar The Descent, esta série narra a história da ruína de um homem, um escritor já aclamado que se debate com o seu próximo romance, quando se envolve com uma empregada de mesa. Esse caso adúltero porá fim ao seu casamento do qual resultaram 4 filhos. No início da série, esta demarcou-se pela forma como explorava a mesma situação vista por perspectivas diferentes, a dele e a dela, mas depressa começou a evoluír para muito mais do que isso, explorando como dois casais diferentes, agora divididos em 4 individualidades, refazem as suas vidas: a emocional e as outras. A última temporada incorre mesmo num ousado salto – depois da morte de uma das protagonistas no final da temporada anterior – e aborda como a vivência de um trauma pode sobreviver nas gerações seguintes, e retratando, subtilmente, um mundo ele próprio em ruína, assim como uma história de amor que sobrevive às mais variadas peripécias, desde o affair à prisão de uma das personagens, num derradeiro sacrifício de amor, ao querer proteger a ex-mulher.
Este final de uma das minhas séries favoritas – e um dos finais mais bem conseguidos de sempre – consegue, num episódio tão extenso e completo quanto um filme, a proeza de juntar todas as pontas soltas, sem deixar nada por fechar. Maura Tierney tem uma interpretação fabulosa, assim como Ruth Wilson. A série venceu 3 Globos de Ouro, de Melhor Série e Melhores Interpretações. Ver artigo
Pablo d’Ors nasceu em Madrid em 1963, estudou teologia e filosofia, é escritor e sacerdote católico. Em 2014 fundou a Associação Amigos do Deserto e em 2015 foi nomeado para o Conselho Pontifício da Cultura pelo Papa Francisco. O Amigo do Deserto é a estreia do autor na Quetzal, numa belíssima edição de bolso em capa dura, que faz deste livro um companheiro ideal de viagem e de meditação.
Corre o leitor o risco de tomar o narrador pelo autor, mas a história de Pavel poderia até ser a do autor. Na linha de obras como Siddhartha, de Herman Hesse, ou de outras mais recentes, como As Oito Montanhas, de Paolo Cognetti, O Amigo do Deserto é um relato de um homem em busca de um destino que acaba por se revelar como o encontro consigo mesmo. Diz-se, aliás, na sabedoria tuaregue, que Deus criou o deserto para que os homens pudessem encontrar-se consigo mesmos.» (p. 56)
Embora a primeira parte do livro seja mais ficcionada, e um pouco mais frágil, a história desta demanda, que começa como uma excursão ao jeito do turismo de massas, tornar-se-á um tratado filosófico de como a vida por vezes nos puxa o tapete e um destino que primeiro se estranha depois se entranha. Pavel, um homem de trinta e dois anos, depara-se com um livro que o leva a querer ingressar na Associação dos Amigos do Deserto. Apesar de não se tratar de uma seita ou de uma ideologia partilhada por uma comunidade, Pavel descobre que até se ser aceite neste grupo há todo um processo, que passa, ainda assim, por deixar de lado muitas das certezas que o regem. Depois de uma viagem a Marrocos em que tudo corre mal, Pavel apenas deseja voltar a casa, até que, mais tarde, escuta o apelo do deserto, esse cenário místico cujo silêncio «único e inconfundível» permite que ressoe o essencial (p. 38), e vivencia «a coisa maior que uma viagem pode proporcionar ao viajante: o desejo de ficar, a necessidade de não voltar, o impulso – irresistível – de nascer de novo.» (p. 75). Ver artigo
Se não leu Manual para Mulheres de Limpeza ou Anoitecer no Paraíso, é possível que este livro lhe pareça incompleto, até porque é uma colação de fragmentos. Mas se conhece os contos desta autora nascida no Alasca em 1936 e que alcançou notoriedade 11 anos após a sua morte, com a publicação em 2015 dos seu contos escolhidos em Manual para Mulheres de Limpeza, vai gostar de devassar um pouco da intimidade desta autora, cuja vida, percebe-se aqui, serviu de cenário à sua escrita.
Na primeira parte, que dá nome ao livro, a autora rememora uma série de instantâneos da sua vida, ilustrados com fotos do álbum de família. São breves reminiscências das inúmeras moradas por onde passou, desde a casa onde viveu nos primeiros anos de vida, passando pela sua primeira memória, até à última frase incompleta de um manuscrito inacabado (em consequência da sua morte em 1965), em que relatava uma viagem pelo México com o marido e os filhos. A escrita é clara, contida, como quem põe em ordem o registo de uma vida, ocasionamente iluminada por passagens em que explana a sua paixão pela escrita, como quando visitava com o pai um velhote e colava nas paredes páginas de revistas, dispostas aleatoriamente, como um texto fragmentado que era preciso repôr para dele retirar sentido: «Creio que esta foi a minha primeira lição sobre literatura, sobre as infinitas possibilidades da criatividade.» (p. 31)
A segunda parte do livro consiste numa selecção de cartas – Berlin escrevia imensas –, numa escrita torrentosa, quase desconexa, até porque não se sabe ao que responde a autora, mas também muito autocentrada, pondo a nu uma vida turbulenta que parece nunca lhe pesar. A sua honestidade é desarmante, expondo sem comiseração o esboço de uma autobiografia possível, em que alude ao marido toxicodependente, ao seu alcoolismo, a uma das suas várias passagens pela prisão, depois de passar a infância e juventude em dezenas de casas diferentes, pois mudava constantemente de cidade e até de país, como quando viveu no Chile, e no México já em adulta. As próprias memórias que lhe ficaram, entre uma mãe que mal saía da cama e uma avó que também não era boa dona de casa, não são as mais luminosas: «A casa cheirava a enxofre, roupa suja húmida, cigarros, uísque, insecticida Flit, comida estragada. Não havia frigorífico, só uma geladeira que tinha sempre qualquer coisa podre lá dentro.» (p. 41)
Entre 1971 e 1994, Lucia Berlin trabalhou como professora, mulher de limpeza, telefonista e assistente médica, sem nunca parar de escrever, nomeadamente pelas noites dentro, sentada à mesa da cozinha, depois de deitar os seus 4 filhos. O poeta Edward Dorn, a quem dirige a maioria das suas cartas, foi uma forte influência na sua vida e escrita, e concedeu a Lucia a oportunidade de trabalhar como escritora convidada e depois como professora na unversidade, tendo-se tornado «extraordinariamente popular e acarinhada entre os alunos» (p. 193)
Nesta sua viagem, Lucia Berlin conviveu com inúmeros escritores e artistas, cuja identidade a tradutora Tânia Ganho teve o cuidado de elucidar em diversas notas explicativas que enriquecem o texto. A obra da autora está publicada pela Alfaguara. Ver artigo
Talvez devamos começar pelo jogo de ilusão patente na capa, pois ao título de Autobiografia segue-se a categorização de Romance, sobre um fundo de páginas em branco rasgadas. Não estamos portanto, pensa o leitor, no campo das biografias romanceadas. Talvez seja um daqueles romances em que se cruza a memória e vivência pessoal com a ficção? Mas depara-se o leitor, ao adentrar-se no romance, com uma epígrafe de Saramago em que se salvaguarda que «tudo é autobiografia» para depois, logo na primeira linha, encontrar a frase «Saramago escreveu a última frase do romance.» (p. 9) E, duas páginas depois, quando lemos que a campainha tocou, quem se levanta para abrir a porta é José. José Saramago, portanto, pensa o leitor, apenas para páginas adiante se aperceber que este José fala de um outro José (Saramago), que este José está a tentar escrever o seu segundo livro, e se sente partido em pedaços, enquanto o outro, Saramago, se sente completo, terminado de escrever o seu mais recente romance, intitulado Todos os Nomes, com um protagonista – de seu nome José… José, o deste livro, venceu ainda um prémio com o seu primeiro romance, à semelhança do autor, o verdadeiro, que ganhou o Prémio José Saramago (na sua segunda edição, em 2001, atribuído pela Fundação Círculo de Leitores) por volta da mesma idade do jovem escritor, personagem, com o seu primeiro livro. E este jovem escritor, José, será depois convidado a escrever a biografia do outro José, o Nobel, desdobrando-se este Autobiografia num universo literário de múltiplas realidades paralelas.
O jogo de espelhos mantém-se ao longo da narrativa, repartida em duas, mais ou menos alternadas, sendo que a história se centra mais em José do que em Saramago, enquanto o leitor vai desfiando o fio da narrativa, com as suas ideias e suspeitas, para se guiar neste exercício literário como num labirinto em que ficção e biografia se cruzam. E da mesma forma que apontamentos pessoais da vida de Saramago são reinventados num Saramago de papel, também nestas páginas se abrem outros umbrais por onde entram ainda na história figuras de carne e osso, ou inspiradas no seu referente real, como Pilar, assim como figuras de papel que conhecemos de outros romances de Saramago: o editor Raimundo Silva (História do Cerco de Lisboa); Lídia (O Ano da Morte de Ricardo Reis); Mau-Tempo (Levantado do Chão); Bartolomeu de Gusmão (Memorial do Convento); Fritz (A Viagem do Elefante).
Confluem ainda na narrativa espaços reais, da geografia íntima de Peixoto, como a Rua de Macau, e outras com nomes de ex-colónias, e muitas das personagens são ainda ressonâncias e referências de um espaço mais vasto, que assinalam a passagem de José (Luís Peixoto), o verdadeiro, pelo mundo, como é o caso de Cabo Verde. Mas a narrativa desvela mais e mais camadas, pois não só as personagens e situações são piscares de olho a um leitor atento de Saramago, como o Fritz d’A Viagem do Elefante cegar subitamente sem explicação ou esta Lídia, cabo-verdiana, ser uma lojista que em muito lembra a companhia de Ricardo Reis, em O Ano da Morte de Ricardo Reis, onde o duplicado de Pessoa (um desdobramento também ele afim de O Homem Duplicado de Saramago) se substancia num heterónimo tornado ortónimo.
Este é talvez um dos mais inovadores romances da literatura contemporânea portuguesa de um autor que se tem afirmado um pouco pelo mundo inteiro, e que já tem viajado para escrever. Uma homenagem nada beatificada a uma figura tutelar na sua escrita e na sua vida. A afirmação de que cada escritor é um protegido e um legado vivo de todos aqueles que o precederam e que pousam no seu ombro no acto da escrita.
José Luís Peixoto, autor publicado pela Quetzal, arriscou muito, tanto que, e esse é um dos momentos cruciais do livro que se pode designar genial, chega a fazer uma incursão no maravilhoso, com um episódio que tem tanto de insólito (tal como no universo saramaguiano sempre pronto a explorar os possíveis da história) como de simbólico e de homenagem, quando o anúncio do Prémio Nobel de 1998 desencadeia uma chuva… de livros de Saramago.
A leitura de Autobiografia é como uma refracção que se estende ao infinito, e que só se resolve com mais do que uma leitura do livro, onde podemos dar por nós a ler sobre a personagem (retirada de outro livro) que está a ler, agora, o mesmo livro que nós. Ver artigo
Todas as Almas, de Javier Marías, o mais recente livro de um dos mais destacados escritores espanhóis da actualidade, cuja obra tem vindo a ser publicada pela Alfaguara, é um canto melancólico de amor, de solidão, da sensação de ser estrangeiro.
O narrador sem nome, por vezes apelidado de «o espanhol», é professor de Tradução na universidade de Oxford e, dois anos depois, casado e pai de um menino, descreve-nos os dois anos que lá viveu, à semelhança do autor – pois aqui funde-se, ainda que apenas ligeiramente, autobiografia e ficção. Além de que mesmo enquanto divaga e relembra, a própria memória do narrador parece iludi-lo, como quando descreve um possível reencontro com uma jovem: «acho que me cruzei», «apercebi-me de que era ela – ou julguei aperceber-me», «não tenho a certeza se era ela» (p. 124).
Ainda que este romance evoque o ambiente de campus de outros romances académicos, onde se retratam figuras académicas com os seus tiques e idiossincrasias, Marías pinta um cenário onde todas as almas se cruzam e desencontram, como acontece, por exemplo, com a jovem da estação de comboio de Didcot, onde todos os encontros se revestem de uma aura de mistérios, pois em Inglaterra os desconhecidos não falam entre si. O narrador é um dos solteiros que predominam em Oxford, «outro perpetuador da velha tradição secular clerical daquele lugar imutável e inóspito e conservado em calda» (p. 156), e vive uma relação fugaz com Clare Bayes (uma das poucas mulheres professoras na universidade), medida a toques de sino e despertadores, por vezes uma «turbulenta e rápida meia hora entre duas aulas» (p. 97), nem sequer o suficiente para se despirem.
Esta não é uma história de amor, mas de desejo e solidão, pois este estrangeiro vive mais intensamente a lembrança e a expectativa de um encontro fugaz com a sua amante do que a relação amorosa que estabeleceu com ela. Um amante é sobretudo um ouvinte da nossa história, o reconhecimento de um eu num tu, contudo «os amantes são parcimoniosos, voluntariosos e entusiasmados, mas não durante muito tempo, e é assim que deve ser. Essa é a vossa função e também a vossa graça. (…) A nossa missão não é durarmos muito, não persistirmos, não permanecermos, porque se durarmos um pouco mais do que é suposto então lá se vai a graça e começam os sofrimentos e acontecem tragédias.» (p. 188) Ver artigo
À Mesa com os Filósofos é um fascinante tratado de Normand Baillargeon, filósofo canadiano, sobre a aparentemente improvável relação entre a comida e a filosofia, publicado pela Temas e Debates.
Na Grécia Antiga, um banquete ou simpósio reunia amigos para uma «reunião de bebedores», onde o mestre de cerimónias, além das libações, assegurava o encadeamento das conversas. Para o demonstrar, o autor serve-se de um diálogo platónico, em que Platão (428 a.C.) convive com Kant (1724), Khayyãm (1048), poeta persa apreciador de vinho, e Veblen (1857), economista e sociólogo americano. Menos de mil anos mais tarde, Tomás de Aquino disserta sobre a gula como pecado capital, num ambiente monástico em que à mesa não se fala e se faz do jejum um acto virtuoso. Kant, mais tarde, advoga que não se pode celebrar a cozinha como uma experiência estética, pois depende do gosto subjectivo de cada um, enquanto Brillat-Savarin explana que apesar de o prazer de comer satisfazer uma necessidade básica existe uma arte de comer e de degustar. Afinal, «o prazer da mesa é convivial e, como qualquer experiência estética, convida à partilha, à troca e à conversa, nomeadamente sobre os méritos dos pratos» (p. 203).
Este livro, que se pode degustar como um vinho leve, vai encorpando até se tornar adstringente, pois o que começa como uma evocação dos primórdios clássicos da filosofia, em que a comida e especialmente o vinho tiveram um papel central, rapidamente se actualiza numa arguta reflexão sobre a sociedade de hoje… dominada pela ilusória noção de que a enologia é uma ciência, quando as suas conclusões são subjectivas e manipuláveis; em que os supermercados estão concebidos para incitar a comprar tudo aquilo de que não precisamos ou nos é nocivo, pelo que se recomenda ao leitor exercitar o cepticismo e o estoicismo nas compras; em que proliferam programas de culinária e concursos a chef que advogam a cozinha como arte; onde as redes sociais inundadas por fotos de comida disputam protagonismo com corpos secos, cujo músculo, nos homens, ou magreza, nas mulheres, raiam a anorexia atlética; por discussões em torno dos benefícios de ser vegetariano ou vegan; por artigos que se contradizem em torno das propriedades milagrosas ou dietéticas de tal alimento; quais as vantagens e consequências de numa lógica económica se optar entre o locavorismo ou o libertarismo, ou seja, comprar produtos locais e da época num mercado local ou recorrer ao hipermercado onde as estações do ano se suspendem e o mundo inteiro está ao alcance da nossa barriga? Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016