
Aniquilação, de Michel Houellebecq, com tradução de José Mário Silva, publicado pela...
Leia Mais
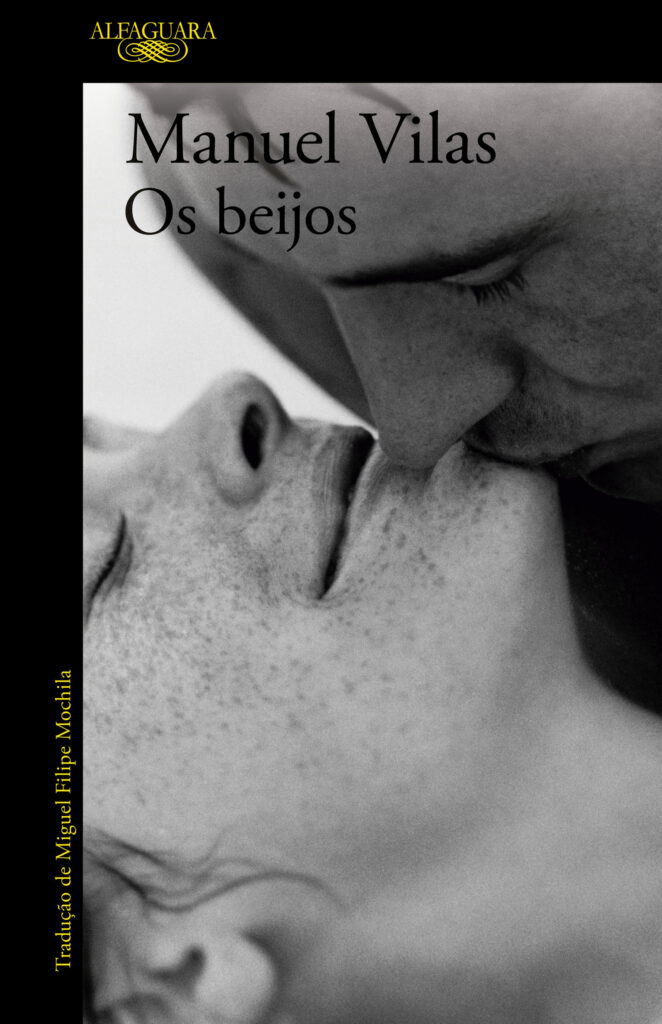
Os Beijos, de Manuel Vilas, com tradução de Miguel Filipe Mochila, é...
Leia Mais
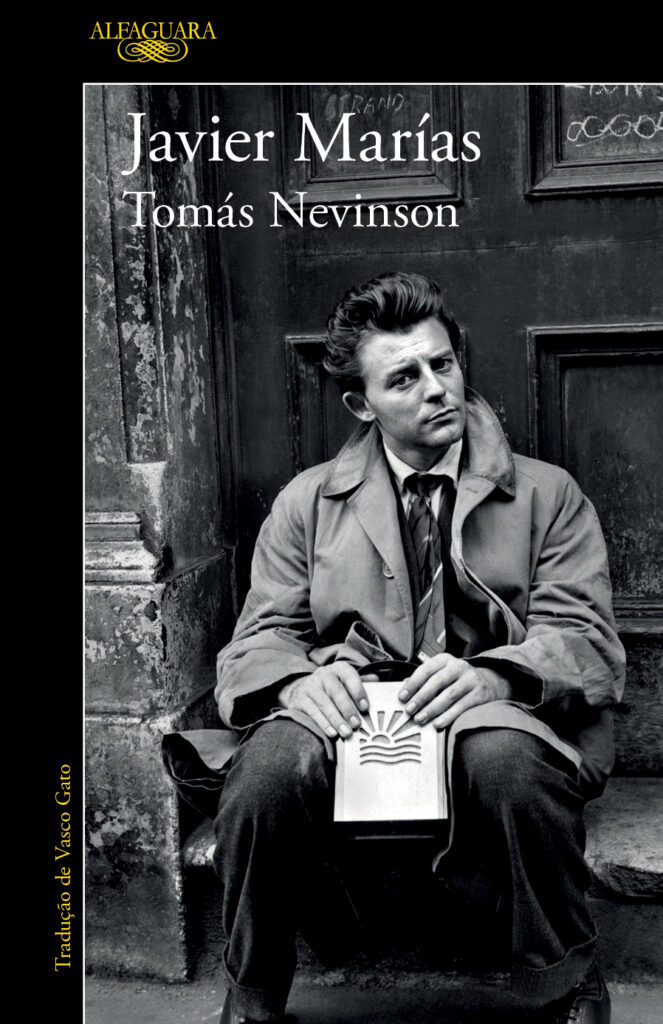
Tomás Nevinson, de Javier Marías, com tradução do poeta Vasco Gato, foi...
Leia Mais

A outra metade, de Brit Bennett, publicado pela Alfaguara, com tradução de...
Leia Mais
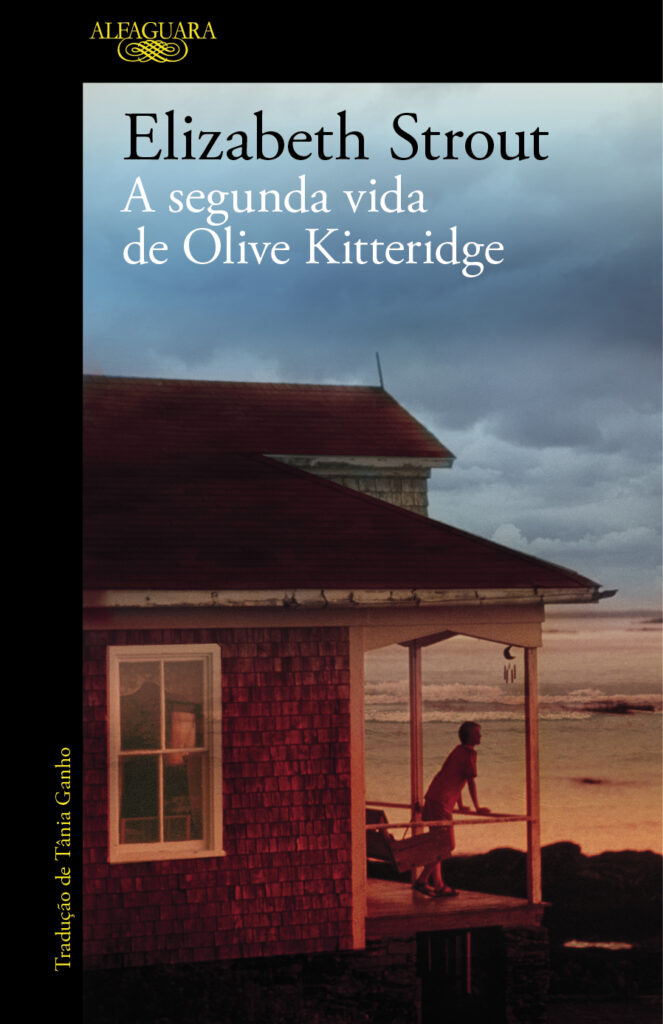
Olive Kitteridge, publicado originalmente em 2008, e entre nós o ano passado,...
Leia Mais

O país dos outros, de Leïla Slimani, publicado recentemente, com tradução de...
Leia Mais
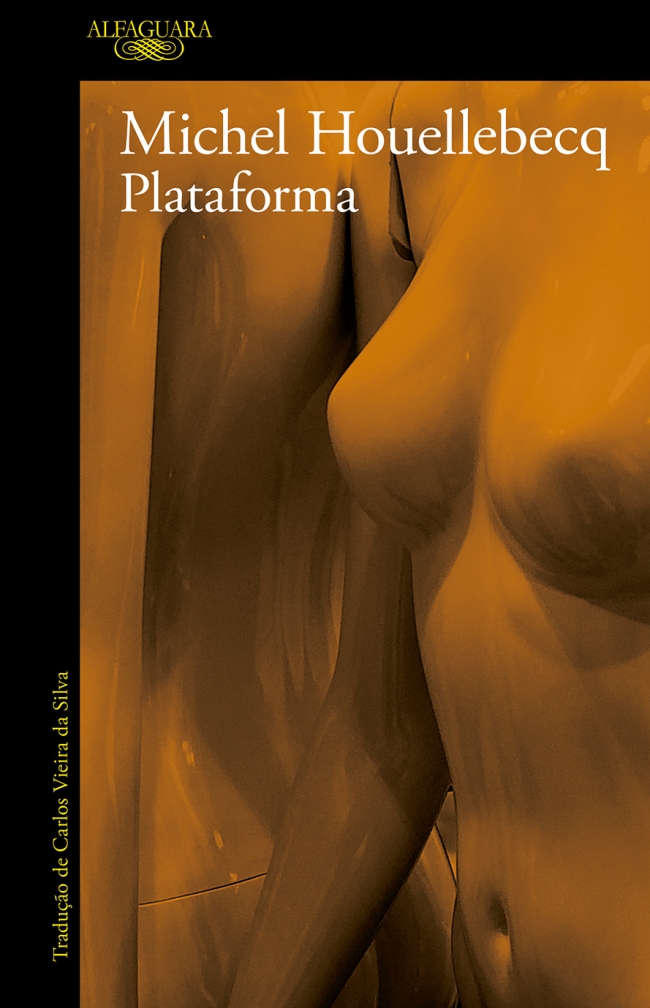
Michel é um funcionário público quarentão do Ministério da Cultura, solteiro, cínico,...
Leia Mais

Já está disponível a série The Underground Railroad no canal de streaming...
Leia Mais

MIZÉ – Antes galdéria do que normal e remediada, de Ricardo Adolfo,...
Leia Mais
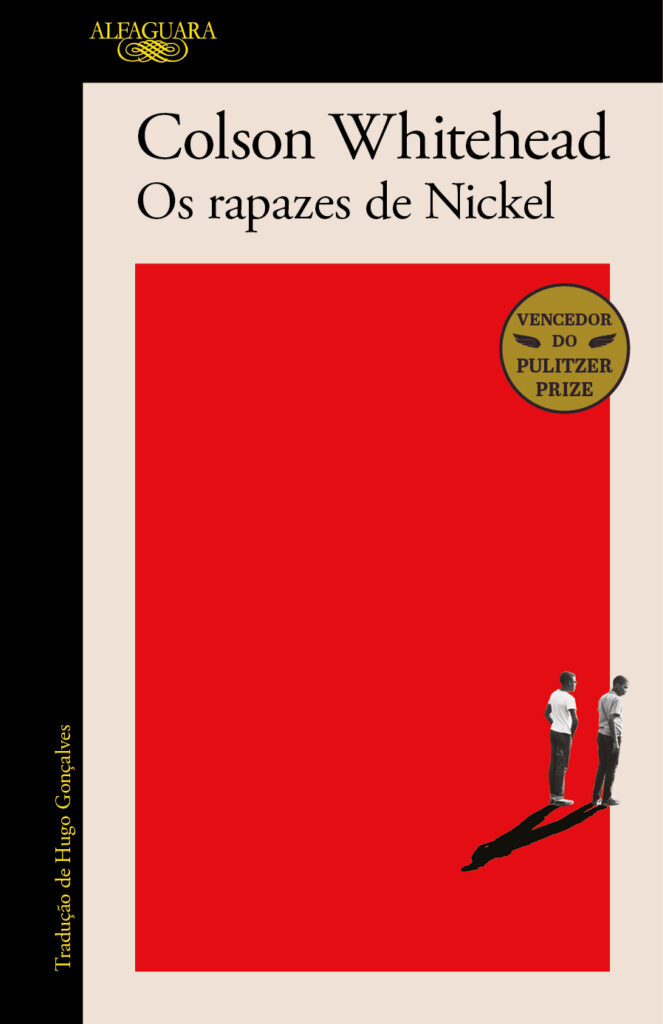
Colson Whitehead venceu o Prémio Pulitzer e o National Book Award com...
Leia Mais
