Já o escrevi antes. Quando começo um livro raramente leio a sinopse, por isso, um pouco como a vida, nunca sei o que vou encontrar nas primeiras páginas do livro que retiro da estante. Mas há livros que nos agarram desde a primeira página e que nos perturbam tanto que o formigueiro nas pontas dos dedos para escrever se torna insuportável e impossível de ignorar.
Regresso a Reims é um ensaio onde a escrita autobiográfica, uma vez mais, se entrelaça com a reflexão sociológica. Quando o filósofo francês Didier Eribon perde o pai, que não via há décadas, ao ponto de não o reconhecer numa foto tirada poucos dias antes de morrer, não comparece ao seu funeral, nem faz qualquer tentativa para ver os irmãos, de quem se separou há 30 anos e provavelmente também já não seria capaz de reconhecer. Mas quando visita a sua mãe, no dia seguinte ao funeral, acaba por dar início a um reencontro com o eu que tanto procurou, sem sequer se aperceber, reprimir. Tendo saído de Reims pelos vinte anos para viver em Paris, fugindo a um pai violento e homofóbico, para poder começar a ser verdadeiramente ele, verdadeiramente livre, sem ter de se envergonhar da sua sexualidade, Didier Eribon percebe que afinal ao libertar a sua sexualidade acaba por reprimir o seu passado sócio-cultural enquanto prossegue numa ascensão social. Sai de um armário sexual para se meter num armário social.
Este livro analisa como quanto mais nos afastamos no espaço mais difícil se torna, por vezes, reconhecer os nossos pais, aquela que era a nossa casa, e as nossas referências identitárias passam a ser um universo estranho. Nunca saí de casa para fugir à família, mas primeiro a 300 km de distância e depois a 7000 km, sensivelmente, em linha recta, percebo como foi preciso correr mundo para encontrar liberdade, para me libertar de um certo jugo, mesmo quando involuntário, em que constantemente somos interpelados a responder para onde vamos, com quem estivemos, o que fizemos. E como apesar da distância acabamos por ainda assim nunca nos encontrarmos de facto, pois há vozes interiores que nos perseguem. Ao contrário do autor deste livro, ou de James Baldwin, constantemente referido, que também viajou para Paris para se encontrar como homem negro e gay, não tive a infelicidade de ter um pai violento ou opressor. Pelo contrário, foi ele o primeiro a estender a mão, a querer ouvir, a tentar perceber. O mesmo não aconteceu, em contrapartida, com a minha mãe, que recriminou tanto como se culpava a si própria, querendo perceber em que errara, que apoio poderia solicitar, a vergonha que seria se os outros soubessem. Mas se Didier Eribon optou pela atitude mais cobarde ou simplesmente desesperada de cortar todas as ligações, há aqueles que são incapazes de cortar o cordão umbilical e se mantêm firmes e presentes, mesmo quando longe. E se bem que eu nunca tenha vivido num bairro social em Reims, também os meus pais são da classe operária e nenhum acabou a escolaridade. Por isso, quando as pessoas me viam sempre agarradas a um livro para onde quer que eu fosse, se questionava «A quem é que será que ele sai?». Por isso, mesmo quando concluí a licenciatura, e depois o mestrado, e um dia o doutoramento, e outro mestrado, etc., etc., eu sabia que havia um brilho de orgulho nos olhos dos meus pais, mas porque foram educados com poucas manifestações de carinho, aliás ambos foram criados por outras pessoas que não os pais, e por isso nunca foram de rasgados elogios. Levou muito tempo a perceber que ainda que pudesse haver, de facto, algum complexo em relação a mim, o orgulho falou mais alto. Não vivíamos em Reims, mas vivíamos na periferia da cidade. O meu pai trabalhava todos os dias de manhã à noite, e pela noite fora, e aos sábados, chegando a casa com uma farda a tresandar a óleo e a pele dos dedos estalada e enegrecida do óleo dos motores. Lavava as mãos com detergente da roupa em pó na banheira. Aos 12 anos, mudámos do campo para um apartamento. Aos 25, compraram o nosso segundo apartamento. Sempre fizemos viagens em família ao estrangeiro, em que os meus pais faziam sempre questão de nos levar. Quando eu era criança os meus pais contavam os tostões para o meu leite, mas na vida nunca me faltou nada, e quando cheguei à universidade tive uma bolsa. Não estou a querer dizer que ao contrário do autor deste livro, eu também não tive momentos em que a classe social me poderia envergonhar, em que por vezes os corrijo no seu português. Mas é o orgulho que também do meu lado fala mais forte e a grata percepção de que eles sempre me apoiaram, mesmo quando não sabiam como fazê-lo. Tal como eu os tenho ajudado como posso a serem mais fortes. Quando um pai morre ou adoece, é o nosso próprio sentido de mortalidade que dispara e é a nossa vida que colocamos em causa, numa angústia existencial de incerteza, de perda de referência, de abalo das fundações. O meu pai, mecânico, trabalhou tanto para nos fazer subir na vida que se perdeu pelo caminho. A minha mãe deu-me o que tinha de melhor, o seu amor incondicional e a esmerada educação que recebeu dos avós. E mesmo que haja uma clivagem social e cultural gradual, nunca senti que não precisava dos meus pais, ao ponto de os negar e dar por mim a negar-me. Mas estou grato por eles próprios terem sido capazes de rasgar as suas certezas na vida e, mais do que me aceitarem, sentirem orgulho. Orgulho esse que é recíproco, mesmo quando ainda hoje esbarramos tantas vezes em línguas diferentes de atitutes distintas perante a vida. E um amor imenso por uma mãe que teve de cortar as suas asas para as emprestar aos filhos e depois, quando quis voar, teve de passar pela dor de fazer as suas asas voltarem a crescer.
De volta
Regresso a Reims, de Didier Eribon (Dom Quixote)

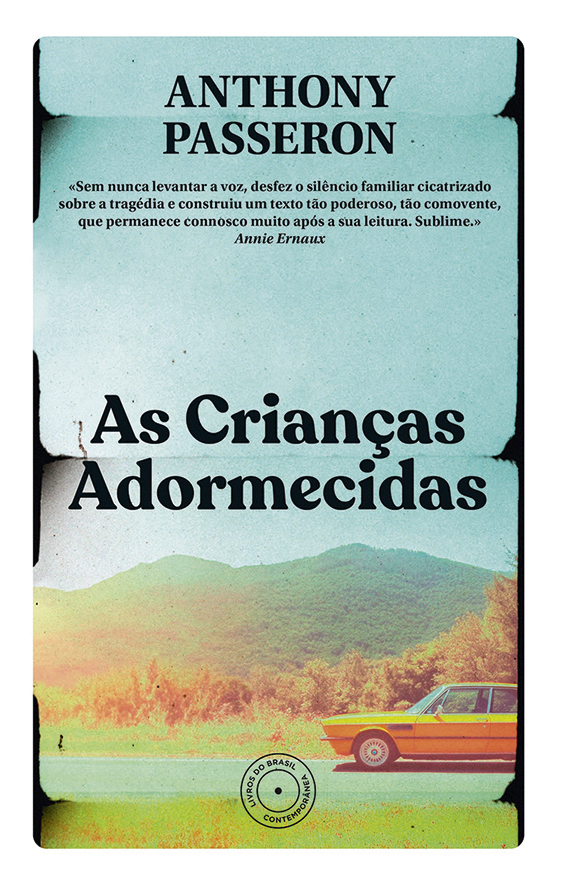



1 comentário
Grande Paulo! Texto admirável, certo, certeiro e corajoso, E muito bem escrito. Um forte abraço de par
abéns, João de Melo