Já ando de olho nesta autora há muito tempo e assim que soube da série a estrear em Abril baseada na obra A história de uma serva fui logo comprar.
A sua mais recente obra, O coração é o último a morrer, lê-se de um fôlego e, ao jeito pósmodernista, é uma obra extremamente visual. A escrita da autora é contida, despojada de floreados ou devaneios, limitando-se a narrar a acção de forma concisa, e é quase como estar a seguir um filme pois as imagens que se desenham mentalmente são vívidas e nítidas. Esta obra aliás encontra (ou faz) eco em séries televisivas do momento, como Westworld, com a premissa de criar mundos alternativos acessíveis apenas a uma certa elite, onde podem viver os seus sonhos ao abrigo do caos resultante de uma recessão que reina num mundo em queda económica e em desintegração de valores.
Uma história aparentemente futurista ou que raia a ficção científica mas que assenta, na verdade, em premissas não tão distantes do real: Charmaine e Stan estão desesperados, tendo fugido da casa cuja hipoteca perceberam que não iam poder pagar quando a economia colapsou, adiantando-se ao momento em que os expulsariam, e passam a viver no carro e a viver de trabalhos menores. Aliás, Stan não consegue encontrar trabalho enquanto Charmaine trabalha num bar duvidoso.
«Depois, a coisa deu para o torto. Como se tivesse sido de um dia para o outro. E não fora apenas na sua vida pessoal: todo o castelo de cartas, todo o sistema ruíra, milhares de milhões de dólares eliminados das folhas de cálculo como nevoeiro de uma janela. Na televisão, hordas de peritos de meia-tigela tentavam explicar por que razão aquilo acontecera – demografia, perda de confiança, gigantescas operações fraudulentas –, mas tudo isso não passava de suposições da treta. Alguém mentira, alguém defraudara, alguém minara o mercado, alguém inflacionara a moeda. Havia poucos empregos e gente a mais. Ou poucos empregos para o americano médio como Stan e Charmaine.» (pág. 20).
Consiliência parece ser a única alternativa para um mundo em ruínas. Stan e Charmaine decidem assim integrar nessa «experiência social» que implica viver de modo alternado numa prisão, isto é, durante um mês os ocupantes de Consiliência vivem como presidiários, numa cela de prisão, mas com as melhores condições possíveis, quase como se estivessem num hotel, e no mês seguinte irão desempenhar as suas funções como funcionários dessa mesma prisão, chamada Positrão, com direito a uma casa no exterior que é ocupada também de forma alternada por um outro casal enquanto Stan e Charmaine permanecem um mês na prisão.
Apesar de toda a história parecer estar aqui explanada (apenas adianto o que já está na contracapa) as verdadeiras peripécias começam a suceder-se depois dessa mudança para o estabelecimento prisional de Consiliência, que se afigura cada vez menos com uma salvação ou refúgio mas mais como a prisão emocional e mental em que muitas vezes as nossas vidas caem, se não soubermos superar os erros ou as más escolhas:
«A finalidade de Consiliência é que a vida decorra tranquilamente, com cidadãos felizes, ou serão eles reclusos? Ambas as coisas, na verdade. Os cidadãos sempre foram um bocado como reclusos, e os reclusos serem foram um pouco como cidadãos; Consiliência e Positrão só oficializaram essa ideia.» (pág. 178).
Mas é na mudança para a tranquilidade de Consiliência que tudo, e que era aparentemente muito pouco (pelo menos em termos materiais), o que era seguro, pois Stan e Charmaine tinham-se um ao outro, ameaça ruir de vez por causa de meras fantasias sexuais.
A narrativa alterna entre a perspectiva de Stan e de Charmaine, sempre na terceira pessoa, e é particularmente interessante a forma como a autora nos faz viver a realidade narrada através de uma mentalidade que é bastante simples, isto sobretudo no caso de Charmaine, que vive com base nos ensinamentos da sua avó Win, aplicando na vida uma filosofia aparentemente baseada em certos livros de autoajuda: «Mas recusa-se a pensar naquilo, porque a realidade somos nós que a construímos com as nossas ações, e se pensar que aquilo vai acontecer, acontecerá mesmo.» (pág. 178).
Na linha do que dizíamos antes acerca da escrita fortemente visual ou cinematográfica, o cinema e a televisão são aliás referências muito presentes na narrativa e é através de impressões puramente visuais que as personagens fazem algum sentido do que se vai desenrolando na intriga: «Tem uma imagem de como iriam decorrer os minutos seguintes se aquilo fosse um filme de espionagem. Dava um murro a Jocelyn que a fazia perder os sentidos, tirava-lhe as chaves, metia-a no contentor, roubava-lhe o telemóvel para não poder pedir ajuda quando acordasse – de certeza que ela tinha um telemóvel – e em seguida saía e ia salvar o mundo sozinho.» (pág. 199). Ou na passagem «Depois percebeu: tinha de fingir que era estúpida, porque eles estavam a tentar baralhar-lhe as ideias. Tinha visto filmes assim: pessoas que se disfarçavam e fingiam não conhecer outras» (pág. 218). São constantes estes momentos em que uma cena perfeitamente banal é transplantada na imaginação dos protagonistas para uma alucinação saída do pequeno ou do grande ecrã: «(…) é uma cama a que está acostumada. (…) Mas agora parece-lhe estranha, como um desses filmes assustadores em que uma personagem acorda e descobre que está numa nave espacial, que foi raptada e que pessoas a quem considerava amigas lhe mandaram tirar o cérebro e querem fazer exames bizarros» (pág. 217).
Uma história que aparentemente surge apenas como uma distopia e cuja segunda parte é cada vez mais frenética em termos de peripécias, onde não faltam momentos genuinamente cómicos, revela-se mais como uma profecia daquilo que as nossas vidas se podem tornar se não exercermos bem a nossa principal ferramenta enquanto seres humanos e pensantes. O diálogo que encerra o livro, com uma pergunta colocada e que fica sem resposta, é emblemático disso mesmo e é a pergunta que no fundo a autora coloca aos leitores: o que vamos nós fazer com o nosso livre-arbítrio quando o mundo que conhecemos deixar de existir. Ou talvez ainda esteja nas nossas mãos mantê-lo o melhor possível. Afinal as nossas vidas decorrem, de certo modo, nesse círculo vicioso de cumprir funções ou um papel social para nos ajudar a mantermo-nos vivos, o que também pode ser visto como um ciclo limitador, a não ser que optemos por ver os muros que nos rodeiam como as prisões em que nos encerramos como forma de nos mantermos seguros e confortáveis:
«Em tempos sentia-se tão segura dentro daquela casa. Na casa que era sua e de Stan, o seu casulo aconchegado, o seu abrigo do perigoso mundo exterior, aninhado no interior de um casulo maior. Primeiro os muros da cidade, como uma casca exterior; depois, Consiliência, como a parte branca e macia de um ovo. E, no interior de Consiliência, o complexo prisional Positrão: o cerne, o âmago, o significado de tudo aquilo.» (pág. 227).
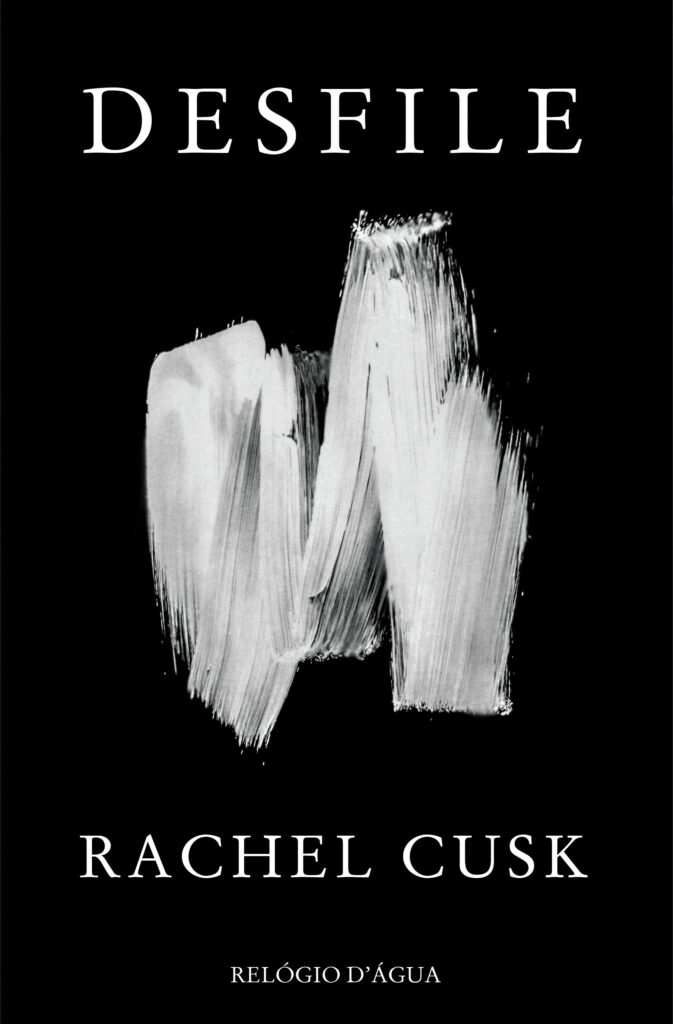


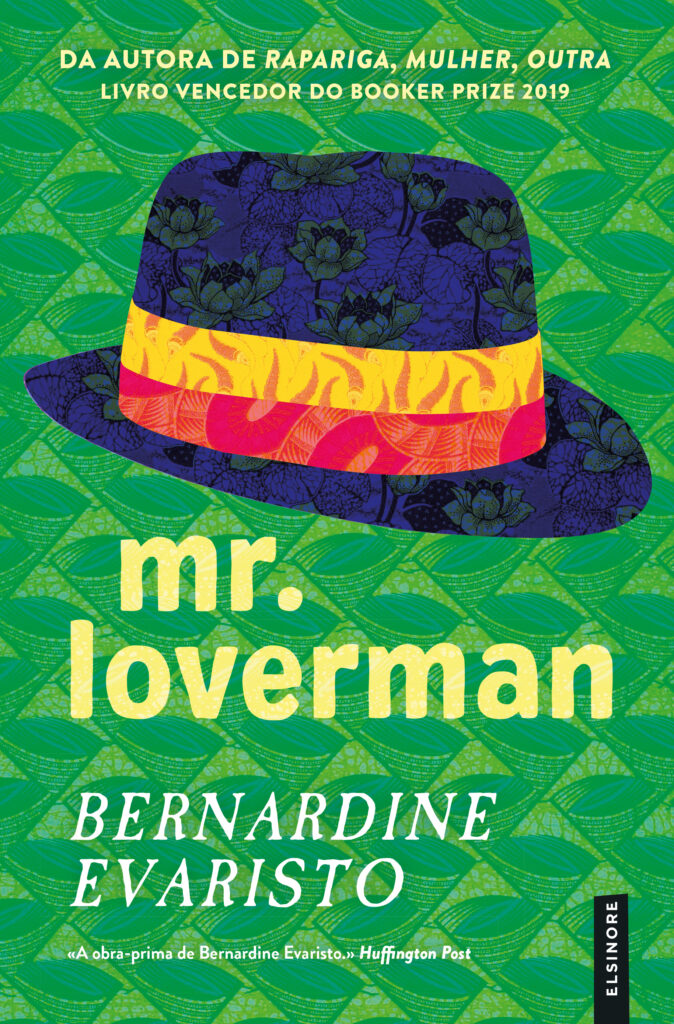
3 comentários
Curiosamente para mim que neste momento estou a ler o posmodernismo de Pynchon, ouvir encaixar no mesmo estilo literário algo caracterizado como “contido, despojado de floreados ou devaneios” é de ficar mesmo confuso.
Sim, conheço bem a escritora no seus livros distópicos, e não só, para perceber que o seu futurismo tende sempre a encaixar-se em questões, tecnologias e evoluções em curso no presente… talvez A história de uma Serva é que faça um retrato muito mais recatado, mas nâo menos perigoso de um presidente dos EUA que só agora passou a existir.
Se quiser conhecer a escritora nos seus múltiplos géneros, eles entrecruzam-se em O Assassino Cego, que é talvez também o livro dela que mais gostei, mas não o que mais me marcou, pois é muito menos chocante que outros como A história de uma serva ou o Oryx and Crake, que me colocaram cabelos em pé pela tensão que me provocaram nalgumas passagens.
Eu quis apenas transmitir que a linguagem prima pela economia. Não há grandes artifícios que nos desviem do acto de narrar uma história.