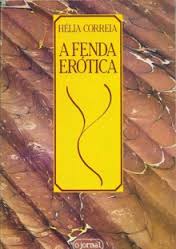
A Fenda Erótica (1988) deve antes de mais ser lido como a publicação em livro de um folhetim folicial, publicado na revista de O Jornal (onde a autora assinara antes uma crónica ilustrada) entre 6 de Fevereiro a 18 de Setembro de 1987. A autora procurava mais liberdade na criação, conforme proferiu em entrevista, face aos preceitos que a crónica lhe exigia, mas entre uma redacção que requeria prazos quase semanais, e o ter de ceder à vontade de certos leitores, resulta um folhetim em que apenas os três primeiros capítulos são exclusivamente da sua livre autoria, cuja ideia inicial de constituir uma trilogia (com outro de ficção científica e um gótico) fica gorada, com capítulos curtos e intitulados de forma sugestiva, com um final que deixa o leitor quase sempre em suspenso, intriga rápida, e uma linguagem pouco trabalhada comparativamente às suas outras obras. Resulta deste folhetim um livro contra a vontade da própria autora, ainda que o tenha intitulado, numa brincadeira maliciosa, a partir de uma citação em epígrafe de Roland Barthes: «Nem a cultura nem a sua destruição são eróticas; a fenda entre ambas é que se torna erótica.». Contudo, a obra tem a sua originalidade criativa, assume-se como jogo literário num «diálogo intertextual com o universo dos livros de aventura» , e possui traços comuns com as outras obras da autora, em particular Soma, publicada no ano anterior.
Se em Soma, era António Eliseu a desaparecer do mundo para se perder num mundo apartado do real quotidiano, aqui é Carlos B. quem parte em busca da sua mulher Ana, arquitecta com um atelier, que desapareceu pela segunda vez, e em virtude da ajuda da sua amiga de infância, a Maruja, uma mulher misteriosa e influente sobre quem ele afinal percebe saber muito pouco, vê-se arrastado numa sequência de peripécias em que não tem grande mão nas suas decisões. Deste modo, Carlos B. revela-se mais como um anti-herói do que como um herói, mas os motivos dos romances de aventura estão todos lá, mesmo que por vezes de forma paródica ou desconstruída, como uma iniciação, a viagem, o deserto, estranhos misteriosos, adjuvantes e opositores, mouros, portas secretas, labirintos e túneis em bares nocturnos, aneis com poderes, barbas e bigodes postiços, uma bruxa, um Buda, e bebidas que parecem quase sempre resultar num sono profundo e involuntário – como em Soma. Ana partilha com outras personagens de Hélia Correia essa natureza de Bovary, como em O Número dos Vivos, optando por abandonar esse marido que representa o tédio de um convencionalismo “burguês”, que também é, no entanto, descrito de forma irónica: «A vida chata da senhora casada com o seu par de filhos que um dia hão-de crescer e deixá-la sozinha, com o seu maridinho tão bom, tão regular, que não levanta a voz e já não tem mistério. Sente-se de algum modo emparedada vida.» (pág. 126). Esta questão da imagem que é quase imposta à mulher (lembremos que em O Número dos Vivos a protagonista inventa um amante para desafiar e provocar o marido) parece encontrar a sua expressão na seguinte passagem: «Fui demorando as mãos nas roupas interiores, no seu toque de seda, nas meias arrendadas, nos corpinhos, nas cintas, nos porta-ligas que a moda copiara de há cem anos para tentar tornar uma mulher casada picante e ordinária, sem perder o seu chique.» (pág. 43).
Tal como em Soma, a fuga ao real impõe-se como forma de sobreviver à monotonia: «Era uma história como existem aos milhares, uma história de gente com mais de trinta anos, um curso superior, empregos superiores, mulheres a dias, um belo apartamento que fora alcatifado e agora tinha mantas e os tacos protegidos por banhos de verniz. Dois filhos – por acaso um lindo casalinho (…). Uma casa de férias a dois passos do mar» (pág. 12). Essa fenda erótica por onde Ana se deixa cair, em fuga ao «quotidiano cinzento e repetido» (pág. 127), leva-a precisamente, através de um amante belo e perverso, ao submundo do crime, em «busca de violência, sabe-se lá, talvez, de sentimentos fortes, da experiência do perigo. De qualquer coisa que lhe apimentasse a vida, lhe avivasse os contornos e lhe desse relevo, lhe conferisse cor e sobressalto.» (pág. 126). Denota-se nesta passagem algum artifício literário, mas é justamente o tom coloquial que irá vigorar ao longo da narrativa e, pela primeira vez, na obra literária da autora encontramos um narrador na primeira pessoa, talvez como forma de melhor chegar a um público mais vasto, a par da linguagem oralizante, dada a natureza da publicação onde se enquadra o folhetim. Talvez por isso mesmo, por estar penosa ou profundamente consciente da natureza literária deste folhetim, a autora deixa-nos diversas referências, não isentas de ironia, ao seu carácter («parece um folhetim de cordel» (pág. 127), «isto está a precisar de acção. Exotismo, aventura, essas coisas assim. Se não, não tem piada. (pág. 57); «Sentia-me o herói de um folhetim qualquer» (pág. 41). Ou sucedem-se claras alusões e constantes comparações com o cinema «Nem há suspense para mudar de cena» (pág. 108); «parecia-me ridículo como um mau filme mudo» (pág. 43); «vestido como um herói de filme americano (…) com ar de Clark Gable» (pág. 93). Há, desta forma, uma metaficcionalidade claramente assumida: «as coisas começaram a suceder-se com uma velocidade difícil de narrar» (pág. 57); «as asas do perigo, como usa dizer-se neste género literário» (pág. 105). É particularmente relevante a seguinte passagem a propósito do Citröen em que Carlos B. viajará pelo deserto marroquino: «Diferentemente de outro Dois-Cavalos que, pela mão de excepcional autor, ganhou letra maiúscula e estatuto de personagem, com os seus sentimentos e trajecto vital» (pág. 105). Alude-se claramente, para um leitor informado, ao Citröen em que viajam as personagens de A Jangada de Pedra, de José Saramago, o mesmo autor que, cerca de 14 anos depois, autorizará que Hélia Correia tome emprestada a personagem de Blimunda em Lillias Fraser.
E, mais uma vez em jeito irónico, o trigésimo-terceiro e último capítulo intitulado de «Happy-end» não é o desfecho que o leitor podia esperar, pois a mulher de Carlos B. voltará a desaparecer. Consuma-se deste modo «a ironia e o distanciamento face a um certo tipo de cultura, através da construção e desconstrução de imagens míticas e de estruturas simbólicas» .










Leave a Comment