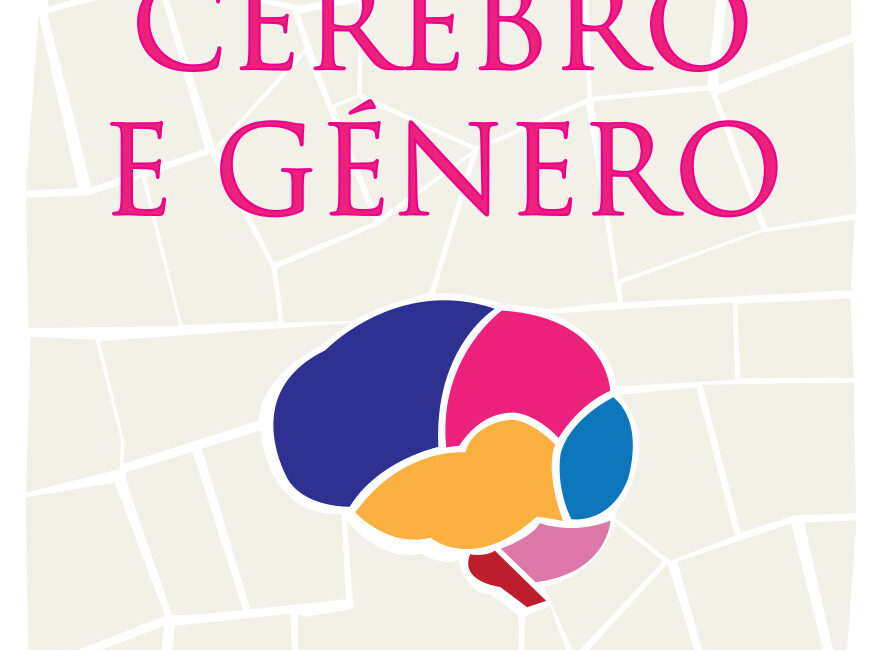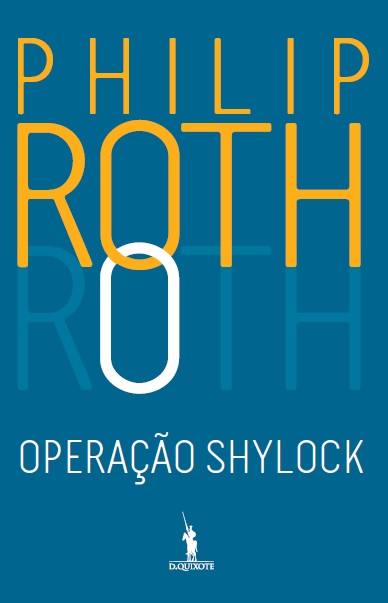As questões de género e de sexo continuam (in)felizmente a dar que falar, o que apenas comprova que ainda há mitos a desmentir e asserções a destruir. Se for homem, é possível que já tenha ouvido algo como “Tu pensas como uma mulher!” ou inclusive dito a outro “Não sejas menina!”. Pelas redes sociais pululam ainda (pseudo)artigos que comprovam como as mulheres trabalham mais com o hemisfério direito ou gerem tarefas de forma múltipla enquanto que os homens não conseguem sequer ouvir alguém ao seu lado quando estão focados num jogo de futebol…
Publicado pela Temas e Debates, este manifesto de Daphna Joel, neurocientista de renome internacional, e de Luba Vikhanski, redactora especializada em ciência, procura contribuir para um mundo sem estereótipos de género, desmontando uma série de verdades impostas por uma ciência essencialmente dominada por homens até muito recentemente. Daphna Joel procede a uma revisão de diversos estudos conduzidos por terceiros, onde confluem pequenas histórias e episódios conhecidos, e explica, na primeira pessoa, de forma acessível e divertida, como chegou às inovadoras descobertas, conduzidas no laboratório que dirige em Telavive, de que o cérebro de cada ser humano se revela como um mosaico único de características tanto masculinas como femininas: «a descrição da estrutura cerebral humana como um mosaico, ao invés de um conjunto de características só «masculinas» ou só «femininas», condiz na perfeição com a ideia de que cada um de nós tem traços femininos e masculinos, e que é raro os seres humanos serem completamente femininos ou completamente masculinos.» (p. 90)
A autora começa por analisar a história, feita de factos distorcidos, em que se tomou o tamanho supostamente inferior do cérebro de indivíduos do sexo feminino para comprovar como os homens seriam cognitivamente mais desenvolvidos.
«Segundo uma versão popular da história, o cérebro feminino tem um grande centro de comunicação e um grande centro de emoções, e está programado para a empatia. O cérebro masculino, por seu lado, tem um grande centro de sexo e um grande centro de agressão, e está programado para construir sistemas.» (p. 12)
Mas diversos estudos que abrangeram comportamentos e actividades altamente estereotipados por género chegam a conclusões surpreendentes, em que menos de 1 % dos indíviduos revelou ter características apenas masculinas ou femininas. Isto tem, naturalmente, óbvias consequências práticas para a maneira como ainda hoje se entende o mundo que nos rodeia, fundamentado em mitos culturais tratados como verdades. A própria noção de género pode muito bem ser um dos maiores mitos de toda a História – o que não significa que não exista: «Claro que existe, não como um conjunto intrínseco de qualidades, mas como um sistema social que atribui significado ao sexo, conferindo diferentes papéis, estatutos e poderes aos homens e às mulheres. Tal sistema exerce uma influência preponderante nas nossas vidas, impondo uma divisão binária a uma população de mosaicos humanos.» (p. 107)
Não se pense, contudo, que rapazes e homens não podem ser igualmente prejudicados por constituírem o grupo do género dominante do sistema num mundo generizado de forma binária… Ver artigo
«O amor, dizem, escraviza, a paixão é um demónio e muitos se perderam por amor. Eu sei que isso é verdade, mas também sei que, sem amor, andamos às cegas no túnel das nossas vidas e nunca vemos o Sol.» (p. 199) Ver artigo
Publicada pela Antígona, em Março deste ano, Tono-Bungay é, possivelmente, a obra mais complexa de Herbert George Wells (1866-1946), e para muitos a sua obra-prima. Romancista visionário, considerado como o pai da ficção, conhecido principalmente por A Máquina do Tempo (1895), O Homem Invisível (1897) ou A Guerra dos Mundos (1898). Ávido leitor de Jonathan Swift e Charles Dickens, nota-se aqui uma influência deste último, na forma como narra a vida do protagonista desde a sua tenra idade. Tono-Bungay (1909) apresenta-se como as memórias de George Ponderevo, desde a sua juventude vitoriana até à idade adulta na Londres industrial, na qual consegue ganhar uma posição de privilégio e destaque ainda que às custas do negócio de um elixir milagroso, cujas propriedades são meramente por sugestão através de publicidade enganosa, negócio cuja legitimidade o próprio George contesta desde o início, todavia sem que isso o impeça de participar na tramóia do tio, enquanto procura prosseguir com outros projectos, nomeadamente o de querer voar (podendo este desejo de voar ser uma metáfora para ascensão social). Tal como o autor, o protagonista e narrador é um homem de ciência: há quem defenda que o próprio romance é, em parte, autobiográfico. Mas a principal personagem, apesar de parecer ser tão somente o cenário, é a cidade de Londres, pano de fundo para uma forte sátira social, eivada de ironia, e uma crítica profunda ao capitalismo, aqui ainda nos seus primórdios, que se distende a partir da época industrial, bem como à clivagem social:
«É uma cidade grandiosa. Imensa. A cidade mais rica do mundo, o maior porto, a maior cidade industrial, a capital do império: o centro da civilização, o coração do mundo! (…) Pobreza como esta, não encontras em Wimblehurst, George! E muitos deles estudaram em Oxford.» (p. 107)
É um romance que requer tempo, cuja narrativa revoluteia numa respiração calma, em crescendo, ao longo de 469 páginas, em que a narrativa e o primor da linguagem se entrelaçam magnificamente, sem nunca largar a atenção deliciada do leitor, mesmo quando incorre numa natureza mais próxima do fantástico ou do romance de aventura. Ver artigo
A Pergaminho, chancela da Bertrand Editora, publica geralmente livros de espiritualidade ou desenvolvimento pessoal. A Nação das Plantas, de Stefano Mancuso, bem como o anterior A Revolução das Plantas, é um livro que foge a essa regra, mas nem por isso menos premente e pertinente, ainda mais numa era em que o homem compreende como é, de facto, pequeno face ao poder imprevisível da Natureza. O autor pretendeu redigir com este fascinante e original tratado uma constituição escrita pelas plantas e para as plantas onde define os seus 8 pilares principais de sabedoria.
Demonstrando que o homem não é de todo o dono da terra mas sim um inquilino desagradável e ingrato, o autor explana como o nosso planeta, que na verdade deveria chamar-se Gaia, como ser vivo e inteligente que é. O homem, apesar dos seus 7,5 mil milhões de espécimes, representa somente um décimo de milésimo da biomassa total do planeta, enquanto que as 450 gigatoneladas de plantas correspondem a 80 % em contraposição com o 0,01 % da humanidade. As relações ecológicas são ligações infindas e complexas e qualquer quebra nessa rede de comunidades, como as extinções provocadas pelo homem, pode trazer consequências nefastas. Além disso, as plantas são seres vivos profundamente inteligentes que «veem, ouvem, respiram e raciocinam com todo o corpo» (p. 54), da mesma forma que a sua comunidade funciona num modelo organizacional difuso, como um sistema radicular, em que o poder nunca se concentra num só ser. Por isso mesmo, apesar de não poderem deslocar-se como os animais, ou migrar como os homens (ou será que afinal até se movem?), as plantas conseguem adaptar-se às alterações do terreno e do ambiente em que se inserem: «Em condições de escassez de nutrientes ou de água, conseguem transformar de forma substancial a sua própria anatomia, adaptando-a ao meio alterado.» (p. 108)
Assumindo-se como uma Cassandra – a profetisa da desgraça que, afinal, tinha razão –, Mancuso explana, de forma acessível, diversos dados científicos relevantes que alertam para a nossa pequenez face a uma comunidade inteligente como a das plantas, proporcionando, inclusive, comparações extremamente acutilantes entre a vida das plantas e a dos homens, como, por exemplo, a forma como o mundo vegetal só se desenvolve em função dos recursos que tem disponíveis, enquanto o homem continua a dilapidar a Terra dos seus recursos. A nação das plantas, capaz de criar as mais surpreendentes formas de cooperação, desenvolveu em poucos milhões de anos florestas arbóreas que permitiram alterar o ambiente terrestre de modo a proporcionar o surgimento de vida animal, removendo quantidades astronómicas de dióxido de carbono, usando esse mesmo carbono para criar substâncias orgânicas e fixando essa enorme quantidade de carbono desnecessário nas profundidades da Terra, transformado em carvão e petróleo… «E ali teria ficado para sempre, intocada e inócua, se nós, tal como no mais assustador dos filmes de terror, não tivéssemos ido perturbar o sono deste monstro.» (p. 91)
Stefano Mancuso é uma das autoridades de maior renome na área da Neurobiologia Vegetal. Professor associado na Universidade de Florença, dirige o Laboratório Internacional de Neurobiologia Vegetal e é membro fundador da International Society for Plant Signaling and Behavior. Autor de vários bestsellers internacionais de divulgação científica e de centenas de artigos académicos. A revista New Yorker considerou-o um dos «world changers» da década e o La Repubblica assinalou-o como um dos 20 italianos destinados a transformar as nossas vidas. Ver artigo
As aves não têm céu é o novo romance de Ricardo Fonseca Mota, publicado pela Porto Editora.
Leto é um homem à beira do precipício, que cruza a cidade nas noites insones, atormentado pela memória recorrente da morte da filha, de que se sente responsável: «Leto não dorme. Desde essa noite fechar os olhos passou a ser um acto proibido. Não esquecer a dor é a última prova de amor.» (p. 13)
Atormentado pela culpa, reinventando um futuro possível para a filha, mas sempre consumido pela memória da noite em que a perdeu no negrume da morte, no fundo escuro de um penhasco, este pai quer «morrer mas não quer parar de sofrer. Quer sofrer mas sente vergonha de estar vivo.» (p. 13)
Deixado pela mulher, divorciado, deprimido, oprimido pelo remorso da culpa, medicado, despedido, desalojado, Leto vive imerso numa noite escura, percorrendo uma cidade deserta, onde pouca gente se move naquele horário, mas é também no colo de uma mulher que ele entrevê uma luz salvífica.
O narrador, omnipresente ao longo do texto, assume-se, por vezes, na primeira pessoa do singular, mas, geralmente, na primeira pessoa do plural, conforme tenta deixar claro ao leitor que apenas pretende contar a história conforme a conheceu. História esta que ganha também contornos de tragicomédia quando o narrador, que tanto diz noutras passagens, indicia muito subtilmente, ainda no início do romance, a possibilidade de Leto não ser realmente o pai da criança…
Numa linguagem lírica, com passagens em que a prosa respira e pulsa como um poema, Ricardo Fonseca Mota incorre ainda num certo experimentalismo, em que a narração feita a partir da perspectiva da personagem é entrecortada, com falas ou com frases que umas vezes se completam intercaladamente e noutras ficam por fechar, como quem tenta registar o próprio pensamento desconexo de Leto, que vive numa linha ténue entre a loucura (ou a doença mental) e o passado suspenso num momento eterno de um trauma.
Ricardo Fonseca Mota nasceu em Sintra em 1987 e vive na Tábua. O seu primeiro romance, Fredo (Gradiva), venceu o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís em 2015, foi semifinalista do Oceanos, Prémio de Literatura em Língua Portuguesa, em 2017, e está traduzido e publicado na Bulgária. Formado pela Universidade de Coimbra, é psicólogo clínico e promotor cultural. Ver artigo
Quando estreou, em Abril de 2017, a série televisiva do canal de streaming Hulu que adaptava A História de uma Serva, de Margaret Atwood, superou todas as expectativas. A série The Handmaid’s Tale, que segue agora para a quarta temporada, tornou-se uma das mais populares dos últimos anos, até pela irónica coincidência de Gileade parecer representar o futuro dos Estados Unidos da América, com a eleição de Trump. A própria autora chega a aparecer numa das cenas mais perturbadoras da série. Entretanto, as distopias parecem ter-se tornado uma possibilidade cada vez mais próxima – parece aliás que vivemos numa, com esta pandemia, que levou a que praticamente o mundo inteiro se fechasse em casa.
Os Testamentos, com tradução de Sofia Ribeiro, surge agora publicado pela Bertrand Editora, depois de ter sido lançado internacionalmente em 2019 e é a continuação, ou a conclusão, da história de Gileade, 35 anos depois da obra anterior. A intriga da narrativa tem lugar 15 anos depois do final em aberto de A história de uma Serva, até porque a segunda temporada da série se torna completamente independente da obra de Margaret Atwood. E a autora, depois de obras menos conseguidas como O Coração é o Último a Morrer, está aqui em pleno fôlego criativo, tanto que arrecadou novamente o Booker Prize de 2019 com este livro. A narrativa alterna entre a história de três mulheres, totalmente diferentes: Agnes Jemima é uma jovem já criada no regime de Gileade, filha de um dos Comandantes mais destacados; Daisy foi criada no Canadá, país vizinho de Gileade; e a terceira narradora é uma mulher mais velha, uma das Fundadoras de Gileade, com direito a estátua e a oferendas de laranjas e ovos que roçam a idolatria.
Margaret Atwood consegue manter toda a suspensão de um mundo possível que é tão ou mais plausível do que a realidade que hoje vivemos, e fá-lo com a deliciosa ironia e humor a que nos habituou: «Se queres fazer Deus rir, conta-lhe os teus planos, costumava-se dizer; se bem que, nos dias que correm, a ideia de Deus a rir está muito perto da blasfémia. Um sujeito ultrassério é o que Deus é agora.» (p. 230)
É absolutamente brilhante que se tome como protagonista uma das vilãs do livro anterior, pois a Fundadora é ninguém mais do que a execrável Tia Lydia: um pouco mais humana ou ambígua na série do que no livro, na minha perspectiva… Além de que é também ela que interpela directamente o leitor, sem qualquer pejo em revelar como a sua mente retorcida e sinuosa é capaz de tecer uma teia de aranha fatal, em que o destino das duas jovens se entretece…
É ainda muito inteligente da autora procurar responder, com esta obra, aos leitores que lhe perguntavam como é que afinal caiu o reinado de Gileade, ao mesmo tempo que tirou partido do sucesso da série e do seu impacto junto de milhares de espectadores para pegar em algumas pontas soltas, mesmo quando estas nada têm a ver com a sua obra original… Por isso, ficaremos a saber o que aconteceu, 15 anos depois, com a Bebé Nicole (este nome é tomado da série), a filha da protagonista do romance anterior, bem como o que aconteceu afinal com Offred (Defred) – este nome é um patronímio, composto pelo pronome possessivo e pelo nome do seu dono.
É quase impossível parar ao longo das 450 páginas deste livro, especialmente nas últimas 50 páginas, em que a acção se precipita e os capítulos são cada vez mais curtos, contando apenas o essencial da acção. A primeira parte do livro, contudo, forma-se num lento crescendo, em que as histórias alternadas tornam o cenário de Gileade vívido, ao mesmo tempo que se pressentem as falhas e fracturas que preparam a sua queda, laboriosa e ardilosamente tecida pela mais inesperada das personagens, cujas intenções a autora consegue indiciar muito subtilmente, sem nunca empurrar verdadeiramente o leitor. Além de que é muito difícil não sentir alguma piedade cristã pela Tia Lydia, antes uma poderosa juíza e defensora dos direitos das mulheres, conforme percebemos como foi tratada, assim como as outras mulheres, quando os E.U.A. se transformam no país ultra-religioso e patriarcal de Gileade. Ver artigo
A justificar a existência de um cânone clássico (ainda que haja quem prefira evitar tais preconizações), isto é, uma lista de obras literárias que se tornam intemporais, universais, incontornáveis, os tempos estranhos que vivemos ultimamente parecem ter recuperado obras de há décadas que, subitamente, se tornaram actuais e prementes. Foi o caso da explosão de vendas de 1984, quando Trump foi eleito, e, mais recentemente, no rasto da pandemia do Corona Vírus, A Peste, de Albert Camus, ou Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Por isso mesmo, muito se tem brincado nas redes sociais com fotos de avisos afixados em bibliotecas e livrarias onde se afirma algo como “mudámos todos os livros de distopias pós-apocalípticas para a secção de história contemporânea”.
Não quero aqui, e para variar um pouco, fazer uma reflexão em torno da obra, ou uma recensão, mas antes um artigo de opinião (chamemos-lhe assim, por ora), detendo-me em particular em algumas das frases das primeiras páginas deste livro recentemente relançado pela editora Livros do Brasil. Se as frases de abertura do romance nos distanciam imediatamente da realidade narrada, quando explanam que «Os curiosos acontecimentos que servem de assunto a esta história produziram-se em 194…, em Orão. Segundo a opinião geral, não estavam aí no seu devido lugar, antes saíam um pouco do habitual.», logo em seguida o narrador toca no que me parece ser um dos pontos sensíveis das últimas semanas, no que concerne à quarentena vivida em Portugal.
«Sem dúvida, nada há de mais natural, hoje em dia, do que ver as pessoas trabalharem de manhã à noite e perderem em seguida, a jogar às cartas, no café, ou a dar à língua, o tempo que lhes resta para viverem.»
E assiste-se hoje, entre muito humor e algum desespero, a uma série de publicações e diários de quarentena em que os portugueses dão conta de como, de facto, parecem ter-se esquecido de viver. De parar. De se ouvirem respirar. De acordar de manhã sem ter que seguir uma agenda. E não, não digo que teletrabalho equivale a férias. Mas talvez pudesse ajudar a repensar um novo modelo de trabalho, que nos permita ter mais tempo para nós e para os nossos. Ou simplesmente para nós, porque sim, defendo o egoísmo e acredito que cada dia passado na nossa companhia é tempo precioso.
Mas Camus, ou melhor dizendo, para se ser literariamente ético, o narrador, prossegue com deliciosa ironia: «Mas há cidades e países onde as pessoas têm, de tempos a tempos, a suspeita de que existe mais alguma coisa. Isso, em geral, não lhes modifica a vida.»
Tornaram-se virais publicações de como a poluição se reduziu drasticamente desde a proliferação do Covid-19, e de como golfinhos e cisnes voltaram a Veneza, porém, tal como um vírus, estas são nocivas, pois são mentira. Num momento de crise, em que o maior perigo é invisível e vem do outro, o mundo viu-se obrigado a parar. O país inteiro viu-se obrigado a parar. E esta pode ser uma excelente oportunidade para repensarmos o nosso papel, o nosso propósito, o nosso caminho. Ou, como alerta Camus-narrador, podemos simplesmente passar pelos sinais de alerta sem que nada se modifique em nós. Ver artigo
Uma das obras mais controversas de Roth é também a mais recente publicada pela Dom Quixote, que já publicou mais 19 obras, e que, tal como as 11 anteriores, conta com tradução de Francisco Agarez.
Originalmente publicada em 1993, Operação Shylock tem o subtítulo Uma Confissão. Se nalgumas das suas obras emblemáticas é manifesta a presença de elementos autobiográficos, o autor vai mais longe nesta obra irreverente, em que assume a autoficção ao extremo, dando forma física a um segundo Philip Roth, conforme anuncia logo na sua primeira frase: «Soube da existência do outro Philip Roth em janeiro de 1988» (p. 17).
Philip Roth, o autor, descobre que há um impostor a fazer-se passar por ele e que ainda por cima advoga a fantástica e mirabolante teoria do diasporismo: «O diasporismo propõe-se reconstruir tudo, não num Médio Oriente hostil e ameaçador, mas sim naquelas terras onde em tempos tudo floresceu, ao mesmo tempo que procura evitar a catástrofe de um segundo Holocausto causado pelo esgotamento do sionismo como força política e ideológica» (51) Ou seja, cinquenta anos depois, reinstalar judeus na Polónia, na Roménia, na Alemanha, num caminho inverso ao genocídio nazi.
Operação Shylock é assim um arrojado exercício de metaficção, com momentos hilariantes, em que o autor põe a nu os seus próprios mecanismos de escrita e a forma como se desdobra nas suas personagens: «Embora a ideia tivesse provavelmente sido suscitada pelo comentário de Aharon, de que tinha a sensação de estar a ler-me uma história escrita por mim, a verdade é que não passava de mais de uma ridícula tentativa minha de converter numa construção mental daquelas que, por profissão, tão bem conhecia aquilo que mais uma vez se havia revelado em toda a sua realidade objetiva. É Zuckerman, pensei, temperamentalmente, estupidamente, fantasiosamente, é Kepesh, é Tarnopol e Portnoy – são todos eles num só, evadidos dos livros e sarcasticamente reconstituídos como um único fac-símile satírico de mim.» Em suma, se não é alucinação, nem sonho, «então só pode ser literatura» (p. 38).
Nascido em 1933 e falecido em 2018, é dos autores norte-americanos mais destacados, que invariavelmente aborda a temática judaica, de forma bastante controversa, o que lhe valeu o ódio de uma parte da comunidade. Voltarei a Roth, um dos meus autores favoritos, dentro em breve com A Conspiração contra a América, provavelmente a mais premiada das suas obras, cuja adaptação a série televisiva está agora a ser exibida. Ver artigo
Fábrica de mentiras – Viagem ao mundo das fake news, de Paulo Pena, é um livro de leitura urgente, publicado pela Objectiva. Jornalista premiado e investigador do Diário de Notícias, o autor nasceu em Lisboa em 1973, foi editor da revista Visão, e conduziu uma investigação cuidada em que disseca notícias falsas, que são usualmente as mais amplamente difundidas e comentadas nas redes sociais, e denuncia alguns sítios electrónicos que se dedicam à desinformação.
Hoje aquilo que é considerado viral no mundo digital significa que é um êxito, o que não deixa de ser curioso se considerarmos estes tempos estranhos em que é decretada uma pandemia. E o que Paulo Pena faz é justamente demonstrar como as notícias falsas são, também elas, uma epidemia global, capaz de destabilizar sistemas democráticos e alimentar o ódio que engrossa as fileiras da extrema-direita. Essa é aliás uma das prioridades que deveria ser em conta actualmente pelos governos: controlar a desinformação viral, que pode ser fatal, sobre este novo vírus. Até porque fenómenos como o Brexit, a eleição de Trump ou de Bolsonaro são justamente sintomas do efeito da desinformação e das mentiras propagadas como verdades, determinantes para decidir eleições e provocar resultados inimagináveis.
Em Portugal, onde 63% das pessoas afirmam manter-se informadas consultando as notícias disseminadas nas redes sociais, existem mais de 40 sites especialmente destinados a produzir informação falsa, além de também se dedicam a copiar o que outros jornais escrevem. Mas para que as fake news se propaguem e cheguem a um número estimado em 2,5 milhões de utilizadores de redes sociais é preciso que esta informação seja partilhada pelas massas. A publicidade já era a principal fonte de receitas do jornalismo, além do público que paga e subscreve o acesso à informação, mas hoje qualquer anunciante pode recorrer directamente ao Facebook ou à Google para chegar ao público específico que lhe interessa, e por isso, uma mentira eficaz, ou um título inexacto e enganoso numa notícia é o melhor garante para um maior número de clicks que, por conseguinte, se traduzem em mais dinheiro para os autores.
Os nossos dados privados são hoje mercadoria valiosa, uma espécie de novo petróleo. E estão disponíveis online, podendo ser analisados por algoritmos que trabalham num sistema de inteligência artificial que filtram a informação que “sabem” que nos pode interessar, enredando-nos nas malhas desta rede digital: «o negócio somos nós. Ao entregarmos a estas plataformas, gratuitamente, os nossos dados, informação não editada sobre nós e sobre a vida que levamos, permite-lhes oferecer-nos, em troca, os serviços que elas criaram. Pode parecer justo e inconsequente, mas, na verdade, é o equivalente moderno daqueles encontros comerciais entre europeus e nativos americanos no século XVI: um colar de contas de vidro em troca de ouro.» (p. 16) Ver artigo
Se há livro cuja leitura se revelou bastante adequada a estes estranhos tempos que vivemos, não hesito em apontar este livro que é já um clássico. O último livro de Italo Calvino publicado em vida (cuja obra é editada entre nós pela Dom Quixote) parece representar uma indagação filosófica em torno de um sentido para o mundo, para as coisas do mundo, para o sentido de nós próprios no mundo. Com uma estrutura rigorosamente delineada, a narrativa reparte-se em 3 partes, que por sua vez se subdividem em 3 secções ou capítulos, que por conseguinte também se dividem de forma tripartida.
O senhor Palomar é um homem nervoso, tenso e inseguro, ou não vivesse ele num «mundo frenético e congestionado» (p. 15), apesar de tentar manter as suas sensações sob controlo e reduzir ao máximo as suas relações com o mundo exterior. Mas é também no mundo exterior que ele procura um sentido para o mundo – e não é por acaso que tem o nome de um famoso observatório da Califórnia, hoje conhecido como telescópio Hale – a partir da observação dos mais variados elementos: uma onda; a espada de luz solar que cai no mar; um seio feminino (a que ele tenta mostrar indiferença); o eros no choque de carapaças de duas tartarugas; os planetas e estrelas, vistos a olho nu; uma osga ou uma revoada de estorninhos; um prado; banha de ganso; queijos; etc.; etc…
E conforme Palomar procura deter-se apenas na superfície das coisas, observando-as do lado de fora, a sua observação conduz-nos às suas próprias indagações e meditações: «Palomar está distraído, deixou de arrancar as ervas daninhas, já não está a pensar no prado: pensa no universo. Está a tentar aplicar ao universo tudo aquilo que pensou a propósito do prado. O universo como cosmos regular e ordenado ou como proliferação caótica. O universo que talvez seja finito mas que é inumerável, instável nos seus confins, que se abre dentro de si a outros universos. O universo, conjunto de corpos celestes, nebulosas, poeiras, campos de força, interseções de campos, conjunto de conjuntos…» (p. 45)
O senhor Palomar é, muito certamente, o autor Italo Calvino – como se afirma aliás na contracapa do livro –, podendo este livro ser uma espécie de testemunho das suas mais ousadas e prementes inquietações existenciais ou meras reflexões levadas ao sabor do vento. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016