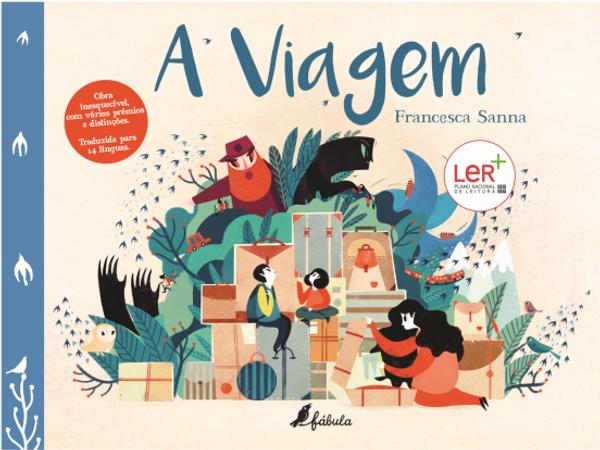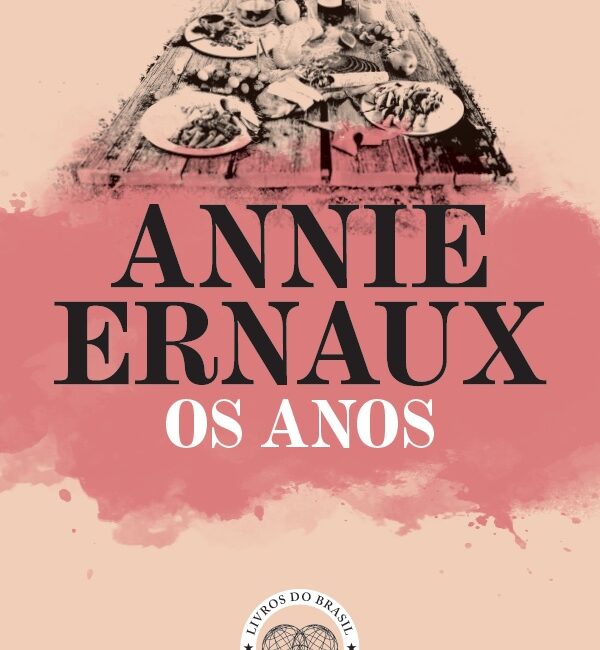O segundo romance de James Baldwin, O Quarto de Giovanni, publicado pela Alfaguara, é talvez o mais peculiar, e também o que mais atrito provocou, com a recusa do seu editor em publicá-lo, sugerindo-lhe antes que incendiasse o manuscrito. Contudo viria a tornar-se obra de culto.
James Baldwin, como se sabe (e podem sempre rever o documentário I Am Not Your Negro), nasceu em 1924 em Nova Iorque, cresceu no bairro de Harlem, e viajou depois para Paris em busca de liberdade para se encontrar como homem negro e homossexual (curiosamente surge inclusive no romance uma passagem em que essa expressão é discutida – p. 32).
A homossexualidade irrompe como tema central deste segundo romance, contudo qualquer ilusão de confessionalidade (acentuada pela epígrafe do livro «Eu sou o homem, eu sofri, eu estava lá.», de Walt Whitman) é estilhaçada logo no início, quando a personagem principal se observa narcisicamente:
«Olho para o meu reflexo no brilho cada vez mais pálido da janela. O meu reflexo é alto, talvez um pouco como uma seta, o meu cabelo louro brilha. O meu rosto é como um rosto que vocês já viram muitas vezes. Os meus antepassados conquistaram um continente, atravessando planícies repletas de morte até chegarem a um oceano virado de costas para a Europa e de frente para um passado mais sombrio.» (p. 13)
David, o narrador, alto e possante como um atleta, tem corpo de deus grego e nome de anjo, a condizer com a sua palidez e o seu fulgor dourado. Este jovem nova-iorquino, cerca de vinte e sete anos, vive sem compromisso nem fito a folie e a joie de vivre parisiense, enquanto a namorada Hella se passeia por Espanha. Até que conhece outro expatriado em Paris, o belo, sedutor e impertinente Giovanni, um italiano que lhe revelará a natureza secreta dos seus desejos mais obscuros e reprimidos. Se este quarto de criada, «claustrofóbico», é refúgio próprio de amantes, condizente com a sua baixa condição social e com a clandestinidade da sua intensa relação (não isenta de vergonha), é ainda metáfora de dois jovens que estão no limiar da vida adulta, sem casa ou família. Mas esse «miserável armário que faz de quarto», «minúsculo e nojento» (p. 161), que chega a surgir animizado como se se tratasse de um monstro de pesadelo, pode ser também um «caminho de regresso», «um quarto familiar na escuridão em que eu tacteava para encontrar a luz.» (p. 139)
Ao publicar esta obra em 1956, James Baldwin quebra portanto mais do que um tabu, pois em vez de escrever sobre a homossexualidade na pele de um negro, afirma-se como um autor negro a escrever sobre o amor entre dois homens brancos. Um romance que tem tanto de trágico, no que se refere ao desfecho de Giovanni, como de inspirador, pois é quando Hella deixa David que ele parece assentar todas as suas ideias por escrito e preparar-se para recomeçar. Como se não houvesse mais tempo ou mais vidas a desperdiçar.
«Lembro-me de ter a sensação de que a vida neste quarto decorria debaixo das águas do mar. O tempo passava indiferentemente sobre nós; horas e dias não tinham qualquer significado. No início, a nossa vida a dois comportava uma alegria e um maravilhamento que renasciam a cada dia que passava. Sob a alegria, é claro, havia angústia e, sob o maravilhamento, medo, mas estes não nos atormentaram no início, não antes de o nosso glorioso início começar a azedar.» (p. 89) Ver artigo
Cláudia Andrade é a mais recente aposta da Elsinore, editora que discretamente tem vindo a apostar em novas vozes literárias, como João Reis ou Raquel Gaspar Silva, mas sobretudo em autores que além de inéditos trazem uma nova voz ao panorama literário português, uma assinatura de estilo na sua prosa.
Depois do furor causado pelo seu livro de contos Quartos de Final e Outras Histórias, publicado em Setembro de 2019, considerado um dos melhores livros do ano pela crítica, finalista do Prémio Autores 2020 (Melhor Livro de Ficção Narrativa) da Sociedade Portuguesa de Autores, Cláudia Andrade presenteia-nos agora com o seu primeiro romance, Caronte à Espera, que reafirma a força da sua voz na literatura portuguesa. Ver artigo
Todos nós já assistimos, provavelmente, às consequências que a depressão pode ter em quem nos é próximo. Possivelmente até já a conheceram por dentro, na própria pele, ou de perto, com familiares ou amigos. Eu sei que passei dias a observar alguém que se sentava em silêncio na sala e ficava a fitar a televisão, umas vezes sem som, outras desligada. E ficava assim todo o dia, levantando-se quase de tarde e rondando a casa durante a noite. Para adormecer a dor era preciso adormecer a mente. E para muitas pessoas, a depressão é apenas uma “mania”, uma moda, um ócio de gente desocupada… Até que calha acontecer-lhes. Mas a verdade é que pode inclusive matar, como aconteceu há bem pouco tempo com o suicídio de mais uma figura pública.
O novo romance de Rodrigo Guedes de Carvalho, Margarida Espantada, que se segue a Jogos de Raiva e a O Pianista de Hotel (já aqui recenseado), é descrito pelo autor como uma história «sobre família», «violência doméstica e doença mental. É um efeito dominó sobre a dor.»
Esse efeito dominó representado na própria capa pode ser entendido como uma falsa calma que reina sobre os dias e que, subitamente, se desmorona, pois um ínfimo gesto ou uma situação aparentemente banal podem espoletar uma reacção em cadeia, despertando sentimentos reprimidos mas latentes. E pode ter consequências nefastas até para os que estão isentos dessa dor, como acontece com o caso descrito do avião despenhado… Mas este livro vai muito além da depressão, adentrando-se no lado obscuro da mente, passando pela demência, pelo mal (porque este é também um livro sobre a violência doméstica e aqueles que tiram gozo da dor infligida), pela dissociação de personalidade, pelas perturbações e transtornos mentais. Não é por acaso que Joana Ofélia estuda para psicóloga. Em torno da personagem principal que, como o título aponta, é Margarida, sendo também aquela sobre quem menos sabemos – e aquilo que se saberá é sempre a partir da perspectiva dos irmãos e dos outros – chega a haver epsiódios que nos aproximam do sobrenatural, não fosse o caso de sabermos estar a lidar com uma personagem deprimida e fortemente medicada.
Na primeira parte do livro, a narrativa é mais hesitante, lançando pistas que são retomadas na parte final, e parcelada, alternando entre personagens, com constantes analepses e prolepses. Se, primeiro, parece tratar da violência doméstica, depois, conforme conhecemos os vários membros das 2 gerações da família Duval, as várias pontas enlaçam-se e percebe-se que além de um pendor agressivo transmitido de pai para filho, houve algo mais herdado geneticamente. Sabe-se, por exemplo, que os irmãos Manuel Afonso e Margarida Rosa têm em comum um comportamento com «ecos de espectro muito mais suaves e espaçados» no primeiro e «mais constantes e gritantes» na segunda (p. 124). Mas no seio desta família disfuncional, em que quase todos se encontram sozinhos, ou com problemas sérios nos seus relacionamentos, a solidão surge associada à incapacidade de amar o próximo, à excepção de Joana Ofélia, a “benjamim” da família. À solidão comum a todas as personagens subjaz um sentimento de frustração – o que já surgia no romance anterior do autor, O Pianista de Hotel. Aproveitamos também para destacar a referência intranarrativa que é feita a essa outra obra do autor, a certa altura, deixando esse jogo de descoberta a cargo do leitor.
A voz narrativa é distanciada, como quem faz um relato (é curioso que este livro tenha saído primeiro em audiolivro, e narrado na própria voz do autor – se bem que foi a pandemia a principal causa que levou a isso), não permitindo propriamente um envolvimento com as personagens. A prosa é muitas vezes torrentosa, com frases que se distendem em gradações e repetições e enumerações (a copulativa e é constante). Os próprios nomes das personagens denotam alguma ironia, constituíndo-se quase sempre como binómios sonoramente estranhos (Paulo Paulino, Aida Vanda, Margarida Rosa, Joana Ofélia). Torna-se difícil entrar verdadeiramente na história, mesmo nos capítulos finais, de maior tensão narrativa, que alternam entre a inspectora e o psicólogo forense, na sua “perseguição” automóvel, e o que terá acontecido entre os irmãos. Porque a intenção principal da narrativa parece ser a de denunciar o desconcerto do mundo (como se pode ler no capítulo 33, com a enumeração de tudo o que vai mal no mundo, e Margarida já não consegue, perdeu as defesas, o filtro). É também quando «o horror do mundo explode na cara de Margarida Rosa» que tudo se precipita pois, ao saber da morte da irmã (e daí que, conforme o nome indica, Ofélia é também o cordeiro sacrificado ou o fim da bondade possível), Margarida (espantada) deixa-se levar pela única via que conhece, desde criança, de saber lidar com o mundo… quando se deixa submergir na consciência de outrem. Ver artigo
Este vírus que nos enlouquece, de Bernard-Henri Lévy, chega às livrarias justamente hoje, dia 7 de Julho, com o selo da editora Guerra e Paz.
Desengane-se quem achar que este enlouquece significa perder a sanidade mental, pois a forma verbal enlouquece, como se pode perceber nas epígrafes referentes à colecção da editora designada Livros Vermelhos, pretende dar que pensar e, acima de tudo, recordar ao ser humano que a vida não se esgota num vírus, como se tem assistido ao longo da História. O autor começa portanto por lembrar as epidemias surgidas ainda no seu tempo de vida. E enfatiza como o medo, e o empolamento dos meios de comunicação, podem ser a pior epidemia. Medo esse que também acarreta, todavia, consequências positivas, como o cessar-fogo no Iémen, o confinamento do Hezbollah ou afastar o Daesh da Europa de volta às suas cavernas. Porque a covid tornou-se um denominador comum enquanto o maior inimigo da Humanidade. E porque uma epidemia, palavra grega que significa «sobre o povo», pode ser, acima de tudo, «um fenómeno social que tem alguns aspectos médicos» (p. 14).
Afirma o autor que «nunca as coisas foram tão longe». Até porque o próprio poder está «desorientado, sem saber a que santo pedir» (p. 20), pelo que nos viramos para os médicos e virologistas como salva-vidas, fazendo as vezes dos comentadores políticos. Mas a “verdade científica”, a que nós adoramos nos entregar, não é mais do que um “erro rectificado”» (p. 23), pelo que, como se tem visto, a cada dia que passa sai uma informação que contradiz a declaração do dia anterior. E, paradoxalmente, nunca a Humanidade foi tão néscia, ao ponto de querer acreditar na «ideia de que o vírus não é totalmente mau, que tem uma certa virtude oculta, e que, participando nesta “guerra”, até temos motivos para nos alegrar» (p. 36)… Como se percebe nesta passagem, a ironia do autor é bastante premente, ainda mais se tivermos em conta o contexto de declarações como esta que reportam à cidade de Paris aquando da entrada das tropas alemãs em 1940.
O livro está bastante colado à realidade francesa, ou não fosse Bernard-Henri Lévy também um cronista, mas isso não retira qualquer mérito. Porque o autor é também epistemólogo de formação, entrou na filosofia pela porta da história das ciências e é autor de um estudo de mestrado consagrado à história da medicina, pelo que está bastante bem posicionado para reflectir de forma abrangente e crítica sobre a(s) crise(s) desencadeada(s) pela irrupção do coronavírus. Concluímos com as palavras do autor quando contesta os que acreditam que o coronavírus «fala connosco», «secretamente imbuído (…) de uma parte do espírito do mundo, e, portanto, de uma missão»: «Como se um vírus pensasse! Como se um vírus soubesse! Como se um vírus quisesse! Como se um vírus vivesse!» (p. 38-39). Ver artigo
Olive Kitteridge, a série de 4 episódios, exibida entre 2016 e 2017 no outrora TvSéries, demarca-se por uma interpretação fantástica de Frances McDormand. Olive Kitteridge mostra-nos como se pode viver com a depressão mesmo quando o passado nos persegue ou quando o nosso cérebro nos faz ver monstros. Na verdade, Olive não parece assombrada pelo demónio da depressão, antes surge como uma mulher de um sentido prático a toda a prova e capaz de um imenso desapego, como quem não permite espaço ao supérfluo da vida, capaz de um humor cáustico que nos arranca gargalhadas em vários momentos, enquanto o marido contrabalança a sua aparente frieza com a sua candura. É também uma exemplar demonstração de como as relações entre mães e filhos podem ser difíceis, como quando Olive e o filho se reúnem após uma ausência mais prolongada e o seu diálogo soa a duelo de esgrima.
O livro de Elizabeth Strout, vencedor do Pulitzer, chega agora pela Alfaguara, que já traduziu e publicou outros livros da autora entre nós, também aqui apresentados, como O meu nome é Lucy Barton e Tudo é possível. Ver artigo
Cláudia Andrade é a mais recente aposta da Elsinore, editora que discretamente tem vindo a apostar em novas vozes literárias, como João Reis ou Raquel Gaspar Silva, mas sobretudo em autores que além de inéditos trazem uma nova voz ao panorama literário português, uma assinatura de estilo na sua prosa.
Depois do furor causado pelo seu livro de contos Quartos de Final e Outras Histórias, publicado em Setembro de 2019, considerado um dos melhores livros do ano pela crítica, finalista do Prémio Autores 2020 (Melhor Livro de Ficção Narrativa) da Sociedade Portuguesa de Autores, Cláudia Andrade presenteia-nos agora com o seu primeiro romance, Caronte à Espera, que reafirma a força da sua voz na literatura portuguesa. Ver artigo
Na linha do pensamento que transparece em Elogio da Lentidão (2018), também publicado pelas Edições 70, Lamberto Maffei faz, neste Elogio da Rebeldia, um diagnóstico desapiedado da situação actual, da economia à política.
Lenta é também a forma como o autor expõe o seu pensamento, ao longo de diversos capítulos que parecem desligados entre si, até que, da crítica à sociedade actual, dominada pela tecnologia e capitalismo, e de como o indíviduo, apesar do excesso de estímulos que induzem o cérebro em frenética atividade, sente-se mais solitário do que nunca. Ver artigo
A 20 de junho celebra-se o Dia Mundial do Refugiado, pelo que esta Leitura da Semana decidiu assinalar esta data (e temática) com a obra de literatura infantil intitulada A Viagem, da autoria de Francesca Sanna, publicada pela Fábula (Grupo 20|20), porque a literatura para crianças também pode ser séria e ajudar a colocar questões sobre o mundo em que vivemos, onde vagas de migrantes continuam a chegar às nossas costas. «Como será deixar tudo para trás e percorrer quilómetros e quilómetros rumo a um destino longínquo e estranho?»
Tal como os pássaros, as pessoas também migram para novos países, e assim foi desde o princípio dos tempos, até se começarem a estabelecer em povoações conforme se desenvolveu a agricultura. Migram em busca de uma nova casa, para fugir à guerra, a perseguições, a condições de vida desumanas cujos direitos humanos são violados todos os dias. Mas ao contrário dos pássaros, que não têm de atravessar muros ou fronteiras, os migrantes empreendem longas viagens em que quanto mais distância se percorre mais se vai deixando pelo caminho. E tal como ainda hoje acontece, esta história não tem fim, pois como o fecho do livro indica «Espero que, um dia, como estes pássaros, também nós encontremos uma nova casa. (…) onde possamos recomeçar a nossa história.»
O livro é belissimamente ilustrado, sendo que nesta narrativa existe perfeito diálogo entre texto e ilustração. Contudo, muitas vezes, as imagens do livro também contam a sua própria história, paralelamente ao texto, sem recurso a palavras; como acontece com o mar pintado de preto que cresce até tomar as proporções de um monstro, pois é assim que os perigos enfrentados surgem representados, como gigantes sempre prestes a apanhar a mãe e os filhos. Mas a escuridão também pode ser benigna e ajudar os nossos fugitivos a encontrar um novo lar, como se verá…
É um livro altamente recomendável para pais e educadores, a que não falta um Guião de Exploração da obra criado pela Amnistia Internacional do Reino Unido; multipremiado, com excelentes críticas internacionais, e cuja edição tem o apoio do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e da Amnistia Internacional (AI). Podíamos até apontar A Viagem, de Francesca Sanna, como uma belíssima obra de ficção, não fosse o facto de continuar a haver milhares de refugiados a procurar refúgio em países como Portugal, cuja cooperação internacional está fortemente empenhada na protecção, assistência, acolhimento e integração de refugiados e migrantes. Aliás, a autora deste livro inspirou-se na história de duas jovens refugiadas que conheceu em Itália e entrevistou inúmeras famílias de refugiados na Europa. Ver artigo
Os Anos, de Annie Ernaux, publicado pela Livros do Brasil não é um romance convencional. Se nas primeiras páginas, que constituem como que um primeiro capítulo, nos surge um género de inventário de imagens, de instantâneos, como um dicionário que vai do berço à morte, a partir daí as restantes quase 200 páginas do romance desdobram-se como uma crónica dos tempos. Listam-se fotografias, resgatadas a um arquivo familiar, começando pela primeira foto de um bebé, em 1941; recuperam-se, seguidamente, narrativas familiares que são, como se refere, indissociáveis das narrativas sociais; citam-se ocasionalmente frases retiradas de um diário; existem inclusive passagens que desenham o plano do livro que intenta «captar o reflexo projetado pela história coletiva no ecrã da memória individual» (p. 43). Mas a narração destas memórias, que vai de 1941 a 2006, é sempre apresentada na 3.ª pessoa, referindo-se a uma «ela», tecendo uma narrativa distanciada e exterior por ser uma história colectiva e transpessoal, mas também, possivelmente, por ser essa a ideia central representada no romance: a ideia do que realmente fica de nós, ao passar pelo mundo, e o pouco que conseguimos lembrar da pessoa que fomos, conforme passam os anos, tal como «ela» (essa mulher nunca nomeada) não se consegue reencontrar na pessoa que foi e já mal consegue lembrar.
«Gostaria de reunir múltiplas imagens dela própria, separadas, sem relação entre si, ligadas por um fio narrativo, o da sua existência, desde a Segunda Guerra Mundial até aos dias de hoje. Uma existência particular, portanto, mas também incorporada no movimento de uma geração.» (p. 144)
Definir, portanto, esta reconstrução dos 60 anos da vida de uma mulher, que por sua vez se inscreve na história de um país, França, como um romance biográfico seria bastante simplista. Este livro inédito em Portugal, agora publicado na coleção Dois Mundos, recupera mais de meio século da história do mundo, em décadas decisivas, detendo-se muito particularmente no Maio de 68.
Os Anos foi editado em França em 2008, no mesmo ano em que a autora foi galardoada com o Prémio de Língua Francesa pelo conjunto da sua obra. Esta obra confirma Annie Ernaux como uma das mais importantes vozes da literatura francesa, recebeu várias distinções, como o Prémio Marguerite Duras 2008 e o Prémio Strega 2016, e foi finalista do Prémio Man Booker Internacional de 2019. Ver artigo
“[Recensão crítica a ‘Autópsia de Um Mar de Ruínas’, de João de Melo]” / Paulo Serra. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 198, Maio 2018, p. 246-249 Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016