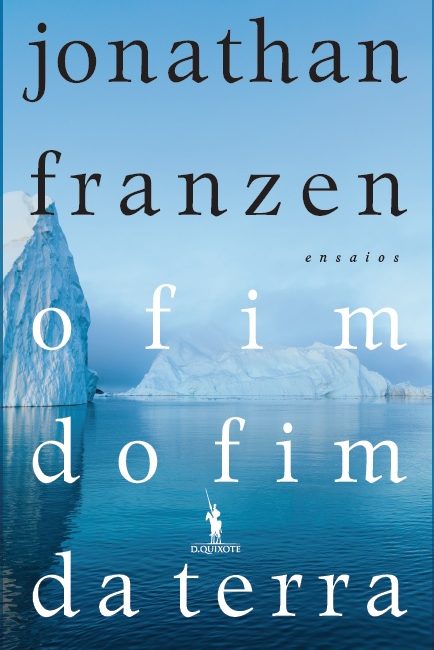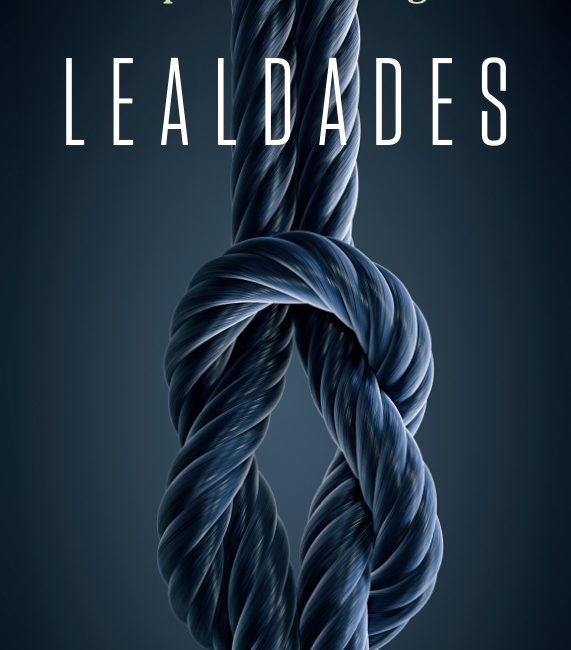Em resposta a esta pergunta, Mary Midgley escreve um manifesto em que analisa e entretece algumas das questões mais prementes da actualidade, como o papel das humanidades na educação, o aquecimento global, e em particular as consequências da evolução científica e tecnológica.
Procurando responder aos materialistas que alegam que só a máquina e a ciência interessam à vida, a autora demonstra como até os escritores de ficção científica foram capazes de antever os perigos da supremacia constantemente atribuída à matéria, como no caso dos cientistas que apregoam as virtudes da inteligência artificial e da superioridade do computador ao homem mas são incapazes de perceber que passar da confiança em Deus para um mundo regido por máquinas é passar ao lado do poder da nossa mente e do nosso livre-arbítrio como a única forma de encontrar respostas e tomar decisões sensatas.
A primeira parte do livro, apesar da linguagem clara, é um pouco mais vaga, talvez porque a autora se aproxima do tema que lhe interessa numa circunvolução, e só a partir de metade do livro é que une as pontas das várias ideias que foi colocando como pistas. Ela própria parece reconhecer esse método de abordagem quando a certa altura afirma: «As pessoas perguntam-me por vezes qual é o tópico sobre o qual investigo e eu respondo que não faço a mínima ideia» (p. 23). Começando por alertar para os perigos da crescente especialização e compartimentação do saber, a autora procura depois defender como a filosofia, ciência que levanta mais perguntas do que respostas, é essencial à formação do ser humano, sendo a sua tarefa central «lidar com problemas que são radicalmente irresolutos» (p. 64): «A filosofia olha para as diferentes maneiras de pensar e tenta mapear a sua relação. É uma forma de dar sentido ao todo. (…) Assim, a razão pela qual alguns filósofos acabam por ser recordados não é por terem revelado novos factos, mas por terem sugerido novas formas de pensar que implicam novas formas de viver» (p. 73).
Recorrendo às palavras da escritora Iris Murdoch, Mary Midgley procura explanar como é insuficiente pensarmos que o mundo se cinge ao visível e palpável, quando afinal somos seres modelados social e culturalmente: «cada um de nós tem um mundo com um grande enquadramento que a nossa cultura nos fornece já pronto» (p. 69). E nessa compreensão do mundo em que emergimos e imergimos a literatura tem, a par da filosofia, um papel crucial para «figurar e compreender situações humanas» (p. 70), além de que a própria ciência se subsume em conclusões, tecidas com palavras, cuja influência na nossa saúde e sanidade mental é tão poderosa como a nossa dieta e capaz de enraizar hábitos profundos.
Este livro é uma análise lúcida de uma mente brilhante, com a capacidade de clarificar o complexo e de não se deixar desviar das questões verdadeiramente essenciais à vida, ao contrário dos materialistas que reivindicam a era da tecnologia e da máquina (um “escravo sem mente”) como o único e desejável futuro: «As confusões que agora afligem a vida humana não são sobretudo devidas a falta de inteligência, mas a causas humanas vulgares, como a ganância, o preconceito, a parvoíce, a avareza, a ignorância, a ira, a falta de bom senso, a falta de interesse, a falt de sentimento público, a falta de trabalho em equipa, a falta de experiência, a falta de consciência e talvez devido sobretudo à ausência de reflexão.» (p. 210)
Mary Midgley foi professora de Filosofia na Universidade de NewCastle entre 1962 e 1980. Escreveu profusamente sobre a natureza humana, a ética, a ciência, o ambiente, e faleceu o ano passado, no mesmo ano em que este livro foi publicado, agora traduzido e lançado entre nós pela Temas e Debates. E porque escreveu a autora este livro – ou porque se defende aqui a sua leitura essencial?
«O que faz com que escreva livros é em geral a exasperação contra todo o credo redutor, cienticista, mecanicista e fantasista que continua a distorcer constantemente a imagem do mundo da nossa era. Esse credo (…) continua a ostentar o lisonjeiro nome de mentalidade “moderna”.» (p. 211) Ver artigo
O livro Felicidade, à semelhança do Resiliência, aqui apresentado há semanas, integra a colecção Inteligência Emocional da Harvard Business Review (HBR), lançada pela Actual Editora (chancela da Almedina) e que consiste em «artigos inteligentes, essenciais sobre o lado humano da vida profissional».
Ao longo de 7 breves textos, adaptados a partir de artigos mais extensos publicados na HBR, desconstroem-se mitos, como o de que os sentimentos não são essenciais ao trabalho e ao bom desempenho profissional: «Afinal, o modo como nos sentimos está ligado àquilo que pensamos e à forma como pensamos. Por outras palavras, o pensamento influencia a emoção e a emoção influencia o pensamento.» (p. 21)
A própria ciência tem comprovado, e há cada vez mais publicações recentes sobre estes assuntos, como existem claras ligações entre sentimentos, pensamentos e acções. E para nos sentirmos bem, é essencial não gostar, simplesmente, do que se faz, mas ter uma boa relação com superiores e com colegas, e uma visão clara e abrangente do trabalho que é feito. A felicidade pode afinal ser um conceito inefável, evasivo, por vezes enganoso, na forma como o aplicam, mas está inextrincavelmente ligada àquilo que define o ser humano que é, acima de tudo, um ser social. E é uma felicidade construída, não simplesmente um estado de alma que se atinge com meditação ou práticas como o mindfullness, incorporadas na rotina de muitas empresas, mas com a realização de pequenos actos, simples gestos que trazem alegria e cor aos dias, pois tal como a perda de pesa, a felicidade é um estado cumulativo, atingido, especialmente, com o que fazemos no nosso tempo livre.
«Uma pessoa que tem uma dúzia de acontecimentos moderadamente agradáveis todos os dias será, em princípio, mais feliz do que alguém a quem aconteça algo de verdadeiramente sensacional. Por isso, use sapatos confortáveis, dê um grande beijo à sua mulher, roube uma batata frita. Parecem pequenas coisas, e são. Mas as pequenas coisas são importantes.» (p. 39)
O último artigo, convenientemente guardado para o fim, desmonta ainda afinal o conceito de felicidade pois medi-la é «como medir a temperatura da alma ou determinar a cor exata do amor» (p. 119)
A felicidade pode estimular a produtividade e as empresas investem cada vez mais em acções de formação sobre a felicidade, sendo quase certo que os funcionários felizes não se despedem e procuram satisfazer os clientes, mas as pesquisas realizadas nem sempre permitem conclusões tão definitivas. Concentrarmo-nos na felicidade pode aliás fazer-nos correr atrás de uma ilusão e fazer-nos sentir menos felizes, pode tornar-se um dever, pode tornar-se uma mentira. Ver artigo
Nuno Júdice, nascido na Mexilhoeira Grande, Algarve, em 1949, volta à prosa com esta novela, três anos depois da publicação de A Conspiração Cellamare, aqui apresentado. São 135 páginas em que o autor nos brinda com a sua deliciosa e irónica prosa narrativa, onde tergiversa sobre os mais diversos assuntos, não em jeito de crónica, mas como quem entretece uma vasta teia em que todos os assuntos se podem discutir e muitas vezes interligar, quase como uma conversa de café. Como vem a ser hábito na sua ficção, o autor entrecruza a memória com a crónica, enquanto parece desmontar a natureza da própria arte de narrar, num aliciante jogo com o leitor de desvelamento de técnicas ou estratégias autorais: «Nunca soube qual a melhor maneira de começar um romance, ou antes, talvez sempre tenha sabido a pior maneira de o começar. Diz-se que é preciso ambição, que temos de olhar para o fim e não para o princípio.» (p. 9)
É um pouco a medo que nos aventuramos nesta incursão sobre a novela de Nuno Júdice, pois entre as várias farpas lançadas pelo autor, não escapa a crítica aos críticos de literatura, que aliás figura logo em epígrafe no início do livro com uma passagem de Aquilino Ribeiro: «Imagino que a política literária, verdadeira, muito útil à literatura e particularmente aos seus cultores, está em os chamados críticos dos jornais diários falarem dos livros aparecidos dentro do período do ferro quente, em que a sezão não se completou ainda e a curiosidade do público está alvoroçada ou se imagina estar.»
O certo é que a prosa de Nuno Júdice é irreverente, como quando compara a inspiração ao zumbido de um mosquito importuno, e o diálogo irónico que estabelece com o leitor diverte e envolve não pela substância da história mas pela forma como se predispõe a contar: «Estou a ver, neste momento, as dúvidas que começam a surgir: ao fim de várias páginas, e para além de um significativo conjunto de insectos ainda não há um único personagem?» (p. 23)
Mas quem leu as anteriores obras de ficção sabe que raramente a personagem é outra que não a figura do narrador. Até porque a «personagem é um ser incómodo para o escritor. Precisa de um nome, de um corpo, de uma psicologia – a não ser que o livro seja daqueles que contraria essa exigência – e de um contexto.» (p. 23)
Não se quer com isto defender as virtudes do diarista sobre as do cronista ou do narrador, pois num diário o escritor «pode confessar as suas tristezas, os seus males, pode dizer como está feliz ou infeliz» mas «tudo parece construído a partir de situações e de cenários que temos dificuldade em reconhecer na realidade porque ninguém, alguma vez, usaria aforismos tão profundos no seu quotidiano» (p. 39).
E nem sempre os autores precisam do diário para falar de si, como é o caso de Gustave Flaubert que ao escrever a história de Emma Bovary escreve a sua prórpia história… O autor-narrador de O Café de Lenine reflecte assim sobre a arte do romance e de escrever, enquanto evoca o próprio conjunto da literatura, ou da biblioteca pessoal que aqui lhe diz respeito, invocando nomes maiores e personagens que ganham vida na contemporaneidade destas páginas, como Julian Barnes, Camões, Daniel Defoe, Sartre, Khalil Gibran, Teixeira Gomes, Antero, Stendhal, e coloca Guerra Junqueiro a discutir com Lenine num café sobre Rousseau.
Na literatura, afinal, não há convenções nem limites para as possibilidades da ficção, e no pensamento do leitor de hoje tudo pode conviver em harmonia, até quando Emma Bovary entra no quarto de hotel do narrador, ou quando Camille Claudel o convida para o seu atelier. Ver artigo
A crónica é, como se sabe, um texto apresentado na primeira pessoa, apresentando a visão subjectiva do cronista sobre os mais variados eventos do quotidiano. De natureza interpretativa e reflexiva, são textos que surgem nos jornais ou revistas em que o cronista filtra o mundo em seu redor e as mais variadas situações. Mas num tempo de crise para a comunicação, em que o clickbait supera a veracidade das notícias, qual é o espaço que sobra para a crónica? E qual é o tempo que o leitor ainda se digna dispender, para ler a opinião de alguém que se acredita ser melhor informado, quando hoje a informação é cada vez mais facilmente acessível e todos têm direito à sua opinião, plasmando-a nos mais diversos meios, de redes sociais a blogues?
Esta antologia de crónicas jornalísticas, publicada em Abril de 2018 pela Tinta-da-china, reúne mais de 60 textos de Pedro Mexia, publicados, na sua maioria, no Expresso entre 2011 e 2017, outros tantos no Público, e algumas crónicas publicadas ainda noutras publicações, algumas delas inclusive já reunidas anteriormente em volume – Nada de Melancolia, também com a chacela da Tinta-da-china, em 2008.
Lê-se na contracapa, e a negar de alguma forma o título, que «Lá Fora não é um livro sobre viagens demoradas a lugares exóticos, passeios venturosos a altas montanhas ou selvas escuras, ou grandes temporadas em metrópoles sofisticadas». Pedro Mexia descreve «lugares por onde passou e que, de alguma forma, não esqueceu», como Maputo («O país dos outros») ou Londres («Londres chama»), cidade com a qual mais se identifica e que o reconcilia «com o facto de estar vivo». Redescobre Lisboa («Lisboa, cidade aberta») e a modernização do seu plano urbanístico por Ressano Garcia, entre 1879 e 1903, ou vê Portugal na época da ditadura pelos olhos de quem o visitou de fora («Cartas portuguesas»). Mas Pedro Mexia escreve sobretudo sobre lugares mentais e por isso escreve também sobre os «não-lugares» («Terminal de aeroporto»), pois estas crónicas não são somente viagens, mas sobretudo o olhar do cronista sobre o mundo lá fora e com o devido distanciamento, capaz de permitir uma autoironia. Aliás, Mexia opta, em diversos momentos, por deixar as suas interrogações, sem pretender arrogar-se como detentor de uma verdade imposta a outrem.
Numa prosa clara, com rasgos poéticos, em que as vozes da literatura ressoam, com citações e revisitações a autores (mas também ao cinema ou à música), este livro de crónicas é intemporal e merece o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários da Associação Portuguesa de Escritores (APE), anunciado no passado dia 9 de Maio. O prémio de 12 mil euros será recebido pelo autor no próximo dia 30 de Maio em Loulé, uma vez que a Câmara Municipal é parceira deste galardão. Ver artigo
Sensivelmente um ano depois de Um Gentleman em Moscovo, a Dom Quixote publica As Regras da Cortesia e, novamente, numa belíssima edição de capa dura, com excelente tradução de Tânia Ganho, que aliás enriquece a leitura com contexto sócio-cultural relativo ao cenário e indica cirurgicamente as alusões e jogos literários que pontuam a narrativa. Apesar de publicada em segundo lugar, esta foi a obra de estreia de Amor Towles. O autor nasceu em Boston, formou-se em Yale e este seu primeiro romance, originalmente publicado em 2011, foi considerado um dos melhores livros do ano pelo Wall Street Journal, traduzido para mais de 15 línguas e teve os direitos de adaptação ao cinema comprados – pode-se aliás imaginar uma adaptação ao estilo do The Great Gatsby de Baz Luhrmann. O escritor trabalhou durante 20 anos como investidor e dedica-se agora exclusivamente à escrita.
A acção inicia na última noite do ano de 1937, quando Katey, filha de emigrantes russos, e Eve, a sua colega e quarto e melhor amiga, conhecem Tinker, um jovem banqueiro e um verdadeiro cavalheiro, envolto no seu sobretudo de caxemira, num clube de jazz com o esperançoso nome de The Hotspot. Contado a partir da sua perspectiva numa sábia e bem-sucedida meia-idade, cerca de 30 anos depois, Katey vai relembrar como se apaixonou, como viveu e sofreu, como iniciou a sua escalada social. E, apesar de ser sempre um tema delicado e uma declaração passível de polémica, a voz narrativa na primeira pessoa, filtrada pela perspectiva da protagonista, é de tal modo bem conseguida que sentimos que o autor do romance é, na verdade, uma mulher.
Neste livro ressoa ainda a paixão do autor pela Rússia (cenário do seu segundo romance) e pelos autores russos, além de haver um constante jogo intertextual com diversas obras, poemas e autores. O próprio título da obra é adaptado a partir de um guia de boas maneiras de George Washington e quase todos os títulos de capítulos contêm referências literárias, ou não fosse a jovem heroína uma leitora inveterada. Note-se aliás esta passagem: «Coberta de neve em pó, Washington Square não podia estar mais bonita. (…) No número 25, uma mão abriu uma cortina no primeiro andar e o fantasma de Edith Wharton contemplou a praça com tímida inveja. Doce, perspicaz, assexuada, observou-nos a passar, perguntando-se quando é que o amor que ela imaginara com tanta mestria ganharia coragem para lhe bater à porta.» (p. 36)
É curiosa a tímida dicotomia que se tece entre a vida na alta sociedade e a maravilha de nos retirarmos do mundo e viver em simplicidade como no Walden de Henry David Thoreau, mas é inegável que a verdadeira protagonista deste romance é a sedutora cidade de Nova Iorque, quando emerge vitoriosa do fim da Depressão, apesar da guerra que se avizinha na Europa.
Através de Tinker, Katey conhece toda uma nova sociedade e descobre o conforto do luxo, mas sem nunca se deslumbrar: «quando uma pessoa perde a capacidade de tirar prazer do mundano – do cigarro fumado na soleira de casa ou da bolacha de gengibre comida no banho e imersão –, provavelmente colocou-se numa situação de perigo desnecessário.» Podemos até não concordar com estes pequenos prazeres, e optar por outros, mas o certo é que «temos de estar prontos para lutar pelos prazeres simples da vida e para os defender da elegância, da erudição e de toda a espécie de tentações cheias de glamour.» (p. 159) Para nós leitores, este será certamente um desses prazeres da vida. Ver artigo
Depois de se ter aqui apresentado Breviário Mediterrânico, chega a vez deste livro de Paul Theroux, obra inaugural de Terra Incognita, a colecção de literatura de viagens da Quetzal, num formato especial, que muito promete a quem não gosta de turismo, mas fazem da viagem um modo de viver e de conhecer o mundo.
Com dezenas de livros publicados, vários deles publicados em Portugal pela Quetzal, tendo vivido fora dos Estados Unidos por uma década, pela Europa, Ásia e África, como professor ou escritor em serviço, esta é a primeira vez que o autor viaja justamente com o intuito de escrever, mas o risco assumido de escrever sobre uma viagem que não implica ficção, nem autoficção, nem um plano estudado, resultou num êxito de vendas, originalmente publicado entre nós em 2008. Como o próprio autor elucida no prefácio: «O livro de viagens era uma maçada. Era um maçador que o escrevia e eram uns maçadores que o liam.» (p. 11)
Neste denso relato de quase 400 páginas, que intenta tão somente fazer o relato de uma viagem, com partida em Londres no Expresso do Oriente, e atravessando a Turquia, o Irão, o Balochistão, Paquistão, Vietname, China, Mongólia e União Soviética, o autor leva-nos numa delirante viagem feita em 1973 que dura cerca de 4 meses e implica 30 comboios diferentes. A ideia aqui não é aterrar no destino, mas testar-se continuamente e autodescobrir-se numa aventura que lhe pode custar a vida e a sanidade.
Paul Theroux limita-se a narrar factualmente aquilo que presencia, dentro e fora do comboio, em especial os diálogos, em jeito de documentário, que estabelece com as pessoas com quem se cruza ou que vão irrompendo pelo seu compartimento: «Houve um drama perto de Niṧ. Numa estrada perto da linha, uma multidão batia-se para olhar para um cavalo, ainda com os seus arreios e preso a uma carroça sobrecarregada, que jazia morto, de lado, num charco de lama em que a carroça estava obviamente atolada. (…) crianças chamavam os amigos, um homem deixava cair a bicicleta e corria para trás para dar uma olhadela, e mais adiante um homem que urinava contra uma cerca esforçava-se por ver o cavalo. A cena estava composta como uma pintura flamenga em que o homem que urinava era um pormenor realista.» (p. 53)
Paul Theroux cede muito pouco à autocontemplação ou à recriação. Apenas nas páginas finais revela um pouco o que sente, conforme se aproxima o final da sua viagem, onde desvela aquilo que um viajante experiente já sabe: «Toda a viagem é circular. Eu tinha andado aos solavancos pela Ásia, fazendo uma parábola num dos hemisférios do planeta. Afinal, o grande circuito é apenas o modo de o homem inspirado se dirigir a casa.
E tinha aprendido aquilo em que sempre acreditara secretamente, que a diferença entre a escrita de viagens e a ficção é a diferença entre registar o que os olhos veem e descobrir o que a imaginação sabe.» (p. 379)
E assim terminará esta nossa viagem, num círculo fechado, em que se chega ao ponto de partida, como um livro que se fecha para depois voltar a ler, como uma viagem de comboio que se repete mas que será sempre nova apesar de já termos visitado aqueles apeadeiros e estações. Ver artigo
Se o leitor não atender ao título, pode surpreendê-lo que os 16 ensaios e discursos de Jonathan Franzen, reunidos neste volume, publicado no final do ano passado pela D. Quixote, se debrucem não sobre literatura ou escrita, mas essencialmente sobre o meio ambiente; detentor de uma voz pessimista, ou cruamente realista, de que as medidas que sejam tomadas simplesmente já não podem evitar o pior, pois mesmo que tudo se mude, como se defendia há mais de 20 anos, a ideia de que a aceitação universal dos factos e uma acção colectiva à escala mundial pode travar o pior é, afinal, uma ficção (p. 27). Note-se como Moçambique, no espaço de um mês, foi assolado primeiro pelo ciclone Idai (que eu vivi, aqui na Beira) e depois pelo Kenneth, provocando centenas de mortos e dezenas de milhares de desalojados, naquele que já é considerado o pior cenário de catástrofe ambiental do Hemisfério Sul. Ver artigo
Um retrato psicológico, negro, de como as pessoas vivem desencontradas na contemporaneidade e, mesmo com a família ou com quem estabelecem laços afectivos, a ponte que procuram estabelecer com aqueles que os rodeiam é insuficiente e imperfeita. Na relação entre professora e aluno, entre mãe e filho, entre colegas e amigos, entre marido e mulher, há sempre um fosso em que a pessoa está tão embrenhada nas suas próprias profundezas que quase não consegue tocar o outro, por vezes assombrada ainda pela infância, como é o caso de Hélène, e correndo o risco de projectar num aluno aquilo que sofreu na pele.
A narrativa reparte-se entre Hélène, a professora, Théo, o aluno, Mathis, o colega, e Cécile, a mãe de Mathis. Curiosamente, são apenas as mulheres, a professora e a mãe, que ganham voz no romance através do registo na primeira pessoa.
Perpassa neste romance, publicado pela Gradiva, uma forte noção da contemporaneidade, até porque, como se afirma, a certa altura, o tempo da inocência chegou ao fim (p. 93). Théo imagina-se um participante vencedor de um reality show, de modo a transformar o trabalho em divertimento; as fotografias funcionam como mistificações ilusórias; o marido de Cécile revela-se um perfeito estranho quando ela descobre o seu avatar nas redes sociais e num blogue pessoal, em que ataca e contesta «tudo e mais alguma coisa, sem nunca assumir o teor das suas afirmações» (p. 147), de forma anónima, ambivalente ou extremista, sem nunca se dar a conhecer. Um mundo solitário e negro, em que uma criança de doze anos e meio encontra na bebida a única forma de salvação: «Contrariamente à maioria dos alimentos, o álcool não é digerido. Passa directamente do aparelho digestivo para os vasos sanguíneos. (…) É no cérebro que os efeitos se fazem sentir mais depressa. A ansiedade e o medo diminuem, e às vezes chegam mesmo a desaparecer. Dão lugar a uma espécie de vertigem ou excitação que pode durar várias horas.» (p. 107)
Delphine de Vigan é escritora, realizadora e argumentista, com oito romances publicados em França, onde nasceu, e alguns adaptados ao cinema. É especialmente lida entre os mais jovens e detentora de prémios como o Prémio Elle, Fnac, Televisão Francesa, Goncourt e Renaudot. Ver artigo
Pesquisar:
Subscrição
Artigos recentes
Categorias
- Álbum fotográfico
- Álbum ilustrado
- Banda Desenhada
- Biografia
- Ciência
- Cinema
- Contos
- Crítica
- Desenvolvimento Pessoal
- Ensaio
- Espiritualidade
- Fantasia
- História
- Leitura
- Literatura de Viagens
- Literatura Estrangeira
- Literatura Infantil
- Literatura Juvenil
- Literatura Lusófona
- Literatura Portuguesa
- Música
- Não ficção
- Nobel
- Policial
- Pulitzer
- Queer
- Revista
- Romance histórico
- Sem categoria
- Séries
- Thriller
Arquivo
- Agosto 2025
- Julho 2025
- Junho 2025
- Abril 2025
- Março 2025
- Fevereiro 2025
- Janeiro 2025
- Dezembro 2024
- Novembro 2024
- Outubro 2024
- Setembro 2024
- Agosto 2024
- Julho 2024
- Junho 2024
- Maio 2024
- Abril 2024
- Março 2024
- Fevereiro 2024
- Janeiro 2024
- Dezembro 2023
- Novembro 2023
- Outubro 2023
- Setembro 2023
- Agosto 2023
- Julho 2023
- Junho 2023
- Maio 2023
- Abril 2023
- Março 2023
- Fevereiro 2023
- Janeiro 2023
- Dezembro 2022
- Novembro 2022
- Outubro 2022
- Setembro 2022
- Agosto 2022
- Julho 2022
- Junho 2022
- Maio 2022
- Abril 2022
- Março 2022
- Fevereiro 2022
- Janeiro 2022
- Dezembro 2021
- Novembro 2021
- Outubro 2021
- Setembro 2021
- Agosto 2021
- Julho 2021
- Junho 2021
- Maio 2021
- Abril 2021
- Março 2021
- Fevereiro 2021
- Janeiro 2021
- Dezembro 2020
- Novembro 2020
- Outubro 2020
- Setembro 2020
- Agosto 2020
- Julho 2020
- Junho 2020
- Maio 2020
- Abril 2020
- Março 2020
- Fevereiro 2020
- Janeiro 2020
- Dezembro 2019
- Novembro 2019
- Outubro 2019
- Setembro 2019
- Agosto 2019
- Julho 2019
- Junho 2019
- Maio 2019
- Abril 2019
- Março 2019
- Fevereiro 2019
- Janeiro 2019
- Dezembro 2018
- Novembro 2018
- Outubro 2018
- Setembro 2018
- Agosto 2018
- Julho 2018
- Junho 2018
- Maio 2018
- Abril 2018
- Março 2018
- Fevereiro 2018
- Janeiro 2018
- Dezembro 2017
- Novembro 2017
- Outubro 2017
- Setembro 2017
- Agosto 2017
- Julho 2017
- Junho 2017
- Maio 2017
- Abril 2017
- Março 2017
- Fevereiro 2017
- Janeiro 2017
- Dezembro 2016
- Novembro 2016
- Outubro 2016