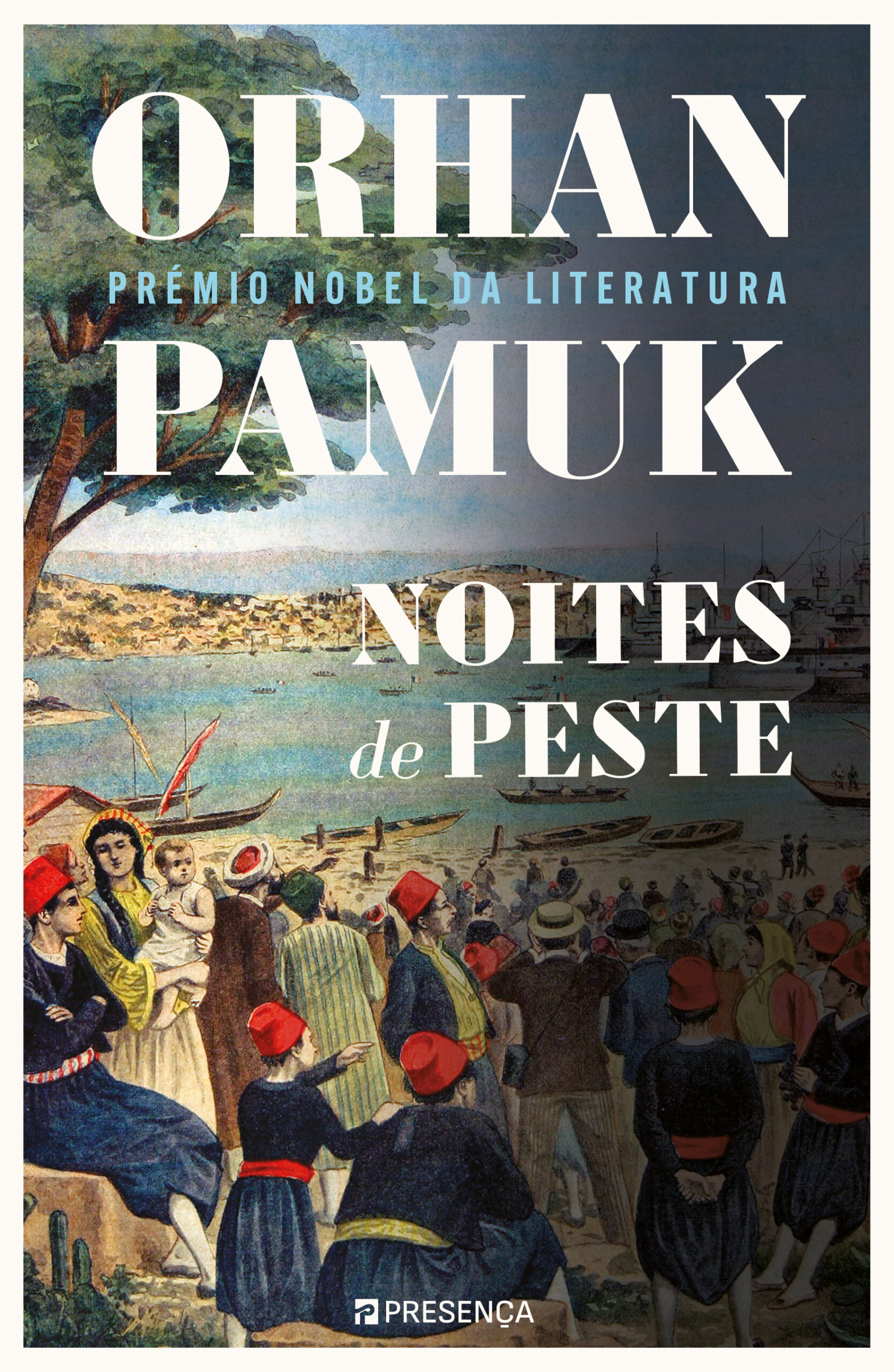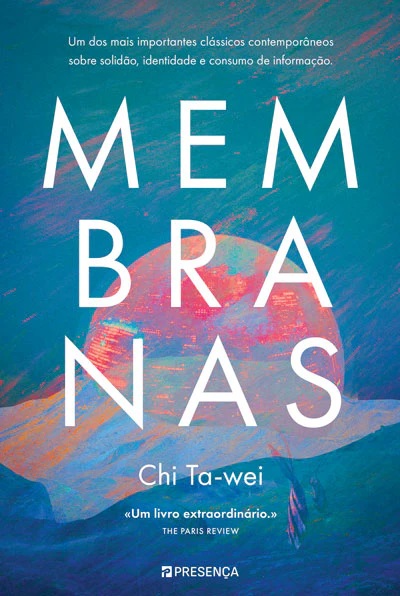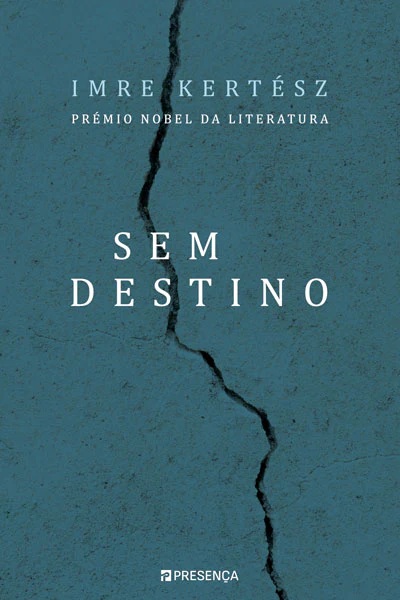Volto a Orhan Pamuk, um dos meus autores de eleição de longa data, cuja obra (narrativa e ensaística) tenho vindo a ler desde que começou a ser publicado entre nós, pela Editorial Presença, penso que ainda antes de ter sido laureado em 2006 com o Prémio Nobel da Literatura.
Noites de Peste é o seu mais recente romance, com tradução de Marta Mendonça. No mesmo dia em que o comecei, por coincidência, foi publicada, na Revista E, do Expresso, uma entrevista de Luciana Leiderfarb: “Estou vivo porque, às vezes, tive de ficar calado”.
A ação passa-se em 1901, quando começa a deflagrar um surto de peste, vindo da China. No cair da noite, com a discrição de um espião, o navio real Aziziye aproxima-se sorrateiramente da famosa ilha de Mingheria, «a Esmeralda de pedra rosa», o 29.º estado de um Império Otomano que se encontra em decadência.
A bordo do navio, segue um casal de recém-casados: a princesa Pakize, filha de um sultão deposto, e o seu recente marido e príncipe consorte doutor Nuri. Outro passageiro é Bonkowski Paxá, o químico real. Cada um deles terá uma missão distinta para cumprir, sendo que o principal é evitar ou mitigar a todo o custo a catástrofe eminente. Não só é quase certo que a maioria dos habitantes de Mingheria não sobreviverá às próximas semanas – principalmente quando teimam em não cumprir as regras de quarentena ou reconhecer que há de facto uma doença a deflagrar, além dos próprios rumores que alguns no poder tentam abafar -, como também é esperado que o povo da ilha seja manipulado, de modo a virar muçulmanos contra cristãos.
Quando o terceiro passageiro, Bonkowski Paxá, químico real, aparece subitamente morto, percebe-se que a peste não é o único assassino e que este romance histórico, exaustivo, que requer tempo (são 600 páginas de letra miudinha), começa a ganhar laivos de romance policial. Não faltam, também, as teorias da conspiração, como aqueles que acreditam que a doença foi trazida para a ilha deliberadamente, de modo a libertá-la do domínio otomano.
É forte a tentação de encarar este romance como uma fábula em torno da pandemia vivenciada em 2020, mas a verdade é que este projeto é anterior à epidemia de Covid-19. O autor chegou a escrever um artigo justamente para elucidar os seus leitores a esse propósito. Uma alegoria que ao tocar o confinamento, a doença, o distanciamento social, a quarentena, lança simultaneamente uma estranha nova luz sobre os eventos dos últimos anos, além de que o autor não se coíbe de tecer a sua própria crítica: “A quarentena é a arte de educar os cidadãos mesmo contra a sua vontade, e de lhes ensinar a técnica da autopreservação.” (p. 136)
Curiosamente, em diversas passagens, há também a recorrente contagem das pessoas que naquele dia morreram de pente – o que mais uma vez nos remete para estranhos tempos vividos mais recentemente.
A claustrofobia, em alguns momentos, é claramente enfatizada por se tratar de uma população que se vê presa numa pequena ilha, com os barcos de outras nações a cercá-la.
Uma obra que resulta de uma pesquisa feita durante décadas, e corresponde a um desejo do autor de reconstrução histórica – por isso são frequentes as suas alusões a fontes (ainda que imaginárias) – do que se viveu ao longo de cerca de 6 meses “agitados e decisivos” na ilha de Mingheria, pérola do Mediterrâneo Oriental.
A narração, normalmente omnisciente, é feita “cento e dezasseis anos mais tarde”, ainda que o narrador alegue que não quer “tentar «interpretar»” (p. 191). Talvez por isso, por querer evitar entrar nos meandros da ficção hipotética, há vários momentos em que o narrador (que se pretende historiador) alega que, para melhor compreender os factos narrados, tenha decidido “abordar a questão do ponto de vista de um romancista” (p. 285). Até porque a Pamuk, mais do que a História, escrita nos manuais (que tantas vezes refere), interessa sobretudo a história de como o pequeno e o grande se tocam, de qual pode ser afinal o papel individual no colectivo:
“Qual é o papel da “personalidade” na História? Para alguns, esta questão é imaterial. Veem a História como uma roda colossal muito mais do que qualquer indivíduo.” (p. 230)
Leia-se ainda, a este propósito, páginas depois, como este narrador, que é também ele um nós (melhor dizendo, esconde-se num plural anódino, para depois revelar a sua verdadeira identidade), afirma: “estamos a contar a história de um país muito pequeno em que as emoções e as decisões dos indivíduos podiam frequentemente alterar o curso da História.” (p. 245) A ironia é especialmente forte em alguns momentos, como quando se alega que o longo tempo (uns 10 minutos) que o xeque levou na casa de banho foi determinante alterando para sempre o rumo da história mingheriana.
Há ainda uma estranha nota premonitória neste romance, poderíamos nós pensar, se não fosse afinal uma informação que originalmente atestava já o desfecho ordinário para quem se atreve a conjecturar através da arte da ficção. Tendo Orhan Pamuk sido levado a tribunal por desrespeito ao Governo turco, alegadamente por ter tecido correspondências entre uma personagem e a figura de Kemal Atatürk, é curioso como em Noites de Peste se encontra, a propósito do amor mitológico de duas outras personagens, a seguinte passagem:
“Aqueles que têm manifestado as suas reservas quanto a esses mitos, que têm sugerido que possam ter sido fabricados, ou que simplesmente brincaram com a sua exageração, têm muitas vezes acabado na prisão.” (p. 545)
Tem sido esse, também, por vezes, um destino eminente para este romancista turco que é ora atacado ora vangloriado pelo seu país. Um romancista e “entusiasta de História” (p. 579) que é referenciado, mais do que uma vez, no final do romance, também por partilhar – com a voz que nos narra – um estranho gosto por museus.
Orhan Pamuk nasceu na Turquia, em 1952, e estudou Arquitetura antes de se licenciar em Jornalismo na Universidade de Istambul. Grande estudioso e leitor insaciável, escreve desde os 23 anos, uma atividade que o tornou universalmente conhecido e lhe valeu variadíssimos prémios e distinções. A obra de Pamuk é apreciada por milhares de leitores quer no Ocidente quer no seu país natal, onde os seus livros são sempre bestsellers, apesar das posições críticas manifestadas em relação à política da Turquia.