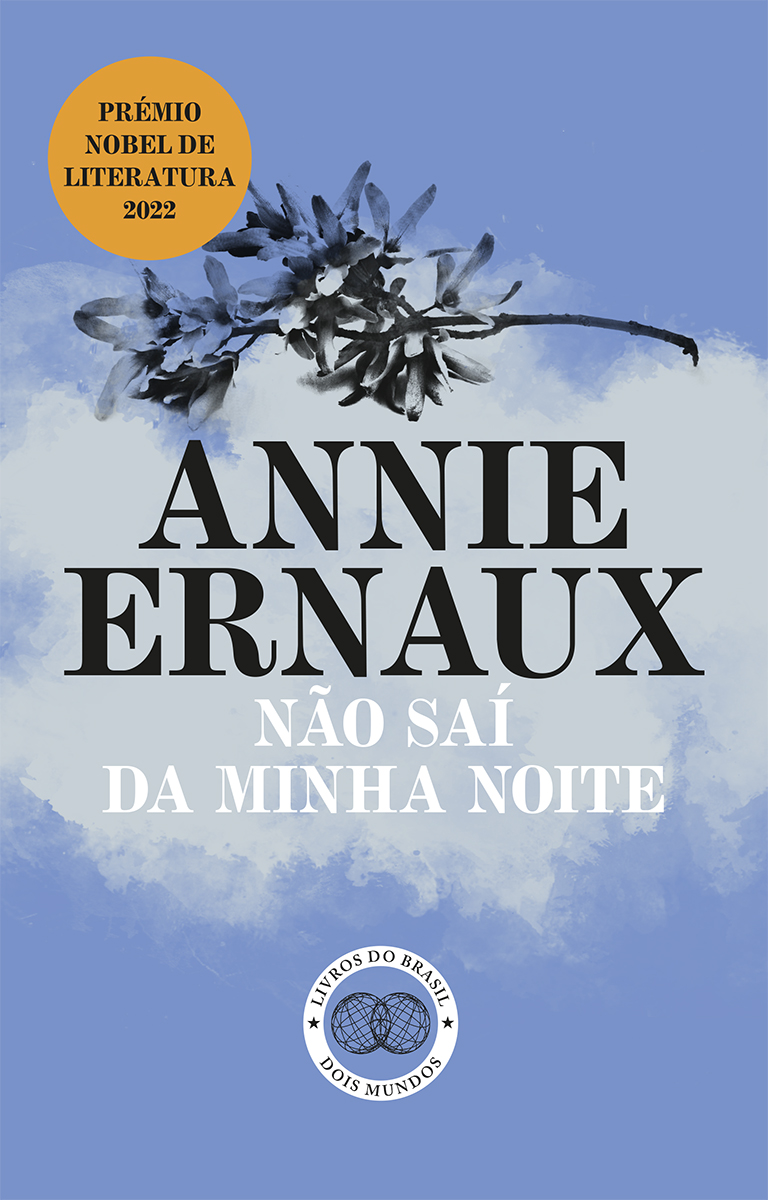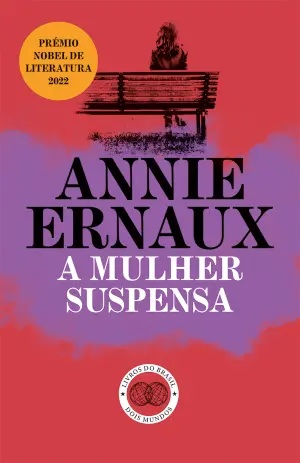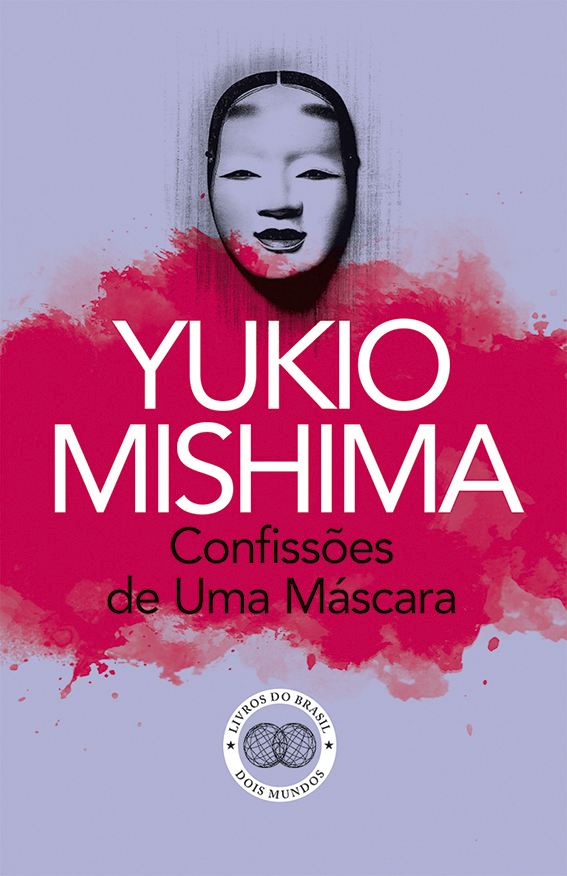Não Saí da Minha Noite é o oitavo título de Annie Ernaux a integrar o catálogo da Livros do Brasil.
Tal como Perder-se, o anterior livro, Não Saí da Minha Noite chega-nos com tradução de Tânia Ganho e trata-se também de um diário. Ainda como acontecia com o livro anterior, este diário relaciona-se com outro título da autora francesa. Não Saí da Minha Noite, um registo escrito do declínio mental e físico da mãe, doente de Alzheimer, está diretamente relacionado com o testemunho Uma Mulher.
Uma Mulher (já apresentado por aqui) iniciava-se com a morte da mãe, dois anos depois de ter sido internada num lar, com demência. Escrever sobre a mãe, revisitar a sua memória, tornava-se difícil, pois para a autora a mãe era apenas uma figura sólida sempre presente, forte, sempre ocupada, sem história pessoal.
“Parece-me agora que escrevo sobre a minha mãe para, por minha vez, a trazer ao mundo.” (p. 105)
A relação com a mãe, não é novidade para os leitores de Ernaux, era complexa e violenta. Oscilando entre os excessos de ternura ou o querer proporcionar tudo o que não teve, e a censura ou a violência, encarando a filha como uma inimiga de classe.
Em 1979, a mãe foi atropelada e embora parecesse estar a recuperar bem, inicia-se então um processo de decadência e doença prolongada, com perdas de memória e comportamentos estranhos.
Não Saí da Minha Noite é o relato cru, escrito de jorro, onde impera emoção e muita pouca racionalização, escrito a quente, sem releitura ou revisão.
“Quando escrevo estas coisas, escrevo-as o mais depressa possível (como se fosse errado) e sem pensar nas palavras que uso.” (p. 67)
Escreve-nos a autora, numa nota inicial, que mesmo ao publicar estas páginas decidiu apresentá-las “tal qual foram escritas: com o estupor e a perturbação que eu sentia na época” (p. 9).
Aqui encontram-se emoções em bruto, da estranheza ao choque, da frustração ao medo, inclusivamente a repugnância perante um ser que gradualmente perde o controlo das funções mais básicas do organismo. O registo dos dias chega-nos assim sem filtro, sem o habitual distanciamento de outros testemunhos de Annie Ernaux, em que a autora assume o desdobramento do eu que vivencia numa outra que recorda em diferido, com os riscos de recriação que tal implica.
Um diário que se estende por cerca de dois anos e meio de vida da autora, durante o tempo que a mãe se encontra num lar e testemunha a sua gradual ausência do mundo dos vivos, que se acusa num olhar “louco”, “inumano”, no esquecimento da filha que confunde com outra (chega a pensar que a filha é ela própria mais nova), no facto de não ser capaz de chamar, por mais de um ano, a própria filha pelo nome.
Na relação que se estabelece entre mãe e filha invertem-se os papéis, e passa a ser a filha a cuidadora. Curiosamente, o carinho que a filha revela para com a mãe materializa-se substancialmente na comida, pois é nos doces e nos bolos que a tenta mimar, levando-lhe constantemente pequenas guloseimas, como quem dá amor a provar.
Um relato tão breve quanto cru, e extremamente pessoal, que deixa no leitor uma marca indelével e toca as cordas das nossas próprias perdas, da nossa própria impotência perante o tempo.
“Para mim, ela é o tempo. E também me empurra para a morte.” (p. 56)
A escrita surge assim como grito, a tentar pôr ordem no caos, a impor a memória sobre o vazio do esquecimento.
Por fim, assistir à deterioração das condições físicas de um progenitor é também, afinal, antecipar a nossa própria ruína: “Entre a minha vida e a minha morte, só me resta ela, demente.”